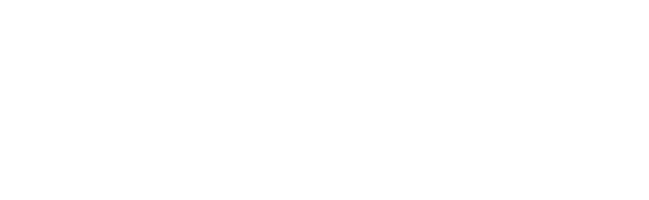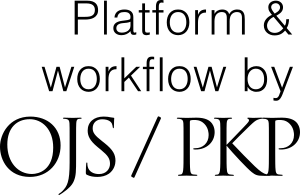O cálculo do benefício pensão por morte no Brasil, analisado sob a ótica do cônjuge, companheiro ou companheira que exerce o chamado “trabalho invisível”
The calculation of the death pension benefit in Brazil, analyzed from the perspective of the spouse, partner or partner who performs so-called “invisible work”
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.12
Recebido/Received 14/06/2024 – Aprovado/Approved 15/08/2024
Cristiane Miziara Mussi[1] – https://orcid.org/0000-0003-4769-6458
Resumo
O presente artigo objetiva analisar o cálculo do benefício pensão por morte no Brasil, conferido pela Emenda Constitucional 103/2019, sob a ótica do cônjuge, companheiro ou companheira que exerce o chamado “trabalho invisível”. A importância do tema é latente, já que as pessoas que desenvolvem atividade doméstica, em sentido amplo de cuidado familiar (reprodução social), não dispõem de reconhecimento econômico e social e necessitam de proteção previdenciária especial, como medida de justiça social. Como hipótese, observa-se que para se obter efetiva proteção social na concessão do benefício pensão por morte a esses dependentes, é preciso que o valor do benefício não sofra redutores trazidos pela EC 103/2019 no caso de óbito de seu instituidor. Neste contexto, a metodologia empregada foi a lógico-dedutiva, com base no procedimento de análise bibliográfica e legislativa, com o escopo de proporcionar visão geral e próxima da importância de proteção integral da pensão por morte aos dependentes na qualidade de cônjuge, companheiro ou companheira que desenvolvem o trabalho invisível ou de reprodução social, como será observado ao longo do estudo. Como principais resultados alcançados, tem-se a necessidade de reconhecimento da importância do desenvolvimento do trabalho invisível realizado pelo cônjuge, companheiro ou companheira pela previdência social, excepcionando a forma de cálculo da pensão por morte devida a estas pessoas, de forma a conceder o benefício no importe de 100% do valor da aposentadoria recebida pelo instituidor da pensão por morte ou da aposentadoria que lhe seria devida, caso fosse aposentado por incapacidade permanente.
Palavras-chave: pensão por morte; trabalho invisível; reprodução social; dependente.
Abstract
This article aims to analyze the calculation of the death pension benefit in Brazil, granted by Constitutional Amendment 103/2019, from the perspective of the spouse, partner or partner who performs so-called “invisible work”. The importance of the topic is latent, since people who carry out domestic activities, in the broad sense of family care (social reproduction), do not have economic and social recognition and need special social security protection, as a measure of social justice. As a hypothesis, it is observed that in order to obtain effective social protection in the granting of the death pension benefit to these dependents, it is necessary that the value of the benefit does not suffer reductions brought by EC 103/2019 in the case of the death of its creator. In this context, the methodology used was logical-deductive, based on the bibliographical and legislative analysis procedure, with the aim of providing a general and close view of the importance of full protection of the death pension for dependents as spouse, partner or partner. who carry out invisible work or social reproduction, as will be observed throughout the study. As the main results achieved, there is a need to recognize the importance of developing invisible work carried out by the spouse, partner or partner through social security, with the exception of the method of calculating the death pension owed to these people, in order to grant the benefit in the amount of 100% of the value of the retirement received by the person establishing the death pension or the retirement that would be due to him, if he were retired due to permanent disability.
Keywords: death pension; invisible work; social reproduction; dependent.
Sumário: 1. Introdução; 2. Proteção previdenciária e os denominados riscos sociais; 3. O benefício previdenciário pensão por morte; 3.1. Os dependentes para fins de pensão por morte; 3.2. O cálculo do benefício pensão por morte: da LOPS ao advento da Emenda Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019; 4. O “trabalho invisível” e a necessidade de acolhimento pela previdência social das pessoas que desenvolvem essa atividade; 4.1 Proteção previdenciária às pessoas que desenvolvem o chamado trabalho invisível; 4.2 – A pensão por morte pós EC 103/2019 devida ao cônjuge e companheiro que desenvolve trabalho invisível; 5. Considerações finais; 6. Referências.
1 Introdução
O objetivo geral do presente estudo circunscreve-se à análise do cálculo da pensão por morte ao cônjuge, companheiro ou companheira que desenvolve o chamado trabalho invisível, após o advento da Emenda Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019 e suas distorções no contexto de benefício substituidor da renda de seu instituidor.
Ao se adentrar no conceito de pensão por morte e da sua importância na conjuntura familiar, depara-se com a insegurança trazida aos dependentes do instituidor do benefício pensão por morte, especialmente ao/a dependente que ajudou ao longo da vida na manutenção e construção social familiar desenvolvendo o trabalho de cuidado das atividades domésticas, sem remuneração e, consequentemente, sem amparo obrigatório por parte da previdência social.
Nesse ínterim, com a alteração trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019 no cálculo da pensão por morte e na composição do valor entre cota familiar e individual de seus dependentes, deixou à mercê da proteção necessária os dependentes que, na qualidade de cônjuge, companheira ou companheiro, dedicaram-se exclusivamente ao cuidado familiar, sem remuneração. Trata-se de dependentes que embora sem renda própria, participaram na sua plenitude da fruição da renda familiar auferida pelo segurado ou segurada do Regime Geral de Previdência Social.
Enquanto os segurados desenvolvem atividade remunerada e, consequentemente, possuem proteção previdenciária para as situações de risco social, os dependentes na qualidade de cônjuge, companheiro ou companheira que realizam a atividade doméstica e de todo cuidado no entorno familiar, ficam desamparados da proteção previdenciária, salvo se contribuintes da mesma na qualidade de segurados facultativos.
Certo é que dependentes que exercem esse trabalho denominado de “invisível” e de extrema importância no contexto familiar, pelo pouco reconhecimento social e econômico acabam muitas vezes por dependerem exclusivamente do segurado ou segurada da previdência social, situação que se agrava quando a pensão por morte por si auferida sofre reduções, quando da morte de seu instituidor.
Sendo assim, ao reduzir o valor da pensão por morte – seja em sua base de cálculo, seja no percentual devido – esqueceu-se o constituinte da proteção às pessoas que trabalharam ao longo da vida para o bem-estar familiar, ao desenvolverem exclusivamente o trabalho conhecido como invisível, por não ser remunerado e por obter pouco reconhecimento por parte da população.
A exceção no que diz respeito ao cálculo do valor da pensão por morte no importe de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou que deveria receber caso estivesse aposentado por incapacidade permanente, está adstrita aos dependentes inválidos ou com deficiência intelectual, mental ou grave, ficando sem o mesmo resguardo cônjuge, companheiro ou companheira cuja única fonte de renda advinha da pessoa instituidora do benefício pensão por morte.
Daí a problemática enfrentada no presente estudo, eis que tendo a previdência social por escopo a proteção social dos segurados e seguradas e de seus dependentes, de forma a garantir-lhes a proteção aos riscos sociais discriminados no artigo 201 e que tem dentre seus pressupostos a proteção familiar, como não proteger com o valor de 100% do salário-de-benefício a título de pensão por morte cônjuge, companheiro ou companheira que desenvolve o alcunhado trabalho invisível?
Manteve a EC 103/2019 a estes dependentes apenas o direito a 100% do salário-de-benefício da previdência social, quando este valor for no importe do salário-mínimo vigente, que é notoriamente conhecido pela insuficiência diante do cenário econômico brasileiro[2], desamparando o dependente cônjuge, companheiro ou companheira, cuja renda familiar – com média superior ao salário-mínimo – era composta exclusivamente pela renda do instituidor da pensão, com a redução sensível deste montante, pela nova forma de cálculo da pensão por morte adotada.
Neste contexto, a metodologia empregada foi a lógico-dedutiva, com base no procedimento de análise bibliográfica e legislativa, com o escopo de proporcionar visão geral e próxima da importância de proteção integral da pensão por morte aos dependentes na qualidade de cônjuge, companheiro ou companheira que desenvolvem o trabalho invisível ou de reprodução social, como será observado ao longo do estudo.
Importa destacar que a renda familiar é composta por gastos fixos e variáveis e que muitas vezes o valor do benefício pensão por morte, sequer cobrirá os gastos fixos. Como hipótese apresentada, observa-se que a proteção social efetiva aos dependentes que na qualidade de cônjuge, companheiro ou companheira desenvolvem o chamado trabalho invisível só poderá ser alcançada se o valor da pensão por morte não sofrer redutores em caso de óbito de seu instituidor. Esse trabalho deve dispor de reconhecimento econômico e social por parte do Estado.
Neste cenário, evidente a importância do tema deste estudo, vez que ao se modificar os critérios de cálculo da pensão por morte por meio da Emenda Constitucional 103 de 2019, feriu-se uma das regras básicas da previdência social, que é de amparar a família em situação do risco morte, com o intuito de proteger a situação de risco social, especialmente no que tange ao cônjuge, companheiro ou companheira, que atuam nos cuidados domésticos em sentido amplo.
2 Proteção previdenciária e os denominados riscos sociais
Desde a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88) de 5 de outubro de 1988, vive-se no Brasil o chamado período de seguridade social, composto pela tríade saúde, previdência e assistência social. Dentre eles, como objeto desse estudo, tem-se a espécie de seguridade social, conhecida como previdência social.
A previdência social traz a ideia de prevenção frente às necessidades sociais. Ao se falar em previdência social, destaca-se a indispensabilidade de proteção mediante contribuição prévia, com o fim de amparar situações futuras nas quais as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento econômico da sociedade, agora possam ser amparadas socialmente, vez que em situação de necessidade.
Por seguro social, entende-se aquele no qual o Estado chama para si a responsabilidade de cuidar de eventuais infortúnios que acometem a sociedade, causando situação de necessidade, com impacto social evidente.
A previdência social brasileira, estruturada como seguro social, visa a proteção dos denominados riscos sociais. Ao conceituar risco social, observa-se o caráter futuridade, pois reporta-se a evento futuro, possível, mas não ocorrido. A concretização dessa possibilidade futura, deve ser respaldada pelo Estado, sob pena de externalizar o risco ao âmbito social.
Assim, ao deixar de conferir proteção social aos riscos sociais, o Estado assume para si riscos previsíveis e imprevisíveis, com repercussão social negativa, causando situações de necessidade à pessoa, de forma a transcender a esfera individual, atingindo toda a sociedade. No passado, especialmente durante a Revolução Industrial, ocorrida no século XVII, o Estado identificou essas situações como questões sociais que mereciam cuidado, visto que os trabalhadores passaram a exigir proteção social estatal face a possíveis infortúnios.
A questão social, de forma simplificada, pode ser conceituada como situação de desigualdade social no plano concreto, ocasionada especialmente pela desvalorização do trabalho e da falta de proteção às contingências sociais afetas aos trabalhadores.
Em compasso com essa assertiva, o art. 201 da CRFB/88 dispõe que “a previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial [...]”.
O artigo 201 da Constituição Federal de 1988 traz os riscos aos quais o seguro social deve proteger. Riscos como idade avançada, morte, reclusão, incapacidade laborativa, maternidade, que ocasionam ou podem ocasionar[3] o afastamento dos trabalhadores de suas atividades laborais, necessitando da proteção estatal. Sem essa proteção, o trabalhador ficaria sem renda para o sustento básico próprio e de sua família. Seria, indubitavelmente, um grande problema social.
Nessa conjuntura, a prontidão pela igualdade no plano concreto leva o Estado a selecionar os riscos sociais que merecem proteção e a distribuir conforme a necessidade de cada qual (princípio da seletividade e da distributividade das prestações, inserto no inciso III do parágrafo único do artigo 194 da CRFB/88), intentando concretizar a tão esperada igualdade no plano ideal da seguridade social, por meio da universalidade da cobertura e do atendimento (inciso I do parágrafo único do artigo 194 da CRFB/88).
Em relação a estes riscos, o legislador constitucional, adotou o princípio da seletividade, e por conta de razões de ordem econômica acabou delimitando o rol de prestações mínimas a serem asseguradas, fazendo constar, o que no seu entendimento era indispensável naquele momento (1988) à proteção da dignidade da pessoa humana[4].
Sob tal prospectiva, a morte é um dos riscos sociais selecionados de proteção previdenciária mais importantes, por proteger os dependentes do segurado ou da segurada da previdência social que veio a óbito, deixando a família carente de recursos para a sobrevivência digna, o que é idealizado por meio da concessão do benefício pensão por morte. Saliente-se, no entanto, que ao contrário dos demais riscos sociais considerados futuros e incertos, recai sobre o risco morte futuridade e certeza do evento.
3 O benefício previdenciário pensão por morte
O benefício previdenciário pensão por morte intenta garantir aos dependentes do segurado ou da segurada, condições para sobrevivência digna após o óbito de seu instituidor.
A regulamentação do referido benefício está contida nos artigos 74 a 79 da Lei 8.213/91, bem como nos arts. 105 a 115 do Decreto 3.048/99. Visa garantir bem-estar e justiça sociais nos moldes do artigo 193, caput, da Constituição Federal de 1988.
Refere-se a benefício mensal, não programado, devido em razão de morte, ausência ou desaparecimento do segurado. O direito ao benefício só nasce com o óbito do segurado ou segurada da previdência social, exigindo, portanto, esta qualidade de segurado(a) da previdência social no momento do óbito ou que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria espontânea. Nesse viés, o óbito deve ocorrer em momento no qual a pessoa detinha a qualidade de segurado, seja pelas contribuições realizadas à previdência social de forma efetiva ou presumida[5], ou por estarem no período denominado “de graça”[6], ou, ainda, por já terem implementado os requisitos para a aposentadoria, ainda que não tenha ocorrido o requerimento para a mesma[7].
Conforme já se assinalou no tópico anterior, a morte pode ser assinalada como o único risco social previdenciário considerado futuro e certo, contrapondo-se aos demais riscos tutelados pela previdência social, considerados futuros e incertos.
A pensão por morte é, desta forma, benefício dirigido aos chamados dependentes previdenciários, que são as pessoas arroladas pelo artigo 16 da Lei 8.213/91, conforme se verá no item a seguir, que perderam ente familiar e que, de forma presumida ou comprovada, dependiam economicamente do mesmo.
3.1 Os Dependentes para Fins de Pensão por Morte
O art. 11, inciso I, da Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS de 1960 (Lei 3807, de 26 de agosto de 1960, com a redação conferida pela Lei nº 5.890, de 1973) previa apenas a proteção da esposa como dependente (do marido apenas se inválido): I – a esposa, o marido inválido, a companheira, mantida há mais de 5 (cinco) anos, os filhos de qualquer condição menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos, e as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas.
Percebe-se, da análise da LOPS, que a legislação previdenciária seguia o entendimento existente à época, da mulher como sexo frágil, necessitando de amparo maior por parte do Estado, mormente na situação em que a mesma se mantivesse solteira, sem a figura masculina que a protegesse.
De acordo com Balera e Mussi (2023):
O Decreto 89.312/1984 expediu nova edição da Consolidação das Leis da Previdência Social e estabeleceu que teriam direito a pensão por morte do segurado as pessoas elencadas nos incisos do art. 10 do referido diploma:
Art. 10 [...]
I – a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 5 (cinco) anos, o filho de qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos ou inválido e a filha solteira de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválida;
II – a pessoa designada, que, se do sexo masculino, só pode ser menor de 18 (dezoito) anos ou maior de 60 (sessenta) anos, ou inválida;
III – o pai inválido e a mãe;
IV – o irmão de qualquer condição menor de 18 (dezoito) anos ou inválido e a irmã solteira de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválida[8].
A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 garantiu a igualdade entre homens e mulheres e, seguindo esta determinação, a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, desde a sua redação original, previu a proteção de forma igualitária entre ambos no que diz respeito ao benefício pensão por morte, trazendo a princípio como beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II – os pais; III – o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; IV – a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida (art. 16, redação original da Lei 8.213/91).
Desde a lei 9.032/1995 não se tem a quarta classe de dependentes para fins previdenciários. Esta quarta classe era destinada às pessoas designadas pelos segurados e seguradas da previdência social que, não possuindo dependentes em nenhuma das classes antecedentes (primeira, segunda ou terceira classe), poderiam designar uma pessoa como sua dependente, desde que fosse menor de 21 anos ou maior de 60 anos ou inválida.
O artigo 16 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, passou por alterações legislativas realizadas pela Lei 9.032, de 1995, pela Lei nº 12.470, de 2011, pela Lei nº 13.135, de 2015 e pela Lei nº 13.146, de 2015 e hodiernamente classifica os dependentes para fins previdenciários de forma taxativa, em apenas três classes, mantendo a hierarquia entre elas.
Na primeira classe de dependentes, chamados de presumidos, elencou-se cônjuge, companheiro, companheira, filho de qualquer condição, não emancipado, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência mental, intelectual ou grave. Nessa classe de dependentes, tem-se a presunção absoluta de dependência econômica, restando a estes dependentes apenas a comprovação da sua situação de cônjuge, companheiro, companheira e filho menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência mental, intelectual ou grave, nos termos da Lei 8.213/1991.
Dentre a hierarquia classificatória destes dependentes, na segunda classe encontram-se os pais, que além de terem que comprovar a dependência econômica em relação ao instituidor do benefício, só farão jus à pensão por morte, caso não exista dependente da primeira classe no momento do óbito do instituidor ou da instituidora do benefício em análise.
A terceira e última classe é destinada ao irmão, não emancipado, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência mental, intelectual ou grave. Esta classe apenas poderá requerer a proteção previdenciária na qualidade de dependente, na hipótese de não existirem dependentes na primeira ou segunda classes, conforme preconiza o artigo 16, da Lei 8.213/91.
Não havendo nenhum dependente arrolado no art. 16 da Lei 8.213/91, o evento morte do segurado ou da segurada da previdência social, não gera nenhum benefício no âmbito do Regime Geral de Previdência Social brasileiro.
Tratando especificamente de cônjuge, companheiro e companheira – objeto deste estudo – observa-se que o próprio legislador reconheceu e cuidou de ampará-los na situação de dependentes da pessoa instituidora do benefício previdenciário, com dependência econômica presumida, em igualdade de condições, sem ter em conta questões de gênero e da forma de constituição desta união. Tal escolha se deu pelo entendimento de que o relacionamento formado a partir do casamento ou da união estável é de extrema importância para a constituição da renda familiar e do apoio mútuo e constante que tais relacionamentos exigem para que se mantenham ao longo da sua existência.
Ocorre que as mudanças transcorridas em relação ao benefício pensão por morte a partir da Lei 13.135 de 17 de junho de 2015 e especialmente com a Emenda Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019, culminaram em acarretar insegurança jurídica ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente, a partir da imposição de tempo para a duração do casamento ou união, número de contribuições mínimas para que o benefício seja concedido por prazo superior a quatro meses[9] e estabelecendo duração do benefício conforme a idade da pessoa sobrevivente[10] (Lei 13.135 de 2015), bem como ao alterar drasticamente o cálculo da pensão por morte, modificando desde o percentual auferido, tendo impacto também na base de cálculo e nas regras de acumulação da aposentadoria com pensão por morte (Emenda Constitucional 103 de 2019).
A fim de se restringir a pesquisa ao objeto que se propõe, cabe analisar a situação do benefício pensão por morte destinado ao cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente que não desenvolve atividade laborativa remunerada, mas a atividade doméstica, conhecido como trabalho invisível, mas que em termos amplos, chega-se à denominação de atividade de reprodução social.
3.2 O Cálculo do Benefício Pensão por Morte: da Lops ao Advento da Emenda Constitucional 103 de 12 de Novembro de 2019
Até a publicação da Emenda Constitucional 103 de 2019, a pensão por morte era tida como um dos benefícios previdenciários mais inclusivos e reparadores do infortúnio gerador do mesmo.
Sua proteção veio numa crescente, ao menos no que diz respeito ao valor quantitativo do benefício previdenciário. Se observada a Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS, de 26 de agosto de 1960 até a Medida Provisória 664/2014, convertida na Lei 13.335 de 2015, nota-se expansão e melhoria do benefício, ainda que com algumas restrições, de forma a proteger efetivamente os dependentes dos segurados da previdência social.
O artigo 37 da LOPS dispunha que a pensão por morte seria constituída por uma parcela familiar, no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado percebia ou daquela a que teria direito se na data do seu falecimento fosse aposentado, acrescidas de mais 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos fossem os dependentes do segurado, até o máximo de 5 (cinco).
A Lei 8.213 de 24 de julho de 1991, ampliou o valor da pensão por morte, passando a dispor em sua redação original:
Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será:
a) constituído de uma parcela, relativa à família, de 80% (oitenta por cento) do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% (dez por cento) do valor da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de 2 (duas).
b) 100% (cem por cento) do salário-de-benefício ou do salário-de-contribuição vigente no dia do acidente, o que for mais vantajoso, caso o falecimento seja conseqüência (sic) de acidente do trabalho.
Na sequência, a Lei 9.032 de 28 de abril de 1995 fez nova modificação ampliativa, ao modificar a redação do artigo 75 da Lei 8.213/1991, a fim de considerar que “o valor mensal da pensão por morte, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta lei”.
Assim, configurada a expansão do benefício, de forma a proteger os dependentes do instituidor da pensão por morte, como medida efetiva de proteção social:
Pode-se dizer que a Lei 8.213/91, nos primeiros vinte e quatro anos de vigência e dentro do contexto protetivo que se esperava, cumpriu seu papel brilhantemente no que diz respeito ao benefício pensão por morte em análise, partindo numa redação original de um benefício no valor de 80%, acrescido de 10% por cento para cada dependente , para chegar em 1995, por meio da Lei 9.032, à alíquota de 100% do salário-de-benefício, devida aos dependentes, independentemente do número de beneficiários, até o limite de 100%, estabelecendo o caráter nitidamente substitutivo da renda no que diz respeito ao benefício pensão por morte[11].
Como se observa, a partir da Lei 9.032 de 1995, o fato gerador morte (comprovada ou presumida) do segurado ou segurada da previdência social, passou a gerar o direito ao benefício pago aos seus dependentes de forma integral, correspondendo a 100% do valor da aposentadoria do segurado, caso já estivesse aposentado, ou da aposentadoria por invalidez (que também era calculada na base de 100% do salário-de-benefício), hipótese utilizada para a situação do segurado não estar aposentado e nem ter direito adquirido à aposentadoria na data do óbito.
Observe-se que na redação original da Medida Provisória 664 de 30 de dezembro de 2014, vinha estabelecida a pensão por morte no percentual de 50%, mais 10% para cada dependente do segurado, até o limite máximo de 100% do salário-de-benefício. Em resposta à essa tentativa de redução do valor da pensão por morte que levantava a bandeira de desnecessidade de manutenção do valor de 100%, já que o segurado havia falecido e seria “menos uma boca para comer”, o Congresso Nacional rejeitou essa alteração, representando à época uma derrota ao Governo Dilma[12].
Como requisitos para a concessão do benefício pelo seguro social, bastaria a qualidade de segurado ou segurada do instituidor da pensão no momento do óbito e que o mesmo tivesse deixado dependentes conforme artigo 16 da Lei 8.213/91.
Nessa trajetória evolutiva, sobressaiu-se o entendimento – até a Emenda Constitucional 103 de 2019 – do benefício pensão por morte como substitutivo da renda do trabalhador, não só no intuito de garantir-se o salário-mínimo vigente no País, mas para que fosse possível aos dependentes manterem a renda familiar a mais próxima daquela recebida em vida pelo instituidor do benefício, no respeito ao binômio piso mínimo e teto máximo.
Fato é que em virtude do óbito, é retirada da família parte da renda ou a única fonte de renda, para a manutenção das necessidades da família.
Com a Emenda Constitucional 103 de 2019, a alíquota e a forma de cálculo da pensão por morte, foram drasticamente modificadas. Muito embora ainda seja possível acumular pensão por morte com aposentadoria, nota-se que as novas regras apenas não prejudicam os beneficiários de pensão por morte e aposentadoria no importe de um salário-mínimo. Se ambos os benefícios (aposentadoria e pensão por morte) ultrapassam o piso mínimo estipulado para benefícios previdenciários, qual seja, o salário-mínimo, passam por faixas estipuladas à base do salário-mínimo, que reduzem drasticamente o menor benefício, mantendo-se na íntegra o que for maior[13].
Para além disso, as cotas individuais dos dependentes deixaram de ser reversíveis aos demais, quando da perda da qualidade de dependente, como se depreende da análise do artigo 23, da Emenda Constitucional 103, de 2019:
Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).
§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).
[...]
Afora reduzir o percentual da pensão por morte de 100% para 50% de cota familiar, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente (cota individual), até o máximo de 100%, tem-se que a alíquota será aplicada sobre a base de cálculo da aposentadoria, caso a pessoa fosse aposentada ou, caso não aposentada na data do óbito, incidirá sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que também sofreu mudança no cálculo drasticamente e desfavoravelmente para o segurado com a Emenda Constitucional 103 de 2019.
Quanto ao cálculo do benefício aposentadoria por incapacidade permanente, que até a EC 103/2019 era de 100% do salário-de-benefício, o artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019 estabeleceu no caput que será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. E, no § 2º do referido artigo, dispõe que “o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição [...]”.
Nesse novo cálculo para o benefício por incapacidade permanente, o segurado homem apenas atingirá 100% do salário-de-benefício caso contribua por 40 (quarenta) anos e, a mulher, após 35 (trinta e cinco) anos. Exceção que se faz diz respeito à aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, quando a mesma será de 100% do salário-de-benefício, de conformidade com o § 3º do artigo 26 da Lei 8.213/1991.
Em síntese, o cálculo da pensão por morte sofreu com a EC 103 de 2019 ao menos dois grandes impactos: a alíquota reduzida (50% de cota familiar, mais 10% de cota individual para cada dependente) e aplicada sobre uma média simples, sem descartes de 20% dos menores salários-de-contribuição, como era possível até então. Além disso, a aplicação sobre o valor do benefício aposentadoria por incapacidade permanente, impacta no cálculo da pensão por morte quando a pessoa que veio a óbito não era aposentada e nem havia implementado os requisitos para aposentadoria, vez que nesta hipótese o valor do benefício por incapacidade parte de 60% do salário-de-benefício para a mulher que tenha contribuído por até 15 anos e o homem, por até 20 anos. Tendo um único dependente e tendo o segurado instituidor do benefício contribuído por 10 anos para a previdência social, pode-se ter o valor da pensão por morte de 60%, aplicado sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, que nesse caso seria de 60% do salário-de-benefício sobre uma média simples, o que retira do cônjuge, companheiro ou companheira que exercem o trabalho invisível, grande parte da renda familiar.
4 O “trabalho invisível” e a necessidade de acolhimento pela previdência social das pessoas que desenvolvem essa atividade
A legislação previdenciária brasileira, originalmente, como já se demonstrou neste estudo, externalizava sua preocupação com a mulher, especialmente a solteira, por meio de dispositivos legais direcionados a esta proteção. Entendia-se o homem como provedor da família, sendo o responsável pela manutenção econômica do lar, delegando às mulheres o cuidado com a casa, os filhos, ou seja, com o bem-estar familiar trazido por meio do cuidado.
Por trabalho invisível pode-se denominar aquele que é desenvolvido no âmbito familiar, em maior proporção por mulheres e sem remuneração. Em sentido estrito, refere-se ao trabalho doméstico, como lavar, preparar refeições, passar roupa e limpar a casa, tendo este trabalho um reconhecimento ínfimo, tanto socialmente como economicamente.
De forma mais ampla, esta atividade não se restringe especificamente ao trabalho de limpeza e manutenção da casa, mas também o de cuidado com todos os integrantes da casa, provendo seu bem-estar que vai desde o cuidado com as crianças, com ajuda nos deveres e objetos escolares, estendendo esse cuidado a todos os membros da família, fornecendo orientações de higiene, guarda e uso adequado de medicamentos (conforme prescrição médica), participação de reuniões escolares, alimentação adequada, entre outros.
Este tipo de trabalho veio configurado a partir de uma hierarquia estabelecida socialmente, entre homens e mulheres, nos quais o homem era o provedor exclusivo da família e a mulher, a responsável pelo cuidado, realização e organização das atividades domésticas:
O trabalho doméstico e de cuidados não remunerado pode ser entendido como uma forma de produção de bens e serviços para os membros da família. Mas ele pode, também, significar mais que isso, ao sinalizar para as famílias e para a sociedade de forma geral a existência de relações hierárquicas que se estabelecem nos domicílios[14].
Mesmo a mulher ingressando no mercado de trabalho, ela ainda responde nos dias pela maior parte das atividades consideradas invisíveis, como regra:
[...] o termo trabalho doméstico passou a referir-se não só ao trabalho diário e não-remunerado de execução das tarefas domésticas, como às tarefas de cuidado relacionadas à gestação, parto, amamentação, criação das crianças e manutenção dos idosos e doentes no espaço privado do lar, desempenhado especialmente por esposas, mães e irmãs[15].
Nesse viés, os estudos acerca do gênero e do trabalho invisível apontam que as mulheres dedicam mais horas a este tipo de trabalho do que os homens, especialmente quando se tem filhos pequenos.
A paternidade e a maternidade, por sua vez, têm pesos diferentes como determinantes do trabalho não pago, embora, tanto para homens quanto para mulheres, a existência de filhos prolongue as jornadas reprodutivas, que tendem a se reduzir à medida que a idade dos filhos aumenta. Crianças pequenas aumentam o tempo gasto nas atividades não remuneradas de cuidado para toda a família, mas o impacto sobre as mulheres é duas vezes maior do que sobre os homens. Cada criança de até 3 anos de idade, por exemplo, amplia o tempo em cuidados não pago dos homens em 2,5 horas por semana; enquanto para as mulheres, essa ampliação é de 5 horas[16].
Algumas mulheres possuem dificuldade de entrarem no mercado de trabalho ou de se manterem no mercado, a depender do número de filhos, do grau de escolaridade, da idade com a qual se casou e/ou teve filhos.
No que diz respeito ao trabalho, no Brasil, mulheres, em geral, ainda se dedicam muito mais a afazeres domésticos e a trabalhos maternos do que homens, o que faz com que eles ocupem postos laborais mais valorizados e mais bem pagos, e elas fiquem em situac¸a~o de dependência financeira deles. Mesmo em trabalhos remunerados, muitas mulheres sa~o levadas a ocupar cargos análogos ao trabalho doméstico. Quanto à política, mulheres continuam sub-representadas. Isso ocorre em parte porque entende-se que as mulheres são inaptas para ocuparem cargos pu´blicos ou então porque não são dadas oportunidades para elas. Ao serem excluídas desse meio, as mulheres perdem a chance de dar e^nfase a pautas necessárias para melhorar questões relevantes à desigualdade de ge^nero. Esses são apenas exemplos[17].
Ainda que invisível, o trabalho acaba sendo essencial no âmbito familiar, demonstrando cuidado, carinho e amor por quem o desenvolve e permite que os membros da família possam realizar suas atividades remuneradas de forma mais tranquila e prazerosa. Fato é que tais atividades são necessárias no âmbito familiar e ajudam a compor o patrimônio da família, conquanto de pouco reconhecimento econômico e social.
A respeito, Rodrigo da Cunha Pereira, destaca que:
A concepção de colaboração no âmbito familiar deve ser expandida para além das contribuições monetárias, reconhecendo o labor doméstico e de assistência como elementos essenciais para a sustentabilidade e o bem-estar da família. As leis e práticas judiciais que negligenciam tais contribuições perpetuam desigualdades de gênero e falham em representar a realidade das estruturas familiares contemporâneas[18].
A partir de debates feministas-socialistas, hodiernamente estuda-se o trabalho invisível como trabalho de reprodução social, referindo-se ao trabalho de reprodução da vida em seu sentido amplo. Por reprodução social, engloba-se desde a gestação, passando pelo trabalho doméstico e das diversas tarefas de cuidado envolvidas nesta perspectiva.
A perspectiva unitária da reprodução social é fruto de um acúmulo histórico de debates feministas-socialistas, sobretudo aqueles que se concentraram no que ficou conhecido como “Debate sobre o trabalho doméstico” da década de 1970 (Domestic labour debate, a partir daqui “Debate”)[19].
Equivoca-se, assim, quem afirma que a pessoa que desenvolve o trabalho no âmbito residencial, sem remuneração, não contribui para os rendimentos da família, que trabalham como uma equipe, na soma de esforços conjuntos.
Com o intuito de proteção às pessoas que desenvolvem o trabalho invisível ou de reprodução social, cabe à previdência social estabelecer parâmetros diferenciados na concessão de benefícios previdenciários, como forma de garantia da justiça social.
4.1 Proteção Previdenciária às Pessoas que Desenvolvem o Chamado Trabalho Invisível
Para as pessoas denominadas no Brasil de donas-de-casa, ou seja, aquelas que desenvolvem atividade de reprodução social, cuidando da casa, da família, sem remuneração, a legislação previdenciária conferiu tratamento como seguradas facultativas, podendo efetuar contribuição nessa modalidade a partir dos 16 (dezesseis) anos de idade.
Por segurado facultativo, entende-se aquela pessoa que não exerce atividade remunerada, mas que deseja contribuir com a previdência social, contrapondo-se ao segurado obrigatório, assim considerada a pessoa que desenvolve atividade remunerada, não lhe cabendo a escolha entre verter ou não contribuições sociais destinadas à previdência social, vez que sua filiação é obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social, por força da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991.
A legislação brasileira passou por avanço importantíssimo com a Emenda Constitucional 47 de 2005, ao modificar o texto do § 12 e efetuar a inclusão do § 13 ao artigo 201 da Constituição Federal de 1988. Com isso, passou-se a se impor a criação de sistema especial de inclusão previdenciária, a fim de amparar os trabalhadores sem renda própria, que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito da sua residência. A ideia inicial, prevista no § 13 do artigo 201 da Constituição Federal de 1988 – por meio da EC 47/2005 – era a de conferir alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social.
Desta forma, a fim de garantir o preconizado nos §§ 12 e 13 do artigo 201 da Constituição da República Federativa do Brasil a partir da EC 47 de 2005, foi publicada a Lei 12.470, de Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011, que modificou a redação do artigo 21, § 2º, inciso II, incluindo a alínea “b” na Lei 8.212/1991, para assim dispor:
Art. 21, Lei 8.212/91
[...] § 2.º No caso de opção pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a alíquota de contribuição incidente sobre o limite mínimo mensal do salário de contribuição será de: (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
II – 5% (cinco por cento): (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)
A Lei n. 12.470, de 31 de agosto de 2011, ao alterar a redação do art. 21 da Lei 8.212 de 24 de julho de 2021, para estabelecer em seu § 2º, inciso II, b, garantiu a possibilidade de contribuição sobre uma alíquota de contribuição para a previdência social menor (5%) para o segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda.
Esclarece o § 4.º deste mesmo artigo que se considera de baixa renda, para essa finalidade, a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico cuja renda mensal seja de até 2 (dois) salários-mínimos.
No entanto, ao trazer a inclusão dessa parcela da sociedade à previdência social, a legislação conferiu apenas a promoção de alíquotas contributivas reduzidas em relação aos demais segurados integrantes do Regime Geral de Previdência Social, como se observa da análise da Lei 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei 12.470 de 2011. Observe-se que as carências se mantiveram na íntegra na Lei 8.213/1991 para a obtenção dos benefícios por estas pessoas, em relação aos demais segurados e seguradas da previdência social.
Ademais, não é simples a contribuição nessa modalidade diferenciada, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, de forma cumulativa: atividade dedicada exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, sem qualquer remuneração; inscrição prévia e atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e renda mensal familiar de até dois salários-mínimos, não podendo a pessoa que exerce esse tipo de atividade doméstica ter outra fonte de renda, ressalvado o valor recebido a título do benefício assistencial denominado “Bolsa Família”. Obter renda informal, ainda que mínima, já retira dessas pessoas o direito ao recolhimento nesta forma contributiva.
O pagamento sobre essa alíquota diferenciada apresenta ressalva, pois exclui do segurado que contribui sobre esta modalidade, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição[20].
Não obstante essa série de requisitos, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá efetuar a validação das contribuições efetuadas desta maneira) facultativo baixa-renda) e o CadÚnico exige a atualização a cada dois anos ou em caso de qualquer alteração na renda familiar. Ressalte-se que embora garantindo apenas alíquota contributiva previdenciária reduzida a esta parcela da sociedade, não houve distinção de gênero no que tange a esta alteração legislativa inclusiva realizada na Lei 8.212/91. Nesta senda, tanto o homem, quanto a mulher que desenvolvem o denominado trabalho invisível podem contribuir nessa modalidade de segurado facultativo baixa-renda, desde que preenchidos todos os requisitos legais.
Poder-se-ia afirmar, então, que a Constituição Federal de 1988 já realiza processo inclusivo das pessoas que desenvolvem o trabalho invisível, pois com o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, foi mantido o tratamento diferenciado nos termos do artigo 201, § 12, que ganhou nova redação a partir daí:
Art. 201, CF 88.
§12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda.
No entanto, diante de tantos requisitos comprobatórios necessários para se efetuar a contribuição como facultativo baixa-renda nos termos da legislação em vigor, não é simples se obter o enquadramento reconhecido pelo Instituto Nacional de Previdência Social nessa categoria de segurado.
Pelo exposto, estamos afirmando que as mulheres chefes de família das classes subalternas, pauperizadas e expostas a relações informais de trabalho e a trabalho de “viração”, integram o contingente das contribuintes facultativas de baixa renda. Todavia, em face dos critérios da Lei nº 12.470, elas estariam excluídas da condição de contribuinte facultativa de baixa renda com direito à contribuição reduzida por não atenderem aos critérios da legislação[21].
Outra problemática diz respeito à dificuldade que se tem de efetuar contribuição à previdência, ainda que com alíquota reduzida a 5% sobre o salário-mínimo por estas pessoas que desenvolvem atividade exclusivamente doméstica. Se necessitam pertencer a família cuja renda não supere o valor de dois salários-mínimos, dificilmente se terá meios econômicos para efetuar o aporte necessário à previdência social.
Quer isso significar que poucas pessoas que exercem o trabalho invisível poderão viabilizar sua aposentadoria na previdência social, por meio da utilização dessa alíquota reduzida (facultativo baixa-renda), o que deixa essa classe de trabalhadores(as) não remunerados extremamente fragilizada por terem sido excluídas da possibilidade de obtenção da pensão por morte no importe de 100% do salário-de-benefício, por serem totalmente dependentes do segurado ou da segurada que veio a falecer.
4.2 A Pensão por Morte Pós-EC 103/2019 Devida ao Cônjuge e Companheiro que Desenvolve Trabalho Invisível
Como já se mencionou no presente estudo, a Emenda Constitucional 103 de 12 de novembro de 2019 trouxe severos impactos no que tange aos benefícios previdenciários, mormente no que diz respeito aos critérios de cálculo dos mesmos.
Da análise específica do benefício pensão por morte pós-EC 103/2019, vê-se que a alíquota do benefício é aplicada levando-se em consideração apenas duas situações distintas, quais sejam: 1) Cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento) (art. 26, caput da EC 103/2019); 2) Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a: I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento), para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (art. 26, §2.º da EC 103/2019).
Desta forma, a única hipótese em que é possível cônjuge ou companheiro(a) receber 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, é no caso de possuir invalidez ou deficiência intelectual, mental ou grave.
De fato, a EC 103/2019 ignorou o dependente que não tem renda própria, por desenvolver exclusivamente o trabalho invisível, de reprodução social, precarizando ainda mais sua situação.
Apenas não restou prejudicado o cônjuge ou companheiro(a) que recebia apenas o salário-mínimo, pois preconiza a Constituição Federal de 1988 que benefício substitutivo da renda do trabalhador não pode ser inferior ao salário-mínimo[22].
Em vista disso, a EC 103/2019 trouxe equívoco ao deixar de excepcionar, no que tange ao benefício pensão por morte, a forma de cálculo para as pessoas que desenvolvem o trabalho invisível ou de reprodução social, como o fez com o dependente que é inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave.
De forma generalista, a EC 103 de 2019 inseriu o cônjuge, companheiro ou companheira dependente que desenvolve as atividades de cuidados domésticos e sem remuneração, em equiparação com os demais dependentes, sem excepcionalidades. A desproteção é total: tanto para as pessoas que se enquadram como facultativas baixa-renda, como para aquele dependente que desenvolve essas atividades invisíveis e sem vínculo com a previdência, por não estarem insertos nas condições permissivas para efetuarem o pagamento na modalidade segurado facultativo de baixa-renda.
Faltou trazer à baila a necessidade de corrigir erros históricos sucessivos, vez que esta pessoa ajudou na construção da renda familiar, mas que em caso de óbito do(a) instituidor(a) da pensão, vê-se em situação ainda mais precária, pois sem vínculo com a previdência, acaba tendo redução drástica geralmente da única fonte de renda familiar e sem perspectivas de inserção no mercado de trabalho.
Poder-se-ia equiparar estas pessoas àquelas que possuem incapacidade social, pois sem qualificação e experiência para o desenvolvimento de outras atividades, acabam por ser excluídas também do mercado de trabalho ativo.
Assim, importa esclarecer que a incapacidade social é teoria que decorre do reconhecimento de certa incapacidade laborativa, mas sem incapacidade total. No entanto, conforme o grau de instrução, condições econômicas, idade, entre outros fatores, estas pessoas não dispõem de chances reais de obter colocação no mercado de trabalho.
A ideia para se analisar a existência ou não de incapacidade laborativa social é combinar os seguintes elementos: ter alguma incapacidade laborativa, ainda que não seja total, que somada à questões biológicas, psíquicas e sociais do trabalhador, levam à conclusão da incapacidade de ganho por parte do mesmo[23].
Ora, quem desenvolve trabalho invisível ou de reprodução social, ainda que tenha capacidade laborativa, não conhece ou há muito não pratica outra atividade que não a doméstica em sentido amplo, para fins de proteção familiar. Não possui chances reais no mercado de trabalho e necessita, por certo, de inclusão social. Minimamente, a reforma previdenciária trazida pela Emenda Constitucional 103 de 2019 deveria ter conferido a estas pessoas o direito à pensão por morte no importe de 100% do valor da aposentadoria ao qual a pessoa recebia ou que teria direito, caso fosse aposentada por incapacidade permanente.
5 Considerações finais
A previdência social visa a proteção dos riscos sociais, que possuem como característica a futuridade, incerteza e a situação de necessidade causada pelos mesmos. O benefício previdenciário pensão por morte é o único risco social futuro e certo, com o propósito de proteção aos dependentes em caso de morte, de forma presumida ou comprovada, do segurado ou segurada da previdência social.
A legislação previdenciária arrolou em três classes, de forma hierárquica, os dependentes para fins de recebimento da pensão por morte, cuja dependência econômica pode ser considerada presumida ou comprovada. A primeira classe, de dependentes preferenciais, é composta por cônjuge, companheiro, companheira, bem como pelo filho menor de 21 anos, de qualquer condição, não emancipado ou inválido, ou com deficiência mental, intelectual ou grave. A segunda e terceira classes, ao contrário do que ocorre os elencados na primeira classe, precisam comprovar a dependência econômica. Encontram-se na segunda classe os pais e na terceira classe o irmão, de qualquer condição, não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência mental, intelectual ou grave.
De importância significativa para o sustento dos dependentes do instituidor, o benefício pensão por morte sofreu impactantes modificações com o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, especialmente no que tange à forma de cálculo deste benefício. Assim, para óbitos ocorridos após a publicação da EC 103/2019, o percentual da pensão por morte de 100%, foi reduzido para 50% de cota familiar, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente (cota individual), até o máximo de 100%. Esta alíquota será aplicada sobre a base de cálculo da aposentadoria, caso a pessoa fosse aposentada ou com direito adquirido à aposentadoria ou, caso não aposentada na data do óbito, incidirá sobre o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, a que a pessoa instituidora da pensão por morte teria direito, que também sofreu grande modificação em seu cálculo com a Emenda Constitucional 103 de 2019, sendo extremamente desfavorável ao segurado.
A problemática reside no fato de o cônjuge, companheiro ou companheira sobrevivente não dispor de outra fonte de renda, nem vínculo com a previdência social, por desenvolver trabalho invisível ou de reprodução social. Esse dependente, com a nova forma de cálculo trazida pela EC 103 de 2019, fica numa situação econômica difícil e complexa, mormente se pensarmos nos gastos familiares fixos existentes e que terão que ser adequados ao valor de uma pensão por morte bastante reduzido.
Assim, observa-se que houve grande impacto financeiro e consequentemente social, após a nova sistemática de cálculo da pensão por morte conferido pela EC 103/2019, mormente para dependentes sem outra fonte de renda, como ocorre com os dependentes – cônjuges e companheiros(as) – que desenvolvem atividade para o âmbito familiar, sem remuneração. Este trabalho é conhecido como invisível, dada a falta de repercussão financeira e a ausência de reconhecimento dessa atividade por grande parcela da sociedade.
Por trabalho invisível ou de reprodução social tem-se as atividades domésticas, não remuneradas, expandindo-se para o cuidado da família como um todo: amamentação, cuidado com filhos, idosos, alimentação, entre outros.
Mesmo a previdência social possibilitando às pessoas que desenvolvem o trabalho invisível ou de reprodução social uma forma contributiva para a previdência social mais atrativa e mais favorecida como forma de inclusão social trazida pela Lei nº 12.470, de 2011, a validação desta forma contributiva (facultativo baixa renda) não é obtida com facilidade, pois existem critérios específicos e cumulativos para poder efetuar a contribuição sobre esse formato, o que acaba por deixar muitas vezes à margem da proteção previdenciária a pessoa que desenvolve atividade exclusivamente doméstica.
Desta forma, o estudo apresentou reflexão acerca da importância de se proteger esta espécie de dependente para fins previdenciários, que com o cálculo trazido pela Emenda Constitucional 103 de 2019, vê-se sem condições de manutenção da renda familiar mínima e digna conforme o produto do trabalho familiar.
Observa-se que a efetiva proteção social aos dependentes dentro do recorte de tema apresentado, só poderá ser alcançada, se puder ser mantida a alíquota de 100% da pensão por morte do valor da aposentadoria ao qual a pessoa recebia ou que teria direito, caso fosse aposentada por incapacidade permanente, nos moldes conferidos ao dependente inválido ou com deficiência mental, intelectual ou grave, como dispõe o artigo 26, § 2º da EC 103/2019.
A concessão da pensão por morte a cônjuge ou companheiro(a) sem outra fonte de renda sob a alíquota de 100% da forma como conferida ao filho com deficiência mental, intelectual ou grave ou invalidez, traria a justiça social a esta parcela da sociedade que se dedicou durante longos anos da vida a um trabalho invisível, face a ausência reconhecimento econômico e social.
Neste cenário, a pensão por morte efetivamente teria a função de substituir a renda da segurada ou do segurado que veio a óbito, visto que a esta espécie de dependente dificilmente restariam outras oportunidades de obtenção de renda. Afinal, difícil se imaginar a existência de chances reais desta pessoa no mercado de trabalho, face sua realidade de trabalho doméstico de forma ampla e exclusiva, devendo-se equipará-la à situação de incapacidade social, de forma a ampliar o valor do benefício pensão por morte para que o cônjuge, companheiro ou companheira que desenvolve esse tipo de atividade invisível ou de reprodução social tenha seu trabalho reconhecido pela previdência social, garantindo-lhes o mesmo cálculo preconizado no artigo 26, § 2º da EC 103/2019.
6 Referências
BALERA, Wagner, MUSSI, Cristiane Miziara, Manual de Direito Previdenciário, 14. ed, Revista, Atualizada e Ampliada, Curitiba, Juruá, 2023.
BARRETO, Laudicena Maria Pereira, “A (ultra)precarização do trabalho como condição de acesso à Previdência Social”, SER Social, Brasília”, v. 18, n. 39, jul.-dez./2016, Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/14640/12950>, Acesso em: 30/05/2024 pp. 689-704.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil), “Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero [recurso eletrônico]”, Conselho Nacional de Justiça. — Brasília: Conselho Nacional de Justiça – CNJ; Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Enfam, 2021, Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf>, Acesso em: 31/05/2024, pp.1-132.
DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, “Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos”, Disponível em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>, Acesso em: 13/06/2024.
FONSECA, Rhaysa Sampaio Ruas da, “Contribuições da Teoria da Reprodução Social para o debate contemporâneo sobre as opressões”, Marx e o Marxismo v.7, n.13, jul/dez 201, Disponível em: < file:///C:/Users/crist/Downloads/marcelasoaress,+07_ARTIGO_Rhaysa+Sampaio+Ruas+da+Fonseca.pdf>, Acesso em 29/05/2024, pp. 271-294.
HORVATH JÚNIOR, Miguel, SANTOS, Aline Fagundes dos, “O sistema de seguridade social no brasil como importante alicerce para a efetivação dos direitos sociais”, Revista Internacional Consinter de Direito, nº II, 1º semestre de 2016, Disponível em: <https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/365/711>, Acesso em: 31/05/2024, pp. 279–300.
MUSSI, Cristiane Miziara, “A alteração da natureza jurídica do benefício pensão por morte no regime geral de previdência social brasileiro com a reforma da previdência”. CERS/Revista científica disruptiva, volume I, número 3, jul-dez, 2019, pp. 4-25.
MUSSI, Cristiane Miziara, FERREIRA, Carlos Vinicius Ribeiro, “A evolução das prioridades na proteção social brasileira aos benefícios por incapacidade diante das alterações trazidas pela EC 103/2019”, in SCHUSTER, Diego Henrique, DOS PASSOS, Fabio, WIRTH, Maria Fernanda. (Org.), Reforma Previdenciária: análise técnica e apolítica, Curitiba, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, 2020, v. 1, p. 103-128.
MUSSI, Cristiane Miziara, FERREIRA, Carlos Vinicius Ribeiro, “Evolução ou retrocesso do benefício pensão por morte ao longo dos 30 anos do advento da lei 8.213/91?” in PASSOS, Fabio Luiz dos, RUBIN, Fernando, TRICHES, Alexandre Schumacher, 30 anos de seguridade social no Brasil: Estudos alusivos aos 30 anos das Leis 8.212/91 e 8.213/91, Curitiba, PR, IBDP, 2021, Disponível em: <https://www.ibdp.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Artigo-11-EVOLUCAO-OU-RETROCESSO-DO-BENEFICIO-PENSAO-POR-MORTE-AO-LOGO-DOS-30-ANOS-DO-ADVENTO-DA-LEI-8.213-91-Cristiane-Miziara-Mussi-e-Carlos-Vinicius-Ribeiro-Ferreira.pdf>, acesso em: 20/05/2024, p. 241-272.
PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família, Curitiba, Juruá, 2022.
PINHEIRO, Luana [et al.], “Gênero é o que importa: determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil”, Brasília, DF, IPEA, 2023, Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12380/1/TD_2920_web.pdf>, Acesso em 19 de maio de 2024, pp. 01-44.
[1] Doutorado em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – Instituto Multidisciplinar, Nova Iguaçu, Brasil, Código Postal 26020-740; cristianemiziaramussi@gmail.com; ORCID https://orcid.org/0000-0003-4769-6458.
[2] DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, Disponível em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>, Acesso em: 13/06/2024.
[3] A idade avançada não exige necessariamente o afastamento do trabalhador da atividade laborativa, pois no Brasil é possível o aposentado em virtude de idade avançada continuar desenvolvendo sua atividade laborativa no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, quando desenvolve atividade privada.
[4] HORVATH JÚNIOR, Miguel, SANTOS, Aline Fagundes dos, “O sistema de seguridade social no brasil como importante alicerce para a efetivação dos direitos sociais”, Revista Internacional Consinter de Direito, nº II, 1º semestre de 2016, Disponível em, <https://revistaconsinter.com/index.php/ojs/article/view/365/711>, Acesso em: 31/05/2024, p. 288.
[5] Existe contribuição realizada de forma presumida no caso do empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual quando presta serviço a empresa ou equiparada à empresa na forma da lei. Isto porque presume-se que o empregador, empregador doméstico, sindicato ou órgão gestor de mão-de-obra e empresa ou equiparada à empresa, retenham e repassem a contribuição devida à previdência social. O art. 33, § 5º da Lei 8.212/91 [..] dispõe: “§ 5º O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei”.
[6] Período de graça é o período no qual se mantém a qualidade de segurado ou segurada da previdência social (Regime Geral de Previdência Social), independentemente de contribuição. Essa previsão pode ser encontrada no artigo 15 da Lei 8.213/91, bem como no artigo 13 do Decreto 3.048/99.
[7] Art. 3.º, Lei 10.666/2003. A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.
§ 1.º Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.
[...]
[8] BALERA, Wagner, MUSSI, Cristiane Miziara, Manual de Direito Previdenciário, 14. ed, Revista, Atualizada e Ampliada, Curitiba, Juruá, 2023, p. 494.
[9] Embora não caracterizada como carência, a Lei 13.135/2015 passou a exigir o mínimo de 18 contribuições mensais para a obtenção de benefício previdenciário pelo tempo superior a 4(quatro) meses, salvo para a morte em decorrência de acidente de qualquer natureza ou causa, quando o tempo de união/casamento e tempo contributivo de 18 meses não são exigidos.
[10] A Portaria ME Nº 424, de 29 de dezembro de 2020 atualizou a tabela trazida pela Lei 13.135/2015 que estabelece a duração da pensão por morte, conforme a idade de cônjuge, companheiro ou companheira, para assim dispor: Art. 1º O direito à percepção de cada cota individual da pensão por morte, nas hipóteses de que tratam a alínea "b" do inciso VII do art. 222 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a alínea "c" do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, cessará, para o cônjuge ou companheiro, com o transcurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas dezoito contribuições mensais e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável: I – três anos, com menos de vinte e dois anos de idade; II – seis anos, entre vinte e dois e vinte e sete anos de idade; III – dez anos, entre vinte e oito e trinta anos de idade; IV – quinze anos, entre trinta e um e quarenta e um anos de idade; V – vinte anos, entre quarenta e dois e quarenta e quatro anos de idade; VI – vitalícia, com quarenta e cinco ou mais anos de idade.
[11] MUSSI, Cristiane Miziara, FERREIRA, Carlos Vinicius Ribeiro, “Evolução ou retrocesso do benefício pensão por morte ao longo dos 30 anos do advento da lei 8.213/91?” in PASSOS, Fabio Luiz dos, RUBIN, Fernando, TRICHES, Alexandre Schumacher, 30 anos de seguridade social no Brasil: Estudos alusivos aos 30 anos das Leis 8.212/91 e 8.213/91, Curitiba, PR, IBDP, 2021, Disponível em: <https://www.ibdp.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Artigo-11-EVOLUCAO-OU-RETROCESSO-DO-BENEFICIO-PENSAO-POR-MORTE-AO-LOGO-DOS-30-ANOS-DO-ADVENTO-DA-LEI-8.213-91-Cristiane-Miziara-Mussi-e-Carlos-Vinicius-Ribeiro-Ferreira.pdf>, Acesso em: 20/05/2024, p. 242.
[12] MUSSI, Cristiane Miziara, “A alteração da natureza jurídica do benefício pensão por morte no regime geral de previdência social brasileiro com a reforma da previdência”. CERS/Revista científica disruptiva, volume I, número 3, jul-dez, 2019, p. 16.
[13] Art. 24, EC 103/2019. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.
§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:
I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;
II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou
III – pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.
§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:
I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos;
II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos;
III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e
IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos.
[...].
[14] PINHEIRO, Luana [et al.], “Gênero é o que importa: determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil”, Brasília, DF, IPEA, 2023, Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12380/1/TD_2920_web.pdf>, Acesso em 19 de maio de 2024, p. 13.
[15] FONSECA, Rhaysa Sampaio Ruas da, “Contribuições da Teoria da Reprodução Social para o debate contemporâneo sobre as opressões”, Marx e o Marxismo, v.7, n.13, jul/dez 201, Disponível em: <file:///C:/Users/crist/Downloads/marcelasoaress,+07_ARTIGO_Rhaysa+Sampaio+Ruas+da+Fonseca.pdf>, Acesso em 29/05/2024, p. 273.
[16] PINHEIRO, Luana [et al.], “Gênero é o que importa: determinantes do trabalho doméstico não remunerado no Brasil”, Brasília, DF, IPEA, 2023, Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/12380/1/TD_2920_web.pdf>, Acesso em 19 de maio de 2024., p.31.
[17] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (Brasil), “Protocolo para julgamento com perspectiva de gênero [recurso eletrônico]”, Conselho Nacional de Justiça. — Brasília: Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Enfam, 2021, Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf>, Acesso em: 31/05/2024, p. 17.
[18] PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Princípios Fundamentais Norteadores do Direito de Família, Curitiba, Juruá, 2022, p. 47.
[19] FONSECA, Rhaysa Sampaio Ruas da, “Contribuições da Teoria da Reprodução Social para o debate contemporâneo sobre as opressões”, Marx e o Marxismo v.7, n.13, jul/dez 201, Disponível em: < file:///C:/Users/crist/Downloads/marcelasoaress,+07_ARTIGO_Rhaysa+Sampaio+Ruas+da+Fonseca.pdf>, Acesso em 29/05/2024, p. 27.
[20] A aposentadoria por tempo de contribuição deixou de existir com a Emenda Constitucional 103 de 2019, ao modificar a redação do artigo 201, §7.º da CRFB/88, sendo ainda possível sua obtenção para as pessoas com deficiência ou para aqueles com direito adquirido, ou que implementaram ou implementarão os requisitos de uma das regras de transição trazidas por referida alteração constitucional.
[21] BARRETO, Laudicena Maria Pereira, “A (ultra)precarização do trabalho como condição de acesso à Previdência Social”, SER Social, Brasília”, v. 18, n. 39, jul.-dez./2016, Disponível em <https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/14640/12950>, Acesso em 30/05/2024, p. 702.
[22] Art. 201, § 2º, CF/88. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário-mínimo.
[23] MUSSI, Cristiane Miziara, FERREIRA, Carlos Vinicius Ribeiro, “A evolução das prioridades na proteção social brasileira aos benefícios por incapacidade diante das alterações trazidas pela EC 103/2019”, in SCHUSTER, Diego Henrique, DOS PASSOS, Fabio, WIRTH, Maria Fernanda. (Org.), Reforma Previdenciária: análise técnica e apolítica, Curitiba, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, 2020, v. 1, p. 111.