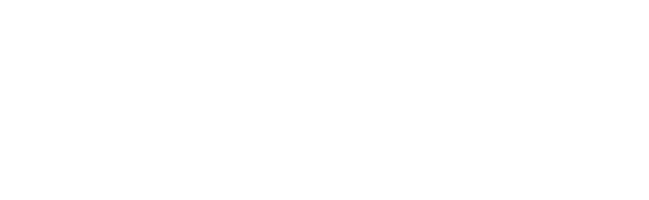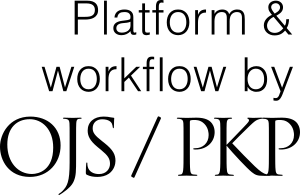Sociedades Limitadas e Livre-Iniciativa: Concretização dos Ditames da Constituição Federal de 1988
LIMITED – LIABILITY COMPANIES AND FREE INITIATIVE: THE ACHIEVEMENT OF THE DICTATES OF THE BRAZILIAN FEDERAL CONSTITUTION OF 1988
Camila Castanhato[1]
Thiago Brazolin Abdulmassih[2]
Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar como os princípios da autonomia patrimonial da sociedade empresária e da subsidiariedade da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais devem ser entendidos como aspectos da efetividade do princípio constitucional da livre-iniciativa, para então, verificar como a sua concretização e proteção podem ocorrer sob a Constituição de 1988. Visando aproximar os ditames constitucionais à realidade socioeconômica brasileira, optou-se por estudar a separação patrimonial no âmbito das sociedades limitadas, por serem o tipo societário mais comum no Brasil, e também um dos mais acessíveis ao empresário em geral, de forma que as conclusões deste estudo sejam aplicáveis a um grande número de situações. Destarte, neste trabalho passaremos pela análise da conjuntura que ensejou a criação das sociedades empresárias, historicamente ligadas à Revolução Industrial Inglesa, tomada pelo ponto de vista crítico de Alysson Leandro Mascaro e Vicente Bagnoli, e posteriormente complementadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conjugaria a visão dos dois polos políticos na Guerra Fria. Em seguida, trazemos a livre-iniciativa como mandamento constitucional fundamental ligado aos Direitos Humanos, conforme a interpretação da Teoria de Capitalismo Humanista. Neste quadro de referências teóricas visamos, por fim, demonstrar que a proteção da separação patrimonial das sociedades limitadas deve ser ampla, admitindo-se o uso de técnicas como a desconsideração da personalidade jurídica deve ser sopesada com os Direitos Humanos inatos ligados à livre-iniciativa, que em última instância, organiza meios materiais para a emancipação das pessoas e a promoção da sua liberdade
Palavras-chave: Efetividade do Direito. Direito Econômico. Direito Constitucional. Capitalismo Humanista. Sociedades Limitadas. Liberdade. Livre-Iniciativa.
Abstract: This study has the objective of analysing how the principles of the company’s asset autonomy and the subsidiarity of the partners responsability for the social obligations must be understood as aspects of the effectivity of the constitucional principle of free enterprise, so that it is possible to verify how its fulfillment and protection may occur under the 1988 Constitution. Aiming to gather the constitutional wording with the socioeconomic brazilian reality, it was chosen to study the asset separation under the scope of the limited liability companies, as they are the most common enterprises in Brazil, and also one of the most accessible structures to the general entrepeneur, as a way to allow the conclusions of this study to be applied to a greater number of situations. Therefore, in this paper we will begin with the analysis of the conjuncture from which the enterpreneurial societies where derived, as historically connected to the English Industrial Revolution, from the critic point of view of Alysson Leandro Mascaro and Vicente Bagnoli, and later complemented by the Universal Declaration of Human Rights, which would bind the vision of the two political poles in the Cold War. Following that, we bring the free enterprise as a fundamental constitutional comandment connected to the Human Rights, as interpreted by the Humanist Capitalism Doctrine. In this framework of theoretical references we aim, finally, to demonstrate that the asset autonomy of the limited liability companies must be broad, allowing that the use of techniques like the disregard of the legal entity must be pondered against the innate Human Rights connected to the free enterprise, which, lastly, organize the material means necessary for the people’s emancipation and the promotion of their liberties.
Keywords: Law Effectiveness. Law and Economics. Constitutional Law. Humanist Capitalism. Limited Liability Companies, Freedom. Free Enterprise.
1 INTRODUÇÃO
A sociedade limitada é o tipo societário mais popular no Brasil por larga margem frente às demais sociedades. Em pesquisa bibliográfica abrangendo os relatórios do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI (que sucedeu em sua função o Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC), detectamos que em maio de 2015, as constituições de sociedades limitadas chegaram 18.637 empresas, enquanto foram constituídas 144 sociedades anônimas e 48 sociedades de outros tipos[3]. Da popularidade das sociedades limitadas, que abrangem grandes e pequenos negócios, decorre a relevância de nosso tema, sobretudo no atual contexto de profunda crise econômica pela qual enfrenta nosso país.
Partimos também da noção que as sociedades limitadas são instrumentos jurídicos apropriados para que a sociedade civil ajude na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento nacional, como coloca o art. 3º da Constituição. Ademais, uma estrutura empresarial sólida é necessária para que o país tenha a independência nacional como quer o art. 4º, inciso I, da Constituição.
Para averiguar a relação das sociedades limitadas e a livre-iniciativa, será empreendida uma pesquisa bibliográfica sobre o atual marco regulatório dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, expondo o pano de fundo das suas discussões quanto aos elementos de conexão da livre iniciativa (conectada ao direito de propriedade), visando relacioná-la ao direito de propriedade no seu aspecto coletivo, estabelecendo, portanto, um parâmetro para a compreensão da livre-iniciativa conectada com a livre disposição dos próprios bens.
Ainda sob a metodologia da pesquisa bibliográfica, trataremos do princípio da livre-iniciativa estampado na Constituição de 1988 conforme exposto pela doutrina nacional, e a influência dos dispositivos constitucionais nos demais princípios aplicáveis sobre o tema, para finalmente buscar a efetivação do princípio da livre-iniciativa no âmbito das sociedades limitadas.
2 A SOCIEDADE LIMITADA E O DIREITO: ASPECTOS HISTÓRICOS E SOCIAIS
Apesar de podermos traçar o conhecimento da personalidade jurídica distinta da personalidade humana já no Direito Canônico Medieval – que reconhecia a possibilidade de excomungar corporações e cidades inteiras, intuindo, portanto, sua existência independente (GONÇALVES, 2010, p. 31) – podemos verificar na bibliografia disponível que a autonomia plena das sociedades somente se deu com a transição do capitalismo mercantil para o capitalismo das grandes empresas.
Durante o mercantilismo a circulação de produtos era a principal forma de acúmulo de capital, os privilégios medievais eram tolerados, e a burguesia nascente se movimentava para comprar por menos e vender por mais, ainda que para mercados restritos. Quando a produção se converte na maior geradora de riquezas, o Direito ganha caracteres positivistas, permitindo que a igualdade formal na lei fosse a mediadora das relações econômicas (MASCARO, 2008, p. 44).
Na Europa, leis foram criadas para regular a crescente atividade fabril que se desenvolvia. Estas leis beneficiavam os interesses da burguesia nascente, com as especificidades de cada país (COELHO, 2014a, p. 30-31). A existência da pessoa jurídica, que no passado era tema de interesse dos canonistas católicos, se torna então a bandeira da economia moderna, como podemos observar na luta pelo alargamento dos seus direitos:
Entre os anos de 1890 e 1910, dos 307 casos julgados pela Suprema Corte relacionados à 14ª Emenda, apenas 19 envolviam negros. Os outros 288 casos relacionavam-se ao poder econômico, empresas que pleiteavam sua equiparação aos cidadãos norte-americanos. (BAGNOLI, 2009. p. 40)
O processo dialético entre as necessidades da Revolução Industrial e os movimentos legislativos positivistas equalizou os interesses dos empresários que almejavam se organizar sem grandes custos operacionais, mas com a desejável limitação de responsabilidade que lhes permitiria arriscar em empreendimentos mais arrojados.
Em termos de organização jurídica da empresa, a sociedade anônima moderna, de inspiração inglesa, já era conhecida desde a metade do século XIX, por meio de diversas reformas legislativas ocorridas em 1844, 1855 e, por fim, em 1862, com o Companies Act, que institui diversas características das empresas que perduram até os dias de hoje (SIMÃO FILHO, 2004, p. 6.), notadamente a responsabilidade limitada ao capital subscrito[4]. Esse pioneirismo anglo-saxão é decorrência direta da necessidade de grandes quantidades de capital invertido na produção manufatureira que despontou na Revolução Industrial, quando a produção de bens ultrapassa o mero comércio.
No entanto, a despeito da nova legislação, várias sociedades ainda operavam sob um regime diverso, mais simples, conhecido como partnership, o que daria espaço para a criação de outro regime societário, o da sociedade limitada. Reconhecendo essa necessidade, o direito alemão, inspirado pela regulação inglesa sobre as sociedades anônimas, cria a primeira lei das limitadas em 20.04.1892[5], e que inspiraria outros países a fazerem o mesmo nos anos seguintes.
No Brasil, sob a metodologia exploratória dos textos legais atinentes ao tema, encontra-se que a primeira tentativa de regulamentação da sociedade limitada ocorreu com o projeto de José Thomaz Nabuco de Araújo, em 1867, ainda que o referido trabalho se aproximasse mais de uma sociedade anônima livre do que propriamente o tipo societário previsto no decreto vindouro. O projeto sancionado foi o apresentado pelo Deputado Joaquim Luis Osório. Trata-se do Decreto 3.708/1919, que contém dezoito artigos e trouxe um novo tipo societário ao país, já sob a égide do liberalismo econômico que vicejava no século.
A história da economia mostra que a sociedade limitada veio para atender a necessidade de se organizar a atividade produtiva de forma a garantir a divisão patrimonial do empresário e da empresa – que, de todo, já era conhecida no direito marítimo sob o abandono liberatório – mas sem a complexa regulação da sociedade anônima.
Haja vista que a economia cresceu em complexidade, o direito também teve de evoluir. Ressalta-se que não se trata de afirmar que o Direito é mero produto da Economia, mas sim de observar que certos institutos jurídicos[6] são inócuos quando não se tem o substrato econômico que faça uso deles ou, pelo uso, cause uma evolução dos conceitos, como ocorreu na ligação entre os primórdios da sociedade anônima com a sociedade limitada.
Com o avanço do capitalismo, o fato econômico ganhou distinta preponderância na vida social, de forma que não se concebe mais a empresa isoladamente, alheia dos seus impactos e relações sociais, tudo decorrente da sua posição como centro de organização de recursos e atividades humanas (LAMY FILHO, 2003, p. 16).
Por toda essa centralidade da empresa enquanto forma preponderante de organização comercial e industrial, as discussões preocupadas com os Direitos Humanos passaram a tratar também dos diversos aspectos materiais que permitem justamente a promoção destes direitos, de forma que a empresa, antes restrita à discussões no âmbito do Direito Civil e Comercial, foi abarcada pelos debates humanistas, como trataremos a seguir.
3 A LIVRE-INICIATIVA ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL NO PLANO INTERNACIONAL
Tendo em vista que visamos correlacionar a regulação da sociedade limitada com um princípio jurídico, é deliberado que a exposição histórico-econômica, especialmente da sociedade limitada, anteceda à dos temas legislativos. Como outrora exposto, os fatores de produção não podem ser ignorados na análise de um corpo legislativo, mormente na seara do Direito Econômico. Não há regulação da produção ou preocupação com a criação de novos tipos societários se materialmente não existem condições para empreender, e mesmo se a legislação for criada antes da existência destas condições, pouco efeito terá.
Em termos cronológicos, a vontade de criar novas atividades econômicas e organizar fatores de produção antecede a enunciação expressa da livre-iniciativa em termos jurídicos, podendo ser considerado algo intrínseco ao ser humano, como descreve Ricardo Sayeg e Wagner Balera quando afirmam que “previamente à regência positivada da economia, existe a ordem jus-econômica natural decorrente da natureza humana” (SAYEG; BALERA, 2011, p. 193).
Não obstante, o plano normativo internacional há tempos reconhece e positiva direitos econômicos fundamentais à humanidade no campo global, como observamos no art. 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trata do direito de propriedade:
Art. 17.
1. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros.
2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.
Sobre este trecho são necessários alguns apontamentos. A propriedade “em sociedade” mencionada no texto não é fruto isolado do pensamento capitalista vigente quando da redação da Declaração. Durante a discussão sobre a redação do art. 17, Alexei P. Pavlov, da delegação da URSS, sugeriu exatamente a inclusão da expressão “só ou em sociedade com outros” de forma a compreender as noções de propriedade coletivas do comunismo e do capitalismo, mas com as nuances tratadas a seguir (MORSINK, 1999, p. 147).
A discussão se estendeu a partir do momento que a delegação comunista queria sujeitar a propriedade à seguinte fórmula: “de acordo com as leis do país onde a propriedade está localizada”. Ademais, Pavlov também propôs delegar ao Estado determinar quais modos da propriedade privada estariam disponíveis, sob a premissa que a propriedade coletiva dos meios de produção era a norma no comunismo, sendo a propriedade particular de bens pessoais, como a moradia e bens de uso individual, diversa da propriedade privada.
Estes aspectos do direito de propriedade foram objeto de sucessivas negociações que visavam limitá-lo, seja pela restrição legal, conforme propostas da URSS e do Panamá, seja pela via da expressa menção ao interesse público, como proposto pelas delegações do Haiti e da Bélgica. Tais interpretações cederam espaço ao texto simplificado do artigo, em decorrência da noção que a Declaração deve ser compreendida holisticamente, sem prevalência de um artigo sobre o outro, independentemente da ordem que se encontram, levando o intérprete a correlacionar o disposto no art. 17 com o art. 29, que contém limitações a todo o conteúdo apresentado ao longo do documento. Não obstante, é de se reconhecer que limitar os direitos fundamentais previstos na Declaração a elementos externos a ela derrotaria o objetivo desta, construída na forma de mandamentos transcendentais às ordens jurídicas de cada país.
Ainda que se compreenda a Declaração Universal dos Direitos Humanos como soft law não vinculante, os diversos documentos internacionais nela baseados e interpretados sob seus princípios demandam que o seu texto tenha a maior amplitude possível para que a proteção do ser humano seja garantida e passível de discussão mesmo sob regimes totalitários e outras situações adversas aos Direitos Humanos (e aqui também compreendidos os Direitos Econômicos do homem).
Na seara do Direito Internacional dos Direitos Humanos, temos que as obrigações contraídas pelos países são de cunho essencialmente objetivo, e fiscalizadas por mecanismos de supervisão previstos nos próprios tratados. O atual estágio da interpretação dos tratados de direitos humanos não mais se vincula à interpretação restritiva dos seus termos em razão de eventual conflito com a soberania estatal. Isto também não significa que a interpretação dos Direitos Humanos no plano internacional se dê alheia ao edifício jurídico erigido em torno da interpretação dos tratados, como demonstra Cançado Trindade:
Recorda-se, a propósito, que, por força do disposto no artigo 27 das duas Convenções de Viena sobre Direito dos Tratados, a nenhum Estado é dado invocar dificuldade de ordem constitucional ou interna de modo a tentar justificar o não-cumprimento de suas obrigações convencionais. Mais além do direito dos tratados, é este um princípio fundamental do direito da responsabilidade internacional do Estado, solidamente respaldado pela jurisprudência internacional sobre a matéria. Em seu relatório de 1990 no caso Cruz Varas versus Suécia, a Comissão Européia de Direitos Humanos afirmou que o princípio consagrado no artigo 27 das duas referidas Convenções de Viena aplicava-se também no exame de casos sob a Convenção Européia de Direitos Humanos. (TRINDADE, 1999, p. 29)
Como confirmação da influência da Declaração Universal na evolução das convenções e tratados que se seguiram, têm-se a Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, complementada pelo Protocolo Adicional 1, de 1952, que traz em seu art. 1º a seguinte redação:
Art. 1º.
(Proteção da propriedade)
Qualquer pessoa singular ou coletiva tem direito ao respeito dos seus bens. Ninguém pode ser privado do que é sua propriedade a não ser por utilidade pública e nas condições previstas pela lei e pelos princípios gerais do direito internacional.
As condições precedentes entendem-se sem prejuízo do direito que os Estados possuem de pôr em vigor as leis que julguem necessárias para a regulamentação do uso dos bens, de acordo com o interesse geral, ou para assegurar o pagamento de impostos ou outras contribuições ou de multas.
Sem embargo deste art. 1º trazer aspectos rejeitados na elaboração da Declaração Universal, como a limitação pela utilidade pública e pela lei, o texto ora apresentado é um excelente exemplo do reconhecimento da proteção da propriedade organizada de forma coletiva. O texto em inglês não dá azo a dúvidas quando traz a expressão “legal person”, a qual, sem prejuízo da tradução portuguesa, pode ser entendida como “pessoa jurídica”. A proteção independente da propriedade da pessoa jurídica é pacífica na interpretação do protocolo (CARSS-FRISK, 2001, p. 19), e já foi inclusive objeto de discussão perante a Comissão Europeia de Direitos Humanos, no caso Agrotexim v. Greece[7], onde se reiterou que o dano à companhia não se confunde com danos aos seus acionistas, que não poderiam clamar uma violação direta de seus direitos humanos em razão de um dano à empresa – fica firmada, portanto, uma separação robusta entre a pessoa jurídica e aqueles que a integram.
A redação que foi firmada em 1948 na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é advinda da noção de que a propriedade não existe isoladamente, fazendo parte de um sistema econômico maior, o que decididamente alterou o foco da discussão quanto aos direitos de propriedade (MORSINK, 1999, p. 155). Mais do que afirmar a possibilidade de o ser humano possuir bens materiais pessoais, o que é abordado no art. 12 quando este veda interferências no seu “lar” (que pode ser entendido como a moradia e tudo que nela se encontra), o art. 17 traz à lume e garante direitos econômicos de organização da atividade produtiva, a qual, como historicamente se deu, ocorre por meio da pessoa jurídica.
Mesmo a redação do art. 29, que poderia ser entendida como uma ampla limitação ao art. 17, não pode ser tida como superior à promoção do direito de propriedade. É um cânone incontestável da interpretação da Declaração Universal a necessidade de se ter uma visão do todo, objetivando a maior amplitude de direitos:
Ultrapassando-se estas considerações, pode-se afirmar que o artigo 17 – como qualquer outro artigo da Declaração – deve ser interpretado de forma sistemática e teleológica, de acordo com toda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sob pena de assim não agindo estabelecer-se um direito absoluto de propriedade. (…) Entretanto, deve-se concluir que o direito de propriedade, como todos os outros direitos enunciados naquela Declaração, têm como pressuposto o respeito à dignidade da pessoa humana, que lhes atribui sentido. (BALERA (Coord.), 2008, p. 99-100)
Todo o disposto na legislação internacional visa derrogar a lógica do homo economicus enquanto modelo único e pleno da atividade econômica. Tal modelo, que pode ser traçado à obra de John Stuart Mill (embora o autor não tenha utilizado tal expressão (PERSKY, 1995, passim)), pressupõe um homem racional, dotado das informações necessárias para fazer as escolhas que maximizem o seu esforço em prol do resultado econômico e do seu bem-estar.
Esta simplificação teórica falha em abarcar outras perspectivas da economia, mormente aquelas advindas de países do terceiro mundo, ou simplesmente as escolhas emotivas e essencialmente irracionais que podem ser tomadas em questões econômicas. Ainda que esta teoria possua sua utilidade na construção de modelos econômicos, é precisa a advertência:
Desde logo, ninguém age o tempo todo de forma racional. Inúmeras vezes, agimos por impulso, sem medir as conseqüências de nossos atos. Outras tantas vezes, agimos por mero hábito, por condicionamento social, porque “é assim que sempre se fez”. E, normalmente, mesmo quando procuramos ser racionais, não deixamos de ser influenciados pela cultura e por nossas pulsões (tantas vezes, inconscientes) avessas à racionalização. Vale dizer: não agimos, normalmente, como puros agentes maximizadores. De forma que o “homem econômico racional” tem que ser tomado como uma construção ideal, e não como uma representação realista da ação humana. (PAIVA; CUNHA, 2008, p. 16)
Destarte, a guinada em direção à formalização dos direitos do homem à organização da atividade econômica sob a forma coletiva no rol dos Direitos Humanos, inserindo-os sob o mesmo manto interpretativo dos demais mandamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos não é mero acidente histórico ou uma escolha aleatória. Trata-se de um movimento filosófico permeado por diversas influências, como o materialismo histórico de Karl Marx e a doutrina social da Igreja Católica Apostólica Romana (SAYEG; BALERA, 2011, p. 56-57), e que, por sua vez, influencia a nossa ordem jurídica nacional.
A suposta racionalidade econômica passa a ceder à racionalidade do bem-estar do homem, que deve ver promovidas as suas potencialidades através da economia, e não ser um meio para a geração de lucros e resultados econômicos. Sob este paradigma interpretativo, as escolhas econômicas não se pautam apenas no bem-estar individual, do homo economicus que otimizaria a economia na busca do seu interesse pessoal. O progresso geral se torna objeto da pauta econômica, reconhecendo-se a realidade de duas questões preponderantes para a concretude dos direitos humanos: a) que os povos, por motivos históricos e sociais, não partem do mesmo patamar na busca de melhores condições materiais que permitam a plena promoção das suas capacidades; e, b) que o bem-estar de alguns não se sustenta no longo prazo caso a humanidade como um todo não experimente uma melhoria nas suas condições de vida.
Não existem dúvidas de que os sucessivos choques e crises do capitalismo neoliberal tem produzido a concentração de renda em níveis extraordinários, chegando ao ponto que 1% da população mundial teria mais riqueza acumulada que todo o resto em 2016, conforme relatório da organização sem fins lucrativos Oxfam International[8].
Diante deste quadro, os detratores dos direitos econômicos enquanto Direitos Humanos poderiam afirmar que os objetivos da Declaração Universal dos Direitos Humanos não foram atingidos, e quiçá nunca serão. A despeito desta perspectiva pouco animadora, é preciso reconhecer a diferença entre as teorias econômicas e as teorias jurídicas, mormente aquelas voltadas à concretização dos Direitos Humanos. Como bem coloca Calixto Salomão Filho, o caráter valorativo das ciências jurídicas opera transformações na tessitura econômica, diferentemente das teorias econômicas, que descrevem “generalizações de fatos observáveis nas relações sociais e econômicas” (SALOMÃO FILHO, 2006, p. 19).
Com isso, o Direito, dado o seu poder transformador, é o instrumento democrático a ser empregado na concretização dos valores inscritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que no presente momento a realidade econômica guarde diferenças com as propostas veiculadas em 1948. O mesmo pode-se dizer da Constituição de 1988, a qual, como veremos, traz princípios conformadores da atividade econômica, e que podem ensejar uma “reivindicação constitucionalmente legitimada” (GRAU, 2012, p. 212), na forma de políticas públicas que alce este valor da livre-iniciativa à realidade.
4 LIVRE-INICIATIVA E A CONSTITUIÇÃO
Partindo do plano internacional para a realidade brasileira, temos que o país dispõe de longo histórico na proteção à livre-iniciativa e à liberdade das pessoas se organizarem economicamente (TAVARES, 2006, p. 237-238).
A bibliografia disponível sobre o tema permite depreender que no art. 179, inciso XXIV, da Constituição de 1824 já encontrávamos a liberdade de indústria e comércio. O mesmo temos no art. 72, § 24 da Carta de 1891, que já esboçava a emancipação da atividade econômica da necessidade de autorização expressa do Poder Público para o funcionamento de empresas, como era exigido pelo art. 2º da Lei 1.083, de 22.08.1860, onde o § 1º condicionava o funcionamento de “Companhias ou Sociedades Anonymas, Nacionaes ou Estrangeiras, suas Caixas Filiaes ou Agencias” à existência de Lei ou Decreto do Poder Executivo.
Enquanto a Constituição de 1934 trazia a “liberdade econômica” dentro dos limites impostos pelos “princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional”, em 1937 a Carta Magna fundamentava a prosperidade nacional na “iniciativa individual” e no “poder de organização” conforme art. 135. Sob esta Constituição teve-se a edição do Decreto-Lei 2.627/1940, que já limitava as exigências governamentais para criação e funcionamento das companhias às situações específicas, conforme disposto no art. 59 e seguintes.
Seguindo a tradição constitucional, a Constituição de 1946 visava conciliar a “liberdade de iniciativa” com a “valorização do trabalho humano” em seu art. 145, e a Lei Maior de 1967, bem como a Emenda Constitucional 1/1969, consignavam a mesma liberdade de iniciativa, a primeira no art. 157, inciso I, e a segunda no art. 160, inciso I.
Feitas estas considerações, centraremos a nossa análise aos ditames da Carta de 1988: não somente porque ela é bastante minudente no tratamento das questões econômicas, mas também pela sua abertura às influências internacionais na seara dos direitos humanos, dentre os quais, como demonstramos na análise do art. 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, se encontra o direito a organizar a sua propriedade de forma coletiva, ou seja, sob a forma de empresa.
Como disposto no art. 5º, § 2º da Carta Cidadã, os direitos e garantias fundamentais a serem observados no Brasil compreendem aqueles decorrentes dos tratados aqui adotados (SAYEG; BALERA, 2011, p. 45). Nesta seara, mesmo que se faça reservas à natureza da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o seu caráter fundante na interpretação dos Direitos Humanos não deve ser ignorado.
Frise-se que mesmo se a Constituição fosse silente quanto ao direito de propriedade das organizações coletivas, o seu direito estaria garantido pela preponderância das normas internacionais que tratam dos direitos humanos (COMPARATO, 2010, p. 75). Na atual conjuntura internacional, é inescapável reconhecer a realidade do disposto no art. 17 da Declaração Universal, e a sua decisiva influência nas relações entre os países. Destaque-se que este fato sequer é vinculado exclusivamente à Constituição de 1988. Ainda em 1954 Nelson de Sousa Sampaio escreveu:
O Direito Internacional moderno de há muito vem reivindicando para sua órbita os direitos verdadeiramente fundamentais, que pertencem ao homem seja qual for a latitude em que viva, como direitos anteriores e superiores ao Estado, dos quais este não pode despojá-lo. (SAMPAIO, 1954, p. 51)
Nada obstante, a Carta de 1988 abraçou as influências nacionais e internacionais e fundamentou a República e a ordem econômica nos valores do trabalho e da livre-iniciativa (art. 1º, inciso IV e art. 170, caput).
Aqui deve-se fazer um aparte para analisar a questão da livre-iniciativa enquanto princípio jurídico. Princípios podem ser compreendidos como “leis gerais” ou “leis universais” que fundamentam o raciocínio lógico (JAPIASSU; MARCONDES, 1990, p. 201). Esta definição, apesar de útil no campo da filosofia, não abarca a importância que os princípios jurídicos têm no âmbito do sistema normativo, e como eles são tratados pela doutrina moderna.
A definição de princípios no Direito passou por diversas fases, e foi influenciada pelos vários movimentos que visavam a compreensão do fenômeno jurídico. Sob o jusnaturalismo predominou uma noção abstrata, ligada a ideais de justiça e à noção que o Direito estaria dividido entre o direito natural e o direito positivo, sendo os princípios ligados à primeira divisão. Em outro giro, o positivismo integrou os princípios ao texto legal e a eles atribuiu a função de colmatar lacunas, integrando o Direito onde faltava o expresso texto legal.
Por fim, o pós-positivismo, sob forte influência de Ronald Dworkin e Robert Alexy, atribui normatividade aos princípios, que passam a trazer standards jurídicos, fundantes ao sistema jurídico. Com isso, os princípios, implícitos ou explícitos, são entendidos como alicerces das regras, trazendo um valor, uma diretriz obrigatória na concretização das finalidades por eles trazidas, ainda que a sua tessitura aberta não implique na lógica do cumprido/descumprido. Conforme coloca Canotilho, visam a otimização do sistema jurídico, que sob a égide do positivismo teria ficado “engessado” (ZAGO, 2001, p. 89).
Ao largo da discussão do que são os princípios, é relevante reconhecer que eles se situam e são cultivados no âmbito de uma realidade prática, representando aspirações socioeconômicas concretas, e que certamente vinculam a interpretação e argumentação jurídica:
Desse modo, toda reflexão sobre o conceito de princípio e as possibilidades de sua determinação precisam atentar para o fato que eles são construídos no interior de uma comunidade histórica que desde sempre é compreendida antecipadamente na historicidade. Todo princípio possibilita uma decisão – no sentido de abrir um espaço para que o juiz decida, de forma correta, a demanda que lhe é apresentada – mas, ao mesmo tempo, a comum-unidade dos princípios limita esta mesma decisão uma vez que impõe que ela seja tomada ao modo de padrões já estabelecidos e compreendidos historicamente. (ABBOUD et al., 2013, p. 308)
Esta ligação estreita dos princípios com a realidade histórica pode ser ainda mais profunda, mormente quando se está diante de um ramo do Direito como o Direito Econômico, que dialoga constantemente com o momento histórico e econômico em que se insere.
Se o caráter de princípio constitucional da livre-iniciativa é inconteste, o seu caráter enquanto direito fundamental enseja divergência na doutrina, como demonstra a pesquisa bibliográfica empregada neste ponto. Fazendo um contraponto à liberdade de iniciativa como direito fundamental, Eros Grau é peremptório ao afirmar que a:
liberdade de iniciativa econômica como direito fundamental apenas se justifica quando da expressão – ‘direito fundamental’ – lançamos mão para mencioná-la como direito constitucionalmente assegurado. O texto constitucional não a consagra como tal, isto é, como direito fundamental. (GRAU, 2012, p. 208)
Em oposição ao referido autor podemos encontrar o pensamento de Miguel Reale, para quem livre-iniciativa é “a projeção da liberdade individual no plano da produção, circulação e distribuição das riquezas” (REALE, 1998, passim).
A despeito desta celeuma, o conteúdo do princípio da livre-iniciativa, na forma da Constituição, encontra amplo consenso. Compulsando a doutrina, têm-se que tal liberdade é diversa de uma simples liberdade de empresa preconizada pela teoria econômica neoliberal, compreendendo o exercício livre do trabalho e de outras formas de organização além da empresa, como a cooperativa e a autogestão. Esta liberdade se liga à promoção do trabalho e de formas de sua organização que sejam socialmente úteis – e não somente pela valoração intrínseca da liberdade, que não possui capacidade isolada de promover os demais fundamentos constitucionais da ordem econômica.
Adicionalmente, sobre a influência estatal, ressaltamos que o direcionamento do Estado também está sujeito a limitações. Qualquer planejamento estatal – o qual, por força do art. 174 da Constituição, é indicativo ao setor privado – deve garantir que a intervenção estatal se dê somente sob o primado da lei, a qual deve respeitar todas as demais garantias fundamentais insculpidas na Constituição. Eventual lei que regule a liberdade de iniciativa deve observar duas facetas deste princípio: a) a liberdade de comércio e indústria; e, b) a liberdade de concorrência, que por sua vez deve observar a vedação de práticas desleais na busca por mercado consumidor.
Neste patamar é claro o liame entre a proteção ao direito da propriedade coletiva e a livre-iniciativa, tratam-se essencialmente de direitos humanos de primeira dimensão, ligados às liberdades humanas inatas em seu aspecto externo (SAYEG; BALERA, 2011, p. 187), a relação entre os seres humanos. Não há que se dizer que estas liberdades são plenas, independentes das demais dimensões dos direitos humanos.
É justamente neste ponto que teorias, como, por exemplo, o “Capitalismo Humanista”, vêm atuar, demonstrando que há o adensamento das dimensões dos Direitos Humanos, e não uma mera sucessão histórica. O direito de propriedade coletiva e a livre-iniciativa passam a ser modalizadas pelas liberdades positivas das comunidades nas quais as empresas estão inseridas, sem que isso, por si só, represente um cerceamento das liberdades daqueles que pretendem empregar seu patrimônio em um dado empreendimento. Especificamente sobre a compreensão unitária dos Direitos Humanos, destacamos ainda:
Não se recortam ou segregam os direitos humanos de sua universalidade jurídica, sendo executáveis em conjunto sob pena de sua inadmissível ruptura – a exclusão de qualquer de seus elementos ou dimensões, o que acarretaria a prevalência de um destes sobre os demais, desarranjaria todo o conjunto –, prejudicando, na medida em que tal ocorrência coloque o homem em situação desumana, a consecução do direito objetivo de dignidade. (SAYEG; BALERA, 2011, p. 119)
A limitação de uma dimensão deve ocorrer como fundamento para a promoção de outra, não se sujeitando a conveniências de estados totalitários ou com pretensões de ser, sob pena de desrespeitar o ordenamento jurídico internacional, e no caso brasileiro, o mandamento expresso da Constituição.
5 LIVRE-INICIATIVA E AS SOCIEDADES LIMITADAS
O amplo arcabouço constitucional relacionado à livre-iniciativa não pode ser compreendido de forma dissociada da realidade da prática comercial corrente, imprimindo ao intérprete buscar os fatos que permitam averiguar o seu grau de realização na sociedade.
Ao falarmos da liberdade de empreender como fundamento da ordem econômica, podemos ligar o exercício desta liberdade às formas societárias disponíveis no ordenamento jurídico brasileiro, em decorrência da atividade da empresa organizada juridicamente ser um dos baluartes desta mesma ordem econômica mencionada pelo constituinte.
Dentre as formas societárias, a sociedade limitada é o tipo societário mais popular no Brasil. A documentação disponível do DNRC citada alhures aponta a ampla prevalência das sociedades limitadas. Por outro lado, como é de conhecimento geral, o Decreto 3.708/1919 não mais regula a atividade das sociedades limitadas, estando no Código Civil de 2002 a disciplina jurídica destas empresas, reguladas pelos arts. 1.052 a 1.087, com a possibilidade de serem regidas supletivamente pelas normas das sociedades simples ou pela Lei das Sociedades Anônimas, desde que assim previsto no contrato social da sociedade.
Para fins deste estudo, destacaremos que a responsabilidade dos sócios se limita ao valor de suas quotas da sociedade, havendo a responsabilidade solidária pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 do Código Civil, sendo este o ponto fulcral da relevância das sociedades limitadas.
A popularidade das sociedades limitadas não ocorre somente pela limitação da responsabilidade dos sócios, cujo princípio norteador será tratado mais adiante, mas também pela ausência de valor mínimo para o capital inicial.
Adiantamos que um dos principais motivos para a vulneração da separação patrimonial entre a sociedade e os seus sócios decorre da adequação deste capital social ao empreendimento proposto pelos sócios da limitada. A ausência de obrigação de capital mínimo, ou exigência de avaliação prévia dos bens destinados à sua integralização, seria uma das causas para o crescimento dos casos que a limitação de responsabilidade é afastada. A subcapitalização estaria, portanto, diretamente ligada com a fragilização da pessoa jurídica (GONÇALVES, 2010, p. 153). Visando coibir estas situações, outros ordenamentos jurídicos trazem maiores exigências quanto a integralização do capital, como o art. 64 da “Ley General de Sociedades Mercantiles” do México, que exige a integralização de, pelo menos, metade do capital da sociedade (MORAES, 2005, p. 51). Apesar disso, não existem dúvidas que o estabelecimento de exigência à criação da sociedade limitada acabaria por diminuir uma das suas maiores vantagens: a simplicidade na constituição. A história do Direito demonstra ter sido esta simplicidade o motor para a criação de um novo tipo societário, afastado das largas exigências necessárias para a criação de uma sociedade anônima.
Neste ponto, alterar o regime de integralização e verificação do capital social teria efeitos econômicos importantes, porque o custo para se criar uma sociedade seria transferido à sociedade por meio de produtos e serviços mais caros. Mais uma vez, temos que quaisquer alterações legais devem ser avaliadas do ponto de vista econômico, sob pena do Direito contribuir para a piora da economia nacional.
A limitação de responsabilidade dos sócios a um valor de capital por eles escolhido é o reflexo direto da livre-iniciativa nas possibilidades jurídicas apresentadas ao empresário, ou, em outras palavras, a ampla importância deste princípio no âmbito da sociedade limitada é patente, porque vemos que ele garante que as pessoas, ao se organizarem para empreender, possam fazê-lo das mais diversas formas, e sob níveis de risco que não obriguem o empresário a botar em jogo a sua subsistência. Isso significa que não somente o empresário pode escolher o tipo societário mais adequado às atividades que pretende, como, quando opta por um deles, no nosso caso a sociedade limitada, pode organizá-la internamente da melhor forma que lhe aprouver.
Este aspecto da livre-iniciativa é por vezes identificado como um princípio separado, denominado princípio da autonomia patrimonial da sociedade empresária, se constituindo em uma técnica de segregação de riscos (COELHO, 2014a, p. 80). Estreitamente ligado ao reconhecimento da autonomia da pessoa jurídica, o princípio em questão traz a ideia que as obrigações assumidas pela empresa são cobráveis apenas do seu patrimônio, ficando afastada a possibilidade de se cobrar a concretização dos riscos sobre o patrimônio dos sócios. Também deve ser ressaltado um desdobramento desse princípio, que seria o princípio da subsidiariedade da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, pelo qual exige-se o exaurimento do patrimônio das sociedades antes da responsabilização direta dos sócios.
A autonomia patrimonial da sociedade empresária é um valor essencial da estrutura capitalista moderna, porque permite a exploração de atividades complexas e custosas com certa previsibilidade dos riscos a serem assumidos. É de se reconhecer que o desrespeito ao princípio torna estas atividades menos atrativas ao empresário comum, que não dispõe de patrimônio pessoal para assumir as questões da sua empresa.
Parte da bibliografia nacional consultada, fundada nas noções da escola Law and Economics, vê na insegurança quanto a proteção ao direito de propriedade, e nas instituições jurídicas em geral – e aqui incluímos a separação patrimonial da pessoa jurídica – um problema central na relação do Direito e do crescimento econômico (TIMM; CAOVILLA, 2012. p. 213-214).
A instabilidade na proteção do patrimônio pessoal do empresário pode ser encarada sob a ótica do custo de oportunidade, segundo a qual o custo de uma determinada atividade deve ser computado somando-se o que se deixou de ganhar pelo não exercício de outra atividade. Nessa linha de raciocínio, sem a adequada proteção deste princípio, um eventual empresário teria de lançar mão de diversos expedientes para proteger o seu patrimônio, e até mesmo limitar as atividades da sua empresa justamente por não contar com a necessária segregação do risco, de forma que recursos e esforços que seriam melhores empregados no aperfeiçoamento da produção são utilizados para suprir as ineficiências de um sistema jurídico extremamente arriscado para a atividade empresarial.
Finalmente, abordando a livre-iniciativa na sociedade limitada pelo viés do princípio da subsidiariedade da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, temos que, sem a limitação mencionada neste princípio, qualquer empreitada seria extremamente arriscada, porque teria a potencialidade de exaurir todas as reservas financeiras do empresário, com dois resultados: (i) tornaria a empresa uma atividade para poucos, que buscariam lucros excessivos e, após conseguirem se manter, virtualmente dominariam o mercado; (ii) geraria um problema social, pois aqueles que não tivessem sucesso certamente perderiam grande parte do seu patrimônio, sem a possibilidade de empreender novamente, e sob as custas do sistema da seguridade e assistência social.
Inclusive podemos vislumbrar que a sociedade empresarial assume a sua utilidade máxima quando prevê uma forma de limitação da responsabilidade dos sócios, o que é amplamente percebido pelo declínio dos tipos societários que não oferecem esta possibilidade (GONÇALVES, 2010, p. 67).
O princípio da livre-iniciativa, portanto, encontra na sociedade limitada uma das suas formas mais acessíveis de expressão, mas que vem sendo vulnerado por relativizações da separação patrimonial da empresa e os seus sócios, gerando um déficit de efetividade deste princípio, como veremos a seguir.
6 EFETIVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE-INICIATIVA CONSTITUCIONAL NA PROTEÇÃO ÀS SOCIEDADES LIMITADAS – CONFLITOS COM A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Nos títulos anteriores exploramos algumas questões essenciais, quais sejam: (i) que a proteção patrimonial prevista na Declaração dos Direitos Humanos compreende também a propriedade organizada coletivamente, incluindo a organização empresarial; (ii) que a Constituição de 1988 fundamentou a Ordem Econômica no valor da livre-iniciativa, que pode ser diretamente ligada à noção que o direito de organizar a própria atividade econômica é um Direito Humano; (iii) que a livre-iniciativa é fundamento essencial aos princípios que norteiam a separação do patrimônio da empresa e dos seus sócios.
Partindo das premissas acima, a livre-iniciativa é fundamento da ordem econômica, bem como fundamenta e justifica a separação patrimonial entre a empresa e os seus sócios.
A sua efetividade, destarte, se encontraria na preservação desta técnica de segregação mesmo nos casos em que a empresa não atinja os resultados econômicos desejados, pois, assim, o empreendedor veria que a sua decisão sobre como empregar apenas parte do seu patrimônio seria respeitada, para que ele, eventualmente, pudesse em outro momento mais favorável buscar outras empreitadas, movimentando a economia sob a égide deste princípio.
No entanto, é comum encontrar na jurisprudência[9] e na doutrina hipóteses cada vez mais frequentes de desconsideração da personalidade jurídica[10], que acabam por vulnerar este princípio, gerando uma redução na sua efetividade.
Deve-se ressaltar que nem toda hipótese de responsabilidade dos sócios está sob o manto da desconsideração. Existem situações expressamente previstas em lei[11] que ensejam a responsabilidade dos sócios, de forma subsidiária ou solidária, sem atentar contra a estrutura da pessoa jurídica, sendo que um dos exemplos mais explorados pela doutrina se encontra no art. 135 do Código Tributário Nacional. Comentando o artigo, José Eduardo Soares de Melo entende que se trata de “exigência tributária direta de terceiros que praticaram atos irregulares, em nome dos contribuintes, sem determinar prévia, ou concomitante, exigência destes” (MELO, 2004, p. 158-160), para então concluir que não se trata de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.
Afastadas as hipóteses de previsão legal expressa, a desconsideração é ligada ao ato jurisdicional que afasta a separação patrimonial em um caso concreto, para produzir efeitos somente sobre o fato fraudulento, mantendo-se intactos os atos constitutivos da empresa para todos os outros fins que não aqueles relacionados ao motivo que ensejou a aplicação da teoria.
No direito positivo brasileiro encontramos alguns casos que podem ser entendidos como normas que expressamente tratam da teoria da desconsideração, o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o art. 34 da Lei 12.529/2011 e o art. 4º da Lei 9.605/1998. Com a edição do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que em seus arts. 133 a 137 traz expressamente a regulação do “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, passamos também a não ter mais a necessidade de uma ação autônoma, possibilitando a instauração de um incidente no âmbito de um processo já existente. Veja-se que o art. 133, § 2º também consagra no ordenamento brasileiro a chamada “desconsideração inversa” da personalidade jurídica, que significa a responsabilização direta da pessoa jurídica por obrigações pessoais do sócio.
Para que a desconsideração da personalidade jurídica não seja aplicada indiscriminadamente, é necessário que o princípio da livre-iniciativa seja entendido como integrante de uma Constituição que visa ter “força vinculante dos princípios” (MOREIRA NETO, 2005, p. 273) nela encartados. Tais princípios são exigíveis pela via judicial, e no âmbito de uma Constituição inserida na pós-modernidade, se prestam a proteger a humanidade em todas as suas potencialidades, inclusive aquelas de cunho econômico.
Ignorar a autonomia patrimonial da sociedade limitada sem a devida fundamentação, ou com uma fundamentação que não atente ao fato de estarmos protegendo um princípio constitucional fundamental, pode ser encarado como um ato de violência simbólica, instituindo uma luta de classes que se procura debelar pela conciliação no texto constitucional, a partir do momento que o trabalho e a livre-iniciativa são colocados em conjunto ao sagrarem-se fundamentais à República e à ordem econômica.
O princípio da livre-iniciativa, diretamente conectado com a proteção à propriedade privada coletiva, e os princípios da autonomia patrimonial da sociedade empresária e da subsidiariedade da responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, devem ser tomados pelo viés prospectivo (MOREIRA NETO, 2005, p. 277), de forma que os atos dos Poderes que compõem a União possibilitem a criação de novas empresas socialmente responsáveis e alinhadas aos demais valores constitucionais, em detrimento do viés retrospectivo, pelo qual a atuação – principalmente do Poder Judiciário – se dá sobre fatos pretéritos, procurando corrigir injustiças.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
À guisa de conclusão, passaremos a tecer algumas considerações finais sobre tudo quanto exposto.
Destarte, no transcorrer deste estudo, percebeu-se que a livre-iniciativa, algo que temos como inerente ao ser humano, de longa data é regulada pelo Estado, que reconheceu na proteção da organização dos particulares uma forma de permitir que as pessoas buscassem sua própria felicidade e garantissem a subsistência em sociedades economicamente complexas, onde atividades individuais ou em pequenos grupos não seriam capazes de criar a grande variedade de produtos e serviços associados ao progresso da humanidade.
Dentro do movimento que ensejou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode-se perceber visões que de certa forma se aproximaram para garantir o direito de propriedade. Mesmo se considerarmos as divergências entre o bloco socialista, que sujeitava a propriedade à regulação estatal, e o bloco capitalista, que buscava um texto simplificado que visasse a manutenção da liberdade fora dos ditames estatais, a propriedade “em sociedade com os outros” é o indicativo que a união de várias pessoas já era percebida como o motor para o desenvolvimento.
Em relação ao Brasil, a história não seria diferente. A evolução constitucional expõe que o trabalho humano e a livre-iniciativa já ocupavam as ideias do constituinte desde a Constituição de 1824. Sob esta visão, observamos que os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa insculpidos no art. 170, sem prejuízo dos demais princípios que abordamos ao longo do texto, não são meras indicações de valores a serem eventualmente perseguidos pelo Estado, mas se tratam de ordens que devem ser cumpridas à máxima efetividade. Destacamos ainda que a moderna concepção do direito de propriedade não se opõe aos demais direitos sociais e aos Direitos Humanos em sua totalidade, mas se alinha a estes direitos, visando dar condições materiais para o pleno exercício das potencialidades humanas.
Quando consideramos a prática forense atual, o remate a ser feito reside numa falsa percepção da importância da separação patrimonial das empresas e os seus sócios, como é permitido pela criação de sociedades limitadas, o tipo de sociedade personificada mais popular e o objeto deste trabalho.
Pelo que foi amealhado quando da pesquisa, foram encontrados diversos textos legais que fragilizaram a independência entre os patrimônios da empresa e dos quotistas, o que, se de um lado facilita a cobrança por credores, impõe mais riscos à atividade empresarial, o que enseja custos em cadeia para que possamos tratar de atividades lucrativas. É assim que enxergamos, por exemplo, a facilitação da desconsideração promovida pelo atual Código de Processo Civil em seus arts. 133 a 137, que passam a ser aplicados junto a outros textos legais que privilegiam a ampla busca na satisfação de créditos contra as empresas em detrimento da racionalização do risco empresarial: o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o art. 34 da Lei 12.529/2011 e o art. 4º da Lei 9.605/1998.
Fundada na interpretação do texto constitucional e nos tratados internacionais, visamos demonstrar que os argumentos a favor da ampla desconsideração devem ser admitidos cum grano salis. Proteger a constituição legítima de sociedades limitadas é dar oportunidade a empreendedores de todos os matizes, e se alinha à proposta de termos instrumentos jurídicos efetivos, que auxiliam na resolução os conflitos apresentados pela sociedade (SALAMA, 2008, p. 61) – no nosso caso, os conflitos característicos da economia, centrados na distribuição de recursos escassos.
Para tanto, como derradeira mensagem, têm-se que é essencial que o princípio da livre-iniciativa seja reconhecido como de igual valor dos demais princípios constitucionais, para que o empresário criador de novas iniciativas se sinta confortável e guarnecido na ordem jurídica, e não sob a pressão constante de riscos superiores aos que ele pode assumir. A efetividade da livre-iniciativa como fundamento para a separação patrimonial, para milhares de sócios de sociedades limitadas em funcionamento no Brasil, passa a ser a forma jurídica de racionalização dos riscos, e a sua defesa adequada, a contribuição que a comunidade jurídica pode dar ao desenvolvimento nacional.
8 REFERÊNCIAS
ABBOUD, Georges et al. Introdução à teoria e à filosofia do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
BALERA, Wagner (Coord.). Comentários à Declaração Universal dos Direitos do Homem. Brasília: Fortium, 2008.
BULGARELLI, Waldirio. Direito Comercial. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
CARSS-FRISK, Mônica. The right to property. Bélgica: European Council, 2001.
COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 1 e 2.
COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
GONÇALVES, Oksandro Osdival. A relativização da responsabilidade limitada dos sócios. 249 f. Tese (Doutorado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010.
GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
JAPIASSU, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. São Paulo: Jorge Zahar, 1990.
LAMY FILHO, Alfredo. A Empresa – Formação e Evolução – Responsabilidade Social. In: SANTOS, Theophilo de Azeredo (Coord.). Novos Estudos de direito comercial em homenagem a Celso Barbi Filho. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
MASCARO, Alysson Leandro. Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2008.
MELO, José Eduardo Soares de. A desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil e o reflexo no direito tributário. In: GRUPENMACHER, Betina Treiger (Coord.). Direito Tributário e o Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004.
MORAES, Luiza Rangel de. Das responsabilidades dos sócios nas sociedades limitadas e nas sociedades anônimas à luz do novo Código Civil e da Lei das Sociedades por Ações. Da aplicação da Desconsideração da Personalidade Jurídica. In: WALD, Arnoldo; FONSECA, Rodrigo Garcia da (Coords). A empresa no terceiro milênio: aspectos jurídicos. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005.
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Organização Política e Constituição: as relações de poder em evolução e seu controle. In: TÔRRES, Heleno Taveira. Direito e poder: nas instituições e nos valores do público e do privado contemporâneos. Barueri: Manole, 2005.
MORSINK, Johannes. The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent. Estados Unidos da América: University of Pennsylvania Press, 1999.
PAIVA, Carlos Águedo Nagel; CUNHA, André Moreira. Noções de Economia. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008.
PERSKY, Joseph. Retrospectives: The ethology of homo economicus. The Journal of Economic Perspectives, Estados Unidos da América, Pittsburgh, v. 9, n. 2, p. 221-231, 1995.
PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2008.
REALE, Miguel. A ordem econômica na Constituição. In: De Tancredo a Collor. 2. ed. São Paulo: Siciliano, 1992. p. 334. Apud COSTA, Maurício de Moura. O princípio constitucional de livre concorrência. Revista do IBRAC – Direito da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. São Paulo, v. 5, p. 8-27, 1998.
SALAMA, Bruno Meyerhof. O que é “Direito e Economia”. In: TIMM, Luciano Benetti (Org.). Direito & Economia. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
SALOMÃO FILHO, Calixto. O novo Direito Societário. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.
SAMPAIO, Nelson de Souza. O poder de reforma constitucional. Salvador: Progresso, 1954.
SAYEG, Ricardo; BALERA, Wagner. O capitalismo humanista. Filosofia humanista de Direito Econômico. Petrópolis: KBR, 2011.
SIMÃO FILHO, Adalberto. A nova sociedade limitada. Barueri: Manole, 2004.
TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Método, 2006.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999. v. II.
TIMM, Luciano Benetti; CAOVILLA, Renato Vieira. Propriedade e desenvolvimento: análise pragmática da função social. In: CAMBLER, Everaldo Augusto (Org.). Fundamentos do direito civil brasileiro. Campinas, SP: Millennium, 2012.
ZAGO, Livia Maria Armentano Koenigstein. O princípio da impessoalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
Notas de Rodapé
[1] Advogada; Doutora em Direito Econômico; Mestra em Direito Constitucional; Professora da Faculdade de Direito e da Faculdade de Administração e Economia da PUC-SP.
[2] Advogado; Mestrando em Direito Econômico – PUC-SP; Especialista em Direito Tributário – COGEAE-SP.
[3] Dados completos disponíveis em: <http://drei.smpe.gov.br/assuntos/estatisticas/pasta-mensal-nacional-2015/relatorio-estatistico-mensal-maio-2015.pdf>. Acesso em: 05 set. 2015.
[4] Neste ponto é interessante notar que: “Há direitos, como o do Reino Unido (Farrar-Hannigan, 1985: 79/81), que associam a personalização da sociedade à limitação da responsabilidade dos sócios”. In: COELHO, 2014b, p. 25.
[5] Idem, ibidem, p. 85.
[6] Neste sentido: “Esses instrumentos, também chamados mecanismos, ou, como quer Tullio Ascarelli, ‘maquinismos jurídicos’, é que têm servido ao desenvolvimento da economia, mais precisamente do capitalismo” (BULGARELLI, 2000, p. 17).
[7] A330-A (1995).
[8] Disponível em: <https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-01-19/richest-1-will-own-more-all-rest-2016>. Acesso em: 25 mar. 2016.
[9] Destacamos os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: REsp 1315110/SE e REsp 1250582/MG. Do Tribunal Superior do Trabalho, destacamos: AIRR: 14940-18.2004.5.20.0011.
[10] Tratando da relativização da separação patrimonial, não trataremos das hipóteses de responsabilidade pessoal dos sócios expressamente previstas no Código Civil, em virtude de tratarem da responsabilidade ilimitada por irregularidades cometidas. Neste sentido, vide arts. 1.010, § 3º; 1.009; 1.012; 1.015; 1.016; 1.017; 1.059; 1.158, § 3º, e principalmente o art. 1.080, quando traz a responsabilidade ilimitada aos sócios que aprovarem deliberações contrárias à lei ou ao contrato social.
[11] Neste sentido, temos a responsabilidade do acionista controlador por abuso de poder, conforme art. 117 da Lei 6.404/1976.