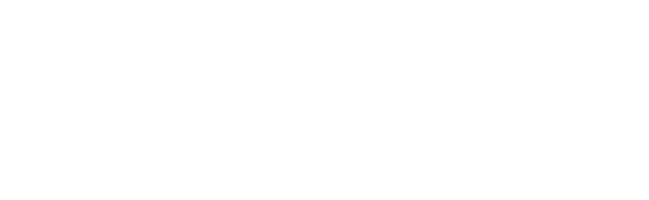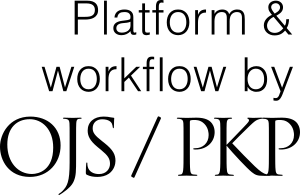O princípio da proporcionalidade ante a árdua ‘escolha de Sofia’ nas decisões judiciais
The principle of proportionality before the hardship ‘Sophie's choice’ in judicial decisions
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.23
Recebido/Received 28/07/2024 – Aprovado/Approved 18/09/2024
Arlete Inês Aurelli[1] – https://orcid.org/0000-0002-9162-6513
Rita de Cássia Curvo Leite[2] – https://orcid.org/0000-0003-3500-8670
Resumo
Quais ferramentas deve o julgador utilizar em situações de conflito entre direitos igualmente relevantes? É objetivo geral deste ensaio justamente identificar os parâmetros a serem adotados quando o julgador enfrenta um dilema a exigir uma ‘escolha de Sofia’. Não se pode negar que a fundamentação das decisões judiciais deve estar amparada pelo Direito, apoiada nos fatos trazidos ao julgador e alicerçada no ordenamento jurídico. Todavia, nem sempre há respostas prontas a todas as demandas. Em situações de dúvida, pode-se recorrer ao feixe principiológico igualmente integrante do sistema. Dentre os princípios que servem de bússola na direção da escolha, de se destacar o da proporcionalidade. É objetivo específico deste estudo, pois, reconhecer no princípio da proporcionalidade uma forma eficaz de resolução de conflitos árduos. Para tanto, adotaram-se alguns procedimentos metodológicos: análise doutrinária além da seleção de casos práticos. O método de pesquisa bibliográfica associado aos indutivo e comparativo permitiram demonstrar que o princípio da proporcionalidade serve como norte ao julgador no enfrentamento de casos conflitivos. O resultado da pesquisa destaca que a aplicação do princípio da proporcionalidade não só equilibra os limites decisionais como, ainda, evita o excesso, de modo que ao proceder a ‘escolha de Sofia’, deve-se ter em mente que eventuais desvantagens causadas por uma decisão não podem jamais superar as vantagens por ela alcançadas. Como considerações finais, recomenda-se adotar o princípio da proporcionalidade como ferramenta hábil a suplantar a intrincada ‘escolha de Sofia’.
Palavras-chave: Árduas decisões judiciais. A escolha das técnicas de fundamentação das decisões. Princípio da Proporcionalidade.
Abstract
What tools should the judge use in conflict situations between equally relevant rights? The general objective of this essay is to identify the parameters to be adopted when the judge faces a dilemma that requires a ‘Sophie's choice’. It cannot be denied that the reasoning for judicial decisions must be supported both by the Law and the facts brought to the judge and based on the legal system. However, there are not always ready answers to all demands. In situations of doubt, one can resort to the principles that are also member of the system. Among the principles that serve as a compass in the direction of choice, proportionality stands out. The specific objective of this study, therefore, is to recognize the principle of proportionality as an effective way of resolving difficult conflicts. To this end, some methodological procedures were adopted: doctrinal analysis in addition to the selection of practical cases. The bibliographical research method associated with the inductive and comparative methods allowed demonstrating that the principle of proportionality serves as a guide for the judge in facing conflicting cases. The research result highlights that the application of the principle of proportionality not only balances decisional limits but also avoids excess, so that when proceeding with ‘Sophie's choice’, it must be borne in mind that possible disadvantages caused by a decision can never outweigh the advantages achieved by it. As final considerations, it is recommended to adopt the principle of proportionality as a skillful tool to overcome the intricate ‘Sophie’s choice’.
Keywords: Difficult judicial decisions. The choice of decision-making techniques. Principle of Proportionality.
Sumário: 1. Introdução; 2. Princípios como balizas decisionais; 3. A distinção entre princípios e regras; 4. Compreendendo o Princípio da Proporcionalidade; 4.1. Aplicação do princípio da proporcionalidade a partir da técnica da ponderação; 5. Breves comentários sobre o Princípio da Proporcionalidade no Direito Estrangeiro; 6. Exemplos práticos de adoção do Princípio da Proporcionalidade diante da ´escolha de Sofia´; 6.1. Tutelas Provisórias de Urgência; 6.2. Medidas executivas atípicas; 7. Conclusões; 8. Referências.
1 INTRODUÇÃO
Em a ‘escolha de Sofia’, romance de Willian Styson, que serviu de inspiração para a película homônima que consagrou Meryl Streep como melhor atriz em 1982, conta-se a história de Sofia, uma polonesa que, sob a acusação de contrabando, é presa com seus dois filhos menores, um menino e uma menina, no campo de concentração de Auschwitz, durante a II Guerra Mundial.
O drama, que utiliza o flashback (cortar para trás) como recurso analéptico de narrativa em que uma cena do presente é sucedida por outra do passado, coloca holofotes nos fantasmas emocionais vivenciados por Sofia e os impactos perenes em seu comportamento e psiquê desencadeados a partir de uma decisão a que foi compelida tomar divorciada de sua vontade e absolutamente distante de seus anseios. A narrativa revive o momento em que um perverso e desumano oficial nazista ordena que Sofia opte por salvar a vida de apenas um de seus filhos ou ambas morreriam levados às câmaras de gás. A personagem se vê, assim, ante uma árdua e insuplantável decisão que vai aterrorizá-la por toda a vida.
A expressão ‘escolha de Sofia’ tem sido utilizada, pois, para invocar a imposição de se tomar uma decisão difícil sob pressão, forte emoção e enorme sacrifício pessoal, sempre que se afiguram situações nas quais são colocados em xeque caminhos distintos para os quais é imperioso seguir, abrindo-se mão do outro.
Nesse contexto, também o Direito se vale da máxima nos casos em que cabe a cada pessoa, diante de diferentes variáveis e possibilidades, deliberar por uma delas em detrimento da outra.
Inegavelmente expostos à tomada de decisões – eis que da essência de seu ofício – os magistrados, no exercício da judicatura, deparam-se, rotineiramente, com situações nas quais suas escolhas decisionais assemelham-se àquela de Sofia.
Não raras vezes, os juízes se veem diante de um dilema ao qual não podem simplesmente escapar; ao contrário, devem enfrentá-lo valendo-se de técnica fundamentada, ao arrepio de suas próprias vaidades e convicções pessoais, frente a seriedade de sua função e a certeza de que a atividade judicante não deve ser discricionária.
Quais ferramentas deve o julgador usar em situações de conflito entre direitos igualmente relevantes? Como e onde selecioná-las?
É objetivo geral deste pequeno ensaio identificar os parâmetros a serem adotados quando o julgador enfrenta um dilema a exigir uma ‘escolha de Sofia’, isso porque, bem se sabe, nem sempre há respostas prontas para todas as demandas.
Nas situações de dúvida, pode o julgador recorrer ao feixe principiológico igualmente integrante do sistema. Dentre os princípios que servem de bússola na direção da escolha, de se destacar o da proporcionalidade em torno do qual gravitará a pesquisa.
Justamente por isso, é objetivo específico deste ensaio, não só reconhecer que o princípio da proporcionalidade corresponde a uma forma eficaz de resolução de conflitos árduos como, ainda, vê-lo aplicado em alguns casos práticos criteriosamente selecionados como, por exemplo, no enfrentamento das tutelas provisórias de urgência ou, ainda, nas discussões que envolvem a utilização de medidas executivas atípicas.
Para alcançar esse desiderato, fez-se a análise doutrinária, por meio do método de pesquisa bibliográfica associado aos indutivo e comparativo por meios dos quais foi possível demonstrar não só a eficiência como, ainda, a utilidade do princípio da proporcionalidade.
O resultado da pesquisa destaca que a aplicação do princípio da proporcionalidade não só equilibra os limites decisionais como, ainda, evita o excesso, de modo que ao proceder a ‘escolha de Sofia’, deve-se ter em mente que eventuais desvantagens causadas por uma decisão não podem jamais superar as vantagens por ela alcançadas. Como considerações finais, recomenda-se adotar o princípio da proporcionalidade como ferramenta hábil a suplantar a intrincada ‘escolha de Sofia’.
2 PRINCÍPIOS COMO BALIZAS DECISIONAIS
O termo princípio padece do vício da polissemia, podendo ser empregado em diversas situações e com variados significados[3].
Para os fins a que se destina o presente ensaio, deve-se tomá-lo como norte, guia, linha diretiva que ilumina a construção decisional a partir da apreciação de casos concretos de difícil solução para os quais o julgador não encontra no ordenamento uma única e pronta resposta. Diante desse cenário nebuloso em que se chocam valores, vetores e opiniões, deve-se recorrer a um repertório amplificado que exige uma análise sistêmica ante um dado feixe de normas. Dentre tais normas, lá estão os princípios, agindo como uma verdadeira força centrípeta, atraindo em torno de si regras jurídicas que caem sob seu raio de influência e manifestam a força de sua presença[4].
A pesquisa sobre a qual se debruçará caminha justamente nesse terreno pantanoso que demanda do órgão julgador uma atuação mais vigorosa e autoral nas situações em que está inserto em ambiente decisional árduo e frouxo[5], vale dizer naquelas hipóteses em que o julgador tem maior liberdade de interpretar o direito a partir da conjugação de elementos disponíveis no próprio sistema, dentre os quais se destacam, a lei, a jurisprudência, a doutrina, além dos conceitos indeterminados, das cláusulas gerais[6], e, claro, os princípios gerais do direito.
Inegavelmente, a Constituição Federal de 1988 serviu como tutano à propagação principiológica; não menos certo que alguns dos princípios consagrados pela Carta Magna passaram a ter aplicação basilar como signos interpretativos ao ordenamento jurídico, como sói ocorrer na realização de atos e negócios jurídicos, na aplicação das leis, na seleção das regras e no embasamento das decisões judiciais.
É o que ocorre, por exemplo, quando a fim de preservar a ética nas relações interpessoais, se prima pela boa-fé objetiva, ou com o intuito de manter o equilíbrio econômico entre os contratantes, dá-se valia à função social, ou, finalmente, ao garantir a todos acesso à justiça, preserva-se o contraditório e a ampla defesa.
Os princípios funcionam, assim, como uma cápsula que preserva a integridade sistêmica do ordenamento, alguns com aplicação mais ampla, outros com ingerência mais restrita, mas, sem sombra de dúvida, todos como condutores de uma carga de tessitura aberta, visíveis (e algumas vezes invisíveis), mas constantemente presentes nas decisões judiciais.
Realmente, os princípios exercem papel preponderante no exercício da atividade judicial, passando, cada vez mais, a impactar o próprio seio da sociedade. Ao juiz cabe, pois, o poder-dever de encontrar a técnica processual adequada ao caso concreto que viabilize a proteção do direito material, recorrendo, também, ao espectro principiológico e selecionando aquele que melhor atenda à hipótese in concreto.
Mas, serão os princípios gerais do direito acionados na fundamentação das complexas decisões judiciais?
É preciso ter presente que o juiz, na sua atividade cognitiva, ao analisar direitos em conflito, deve observar os ditames da norma jurídica em sentido amplo. Assim, se há conflitos entre leis, por exemplo, deve resolvê-los pelos critérios de solução de antinomia de normas. Se houver lacuna na lei, deve buscar, primeiramente, pelos colmatadores de lacunas. No caso de haver conflitos entre princípios, deve usar a ponderação para avaliar entre os direitos protegidos por esses princípios, quais desses direitos carregam em si o valor mais relevante a ser protegido, hipótese em que, inegavelmente, realizará a árdua ´escolha de Sofia´.
Assim, uma das questões que mais impactam a atividade judicial, realçando a sua função social[7], está na difícil seleção quando, por exemplo, se afiguram dois direitos fundamentais de igual envergadura, devendo opinar por apenas um deles em detrimento do outro. Não podendo o julgador basear-se em suas convicções pessoais tampouco em seus próprios valores, eis que a atividade judicial não é discricionária[8], será preciso seguir limites formais para apurar qual desses direitos deverá ser protegido.
Um desses limites está na adoção do princípio da proporcionalidade[9] sobre o qual se discorrerá linhas abaixo. Antes, contudo, importante compreender a diferença entre princípios e regras.
3 A DISTINÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E REGRAS
Em primeiro lugar, é certo que normas compreendem regras e princípios, como atesta José Joaquim Gomes Canotilho[10], que sugere os seguintes critérios para estabelecer a necessária distinção entre eles, a saber:
A) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida. B) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras são suscetíveis de aplicação direta. C) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes do direito: os princípios são normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de Direito). D) Proximidade da ideia de direito: os princípios são ‘standards’ juridicamente vinculantes radicados nas exigências de ‘justiça’ (Dworkin) ou na ‘ideia de direito’ (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional. F. [sic] Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante.
Assim, as regras são normas jurídicas com alto grau de determinação que descrevem uma hipótese fática, induzindo aos efeitos nela previstos, quando ocorrer os fatos delas constantes. É a chamada fattiespecie normativa. Já os princípios possuem um grau maior de indeterminação, constituindo normas amplas, com alto grau de generalização e, em geral, são constituídos de conceitos vagos e, ainda, de caráter fundante. Exemplo destes últimos seria o disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal brasileira, enquanto exemplo de regra seria aquela que estabelece que os prazos para interposição de recursos são de 15 (quinze) dias.
Nesse mesmo sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello[11] em cuja lição os princípios aparecem como mandamentos nucleares de um sistema, disposições fundamentais que atendem diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. De acordo com esse entendimento, pode-se chegar à conclusão de que proporcionalidade/razoabilidade insertas no artigo 8º do CPC/2015 constituem princípios e não regras.
Debrucemo-nos, pois, sobre o princípio da proporcionalidade.
4 COMPREENDENDO O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
O princípio da proporcionalidade, na esfera civil, foi regrado, pela primeira vez, no Código de Processo Civil, ao lado da razoabilidade e outros mais, na dicção do artigo 8º, no capítulo das normas fundamentais.
Apesar de o legislador ter pretendido estabelecer diferença entre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na doutrina, em regra, ambos são tratados como se tivessem o mesmo significado e a mesma função.
Marcelo José Magalhães Bonício[12], entretanto, afirma haver diferença entre os termos, ao explicar que a ideia de razoabilidade está inserida na de proporcionalidade, mas esta significa muito mais que a busca do razoável. Razoável, assevera, é decidir de forma equilibrada, sem excessos ou omissões. Já a proporcionalidade envolve os subprincípios da conformidade, adequação, exigibilidade ou necessidade e a própria proporcionalidade em sentido estrito.
Leonardo Carneiro da Cunha[13], por sua vez, entende que a razoabilidade trata da legitimidade da escolha dos fins em nome dos quais o Estado irá agir, enquanto a proporcionalidade averigua se os meios são necessários, adequados e proporcionais aos fins escolhidos. E conclui:
na aplicação tanto da razoabilidade quanto da proporcionalidade há um juízo de ponderação. A ponderação exige fundamentação detalhada com a demonstração dos critérios utilizados, tal como exigido pelo art. 489, § 2º do CPC/15.
João Batista Lopes[14], por sua vez, afirma que:
Verifica-se, porém, que, apesar da semelhança, esses vocábulos não têm o mesmo significado. Proporcionalidade, no campo jurídico, consiste na ponderação a respeito de princípios conflitantes para se saber qual deles deve efetivamente ser aplicado no caso concreto. Já a razoabilidade tem relação com a normalidade da conduta, com o senso comum, com o quod plerumque accidit[15]. Por exemplo, é razoável ter um cão em apartamento, mas não é tolerável ter cinco pitbulls; reunir amigos para comemoração é normal, mas não o é perturbar o sono dos vizinhos durante a madrugada.
Normalmente, os juristas relacionam o princípio da proporcionalidade com a proteção contra o excesso e a razoabilidade com a lógica do razoável[16].
Dinamarco[17] afirma que proporcionalidade e razoabilidade seriam dois valores democráticos que se complementam e em alguma medida se sobrepõem, ambos constituindo limitações ao exercício do poder jurisdicional, como ordena a garantia constitucional do devido processo legal. A proporcionalidade seria o justo equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem alcançados; a razoabilidade a aderência das decisões às realidades do caso concreto, conforme o sentimento comum do grupo social e as legítimas expectativas do homem médio. Afirma, também, que a proporcionalidade e razoabilidade resolvem-se na ponderação entre objetivos a serem atendidos pelas decisões judiciárias e o grau de restrições a serem impostas à outra parte.
Para os fins da presente pesquisa adotar-se-á a visão de Leonardo Carneiro da Cunha que vislumbra tanto na proporcionalidade como na razoabilidade elementos necessários para realizar a ponderação diante da escolha para proteção de direitos, sendo que a proporcionalidade se refere aos meios necessários para alcançar essa proteção, ao passo que a razoabilidade atine aos fins, vale dizer, a preocupação com a finalidade para a qual se realizou uma dada escolha.
4.1 Aplicação do Princípio da Proporcionalidade a Partir da Técnica da Ponderação
A aplicação do princípio da proporcionalidade implica em adequar, sopesar, devendo-se a ele chegar, pois, a partir da técnica da ponderação[18].
Como adverte Robert Alexy[19], a técnica da ponderação decompõe-se em três passos parciais, ou seja:
Em um primeiro passo, deve ser comprovado o grau do não cumprimento ou prejuízo de um princípio. Em um segundo passo, deve-se seguir a comprovação da importância do cumprimento do princípio em sentido contrário. Em um terceiro passo, deve-se, finalmente, comprovar-se se a importância do cumprimento do princípio em sentido contrário justifica o prejuízo ou não-cumprimento do outro [...]. Assim, o dever dos produtores de tabaco de colocar em seus produtos referências aos perigos do fumo para a saúde é uma intervenção relativamente leve na liberdade de profissão. Uma proibição completa de todos os produtos de tabaco deveria ser classificada como intervenção grave. Entre tais casos leves e graves deixam classificar-se casos de intensidade de intervenção média. Um exemplo seria a proibição de automáticos de cigarro juntamente com a limitação da venda de produtos de tabaco a determinados negócios. Desse modo, nasce uma escala com os graus ‘leve’, ‘médio’ e ‘grave´.
Nessa esteira, como se vê em Alexy, por meio da ponderação entre princípios será possível avaliar a adequação da decisão judicial aquilatando-a proporcional quando a justificativa pela opção por um princípio em detrimento do outro gerar mais benefícios que malefícios revelando-se a melhor solução possível de maneira que o julgador não seja um ditador, mas um democrata.
Até o momento se demonstrou útil valer-se do princípio da proporcionalidade, ao qual se alcança por meio da ponderação, sempre que houver princípios em rota de colisão. No entanto, seria viável adotá-lo também quando houver direitos (e direitos fundamentais) em tensão dialética?
A maior parte da doutrina afirma que o princípio da proporcionalidade somente pode ser utilizado para orientar o entrechoque principiológico. Ousar-se-á nesse ensaio, contudo, sustentar servir também quando houver tensão entre direitos.
Essa também é a posição de Marcelo Figueiredo[20] quando aduz:
O fundamental, parece, será buscar um ponto ótimo de equilíbrio entre os direitos, envolvendo princípios tidos por em conflito. Não é tarefa fácil tal atividade exegética por vários motivos. Primeiro porque os direitos fundamentais – como em larga medida todos os direitos – estão sujeitos a limites. Evidentemente, o primeiro deles deve estar na própria Constituição. É preciso ver como o direito fundamental foi plasmado pelo texto constitucional, sua textura, sua densidade normativa, suas condicionantes, sua extensão, suas implicações.
De fato, muitas vezes, na verdadeira “escolha de Sofia” será dado ao juiz avaliar a colidência entre princípios sem escapar de enfrentar, outrossim, o entrechoque entre direitos. É o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses em que o juiz ao analisar o pedido de tutela provisória antecedente, se depara com o conflito entre dar prevalência ao princípio do contraditório, permitindo a manifestação do réu, ou privilegiar a duração razoável do processo e a efetividade da tutela, entregando o direito à parte autora, de imediato. Veja-se que ao analisar a colisão de princípios para privilegiar um deles, o juiz, ao fim e ao cabo, avalia igualmente os direitos em xeque.
Eis a razão pela qual parte-se do pressuposto de se aplicar o princípio da proporcionalidade a partir da técnica da ponderação também quando houver a colidência entre direitos, inclusive fundamentais[21].
5 BREVES COMENTÁRIOS SOBRE O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO DIREITO ESTRANGEIRO
A adoção ao princípio da proporcionalidade como mecanismo a enfrentar a árdua ‘escolha de Sofia’ não é privilégio nacional. Muito pelo contrário.
Como esclarece Carlos Bernal Pulido[22] o princípio da proporcionalidade é um critério jurídico utilizado ao redor do mundo para a proteção dos direitos fundamentais.
Esse princípio nasceu na Alemanha, esclarece Willis Santiago Guerra Filho[23], cunhado tal qual ‘princípio da proporcionalidade’, em trabalho científico desenvolvido por Rupprecht v. Krauss, tanto assim que foi o direito alemão, especialmente sua doutrina, e, ainda, o direito português[24], além do austríaco, os precursores de sua propagação em solo nacional.
O Tribunal Constitucional Federal alemão, inclusive, definiu a proporcionalidade em sentido amplo alçando-a à estatura constitucional, derivada do princípio do Estado de Direito e também da essência dos direitos fundamentais.
Assim, também, o Tribunal Constitucional espanhol ao determinar o uso do princípio da proporcionalidade como parâmetro de controle de constitucionalidade, como quando se trata de proteger direitos fundamentais em face de limitações ou constrições, provenham de normas ou resoluções singulares. Na Espanha, assim como em Portugal, o princípio da proporcionalidade é utilizado a fim de romper com o passado autoritário experienciado por ambos os países, como um compromisso explícito com a maior proteção possível dos direitos fundamentais e humanos.
Semelhante orientação se destaca nas decisões proferidas pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos permitindo que os Estados-membros da união europeia tenham certa liberdade, em suas deliberações, ao aplicar o princípio da proporcionalidade.
A maioria dos Tribunais e Cortes Constitucionais contemporâneos valem-se do princípio da proporcionalidade como critério hermenêutico de controle da constitucionalidade das leis e normas jurídicas. É o que ocorre, por exemplo, na França cujo Conselho Constitucional reconheceu a inconstitucionalidade de um requerimento de autorização administrativa para a circulação de locais e mercadorias em algumas cidades por violação e prejuízo ao direito de propriedade e à liberdade de empresa, desproporcional ao objetivo perseguido pela medida estatal[25].
Nas Américas, o princípio também está acessível, quando, por exemplo, a jurisprudência estadunidense se refere ao balancing test, o mesmo acontecendo com os mexicanos e argentinos em cujos países o princípio recebe um tratamento adequado por meio de suas constituições, e, ainda, por intermédio do direito científico e da jurisprudência.
Seja como for, dilucida Pulido[26] existir um denominador comum para justificar a migração do princípio da proporcionalidade inclusive para o território nacional: “o princípio da proporcionalidade protege a prioridade dos direitos fundamentais em maior grau” que qualquer outro princípio. Além disso, esclarece o autor, possui uma estrutura argumentativa “racional e transparente”, sendo mais “imparcial” do que as análises categóricas e as teorias internas dos direitos fundamentais.
6 EXEMPLOS PRÁTICOS DE ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DIANTE DA ‘ESCOLHA DE SOFIA’
Tomar-se-ão alguns exemplos práticos a demonstrar a utilização do princípio da proporcionalidade na prática forense.
O recorte adotado neste ensaio primou por trabalhar na seara dos direitos fundamentais quando houver tensão entre os direitos da personalidade[27] e os patrimoniais, hipótese em que os primeiros se sobressaem em relação aos segundos quando por meio da proporcionalidade pretender-se desviar-se da rota de colisão. Senão, vejamos.
6.1 Tutelas Provisórias de Urgência
Constata-se uma farta aplicabilidade do princípio da proporcionalidade a fim de proteger os direitos fundamentais na seara da concessão de tutelas provisórias.
É certo que, em regra, para a concessão das tutelas de urgência, o artigo 300 do CPC/15 exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade e do perigo de dano irreparável. No entanto, Eduardo José da Fonseca Costa[28] defende que há casos extravagantes, que nomina de tutela de evidência extremada pura e tutela de urgência extremada pura, nos quais esses requisitos não se justapõem, “eis que um deles se mostra em grau exagerado, tornando dispensável a análise do outro”.
Realmente, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro[29] explica essa posição, de forma clara, a qual intitula de teoria da gangorra, ao asseverar,
Para que fique bem entendido nosso raciocínio, faz-se analogia com uma gangorra. Numa das pontas, o fumus boni iuris; noutra, o periculum in mora. Quanto maior for o periculum, menos importância se dará ao fumus para a decisão acerca da concessão da tutela de urgência. É claro que precisa haver algum fumus, ou seja, algum grau de convencimento do juiz da possibilidade de, ao final, reconhecer o direito invocado. Ambos os requisitos devem estar presentes, mas são os dois variáveis ao sabor das particularidades do caso concreto. A conjugação desses dois fatores, caso a caso, é que convencerá o juiz a deferir, ou não, a tutela de urgência. É certo que, havendo algum grau de possibilidade de o direito socorrer à parte requerente, o juiz deverá preocupar-se com o periculum in mora, procedendo à avaliação dos males que advirão, tanto para o autor quanto para o réu, com a concessão, ou não, da medida. Faz-se o jogo da proporcionalidade, do juízo do mal maior, tendo como fator de maior peso para pender a gangorra, para um lado ou para o outro, o periculum in mora.
Desta forma, por meio da teoria da gangorra, verifica-se que a probabilidade é requisito que deve estar presente na concessão das tutelas provisórias, mas, é certo que comporta graus, variando da mera possibilidade para a quase certeza da existência do direito reivindicado. Quanto mais provável for o direito, menos se exigirá demonstração de urgência, e vice-versa. Assim, havendo iminente risco de vida do requerente de uma tutela provisória para realizar uma cirurgia de urgência, o juiz deverá conceder a medida, independentemente da prova da existência do direito.
Nesse sentido, obtempera João Batista Lopes[30],
Por exemplo, no conflito entre o interesse de prestadora de serviço de saúde e o direito à vida, deve, à evidência, prevalecer este último. Diante disso, a disposição do art. 300, § 3º do CPC deve ceder passo à preservação da vida ou da integridade física. Com efeito, no exemplo invocado, ressaltam dois princípios com status constitucional: de um lado, o direito à vida (ou à integridade física) que tem de ser assegurado ao paciente, e, de outro, o interesse de caráter patrimonial (propriedade). O juiz, diante desse conflito, não pode valer-se do non liquet, já que é indeclinável o dever de prestação da tutela jurisdicional. O direito à vida, assim, terá de prevalecer sobre o interesse patrimonial. Não se cuida, porém, de desprezar um dos princípios, mas de aplicar ao caso concreto o que melhor atende ao valor de maior significado no sistema constitucional.
Realmente, na área da saúde, em que se pleiteia a tutela provisória para realização de cirurgias de urgência ou fornecimento de remédios, vislumbra-se que, em nome da proteção do direito à vida, os juízes aplicam o princípio da proporcionalidade[31].
Outro exemplo significativo pode ser resgatado do tempo da pandemia do CoVid-19[32] em que proliferaram ações individuais e coletivas para compelir o Estado a fornecer leitos de hospital em UTIs. Inúmeras foram as ações civis públicas propostas pelo Ministério Público e Defensoria Pública requerendo tutelas provisórias para que os leitos em UTI, conveniados ao SUS, voltassem a funcionar no prazo de 48 horas, bem como para que os hospitais não reduzissem nem um leito vinculado ao SUS sem a devida autorização dos órgãos regulatórios. Nas ditas ações coletivas, requereu-se que os leitos de UTI credenciados pelo SUS continuassem a ser oferecidos para atender as vítimas do CoVid-19, de forma a evitar o retrocesso no combate à pandemia e a proteger a população de tomadas de decisão unilaterais do hospital, sem a devida autorização dos gestores do SUS. Além de ações coletivas, também foram propostas ações individuais de obrigação de fazer, afora mandados de segurança, todos com o mesmo objetivo, ou seja, compelir o Estado a fornecer leitos de hospital/UTI para atender às vítimas da pandemia vinculados ao SUS ou, ainda, obrigar que os hospitais particulares acolhessem os enfermos por meio de requisição administrativa[33].
Ora, compete ao Estado-Judiciário dar efetividade não somente ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, mas também ao princípio da isonomia consagrado no caput do mesmo dispositivo constitucional. Isso sem contar, ainda, com o cumprimento do artigo 3º da Carta Magna que preceitua, dentre os objetivos fundamentais da República, reduzir as desigualdades sociais e combater a discriminação. Todos esses princípios se completam, garantindo o irrestrito acesso ao Judiciário, propiciando a efetividade dos valores fundamentais do Estado de Direito e a busca pela Justiça Social. Nessa medida, a garantia de que a população tivesse acesso à saúde ao tempo pandêmico, a quem deveriam ser viabilizados leitos hospitalares e de UTI, em caráter provisório de urgência, corresponde a típico exemplo de medida irreversível ancorada, ainda, pelo princípio da proporcionalidade.
Hipóteses há, contudo, em que mesmo quando se protegem os direitos da personalidade (direito à vida e à integridade física), reflexamente, haverá de se falar em irreversibilidade, como, por exemplo, nos casos de ação demolitória em que se pede tutela provisória para o desfazimento de uma determinada construção. Nesses casos, não é proporcional demolir-se a obra (medida irreversível) se a paralisação da mesma já evita a exposição ao risco de seus ocupantes, salvaguardada, pois, a saúde e a própria vida destes[34]. Aqui, muito embora a aplicação do princípio ao primeiro olhar pareça dar guarida a direito patrimonial, fato é que para se alcançar a decisão, levou-se em conta o princípio da proporcionalidade para, ao mesmo tempo, proteger os direitos da personalidade sem aniquilar o direito patrimonial.
6.2 Medidas Executivas Atípicas
Outra questão em que se vislumbra a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá a partir da análise de pedidos de concessão de medidas executivas atípicas[35].
Nessa seara, verifica-se que tanto exequentes como executados têm a seu favor a previsão de direitos fundamentais que protegem seus interesses. Os direitos e garantias individuais não têm, contudo, caráter absoluto. De fato, a própria Carta Magna permite que sobre tais direitos e garantias incidam limitações de ordem pública destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social, e, lado outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.
Com efeito, vale ressaltar que o princípio do menor sacrifício para o executado, previsto no artigo 805 do CPC/2015, decorre de direitos fundamentais, como, por exemplo, o da preservação da integridade patrimonial e da própria propriedade e, por que não dizer, o da higidez à integridade física do executado, pois não se pode pretender deixá-lo na penúria e ver sacrificados todos os seus bens para honrar o cumprimento da obrigação. De fato, por meio do citado dispositivo o juiz deve procurar meios de satisfação do credor que sejam menos onerosos para o executado. Assim, se existirem dois modos igualmente satisfatórios do crédito, deve-se determinar aquele menos gravoso ao executado.
Nessa senda, lembre-se que: (i) a ordem de penhora não é rígida (artigo 835); (ii) proibida a arrematação de bens do devedor por preço vil (artigo 891); (iii) são impenhoráveis certos bens do devedor, tais como os bens de família (artigos 832 e 833, além das disposições contidas na Lei nº 8.009/1990). Logo, a relativização de um direito fundamental somente pode ser praticada em benefício da aplicação de um outro preceito de mesma ordem, e/ou para proteger um interesse social, isto é, para garantir a soberania de um bem maior.
De fato, muitas vezes é preciso colocar em confronto princípios constitucionais de mesma envergadura e hierarquia, e, sopesando-se a partir da técnica da ponderação, mitigar um em detrimento do outro.
É exatamente o que acontece no caso da aplicação das medidas executivas atípicas. Em tal ambiente, é preciso que as vantagens obtidas com a medida judicial a ser determinada pelo juiz sejam proporcionais às desvantagens provocadas por essa mesma medida.
Marcelo José Magalhães Bonício[36] esclarece, também, que, sob a ótica da adequação, pode-se vislumbrar a possibilidade de determinação de medidas que garantam o resultado prático equivalente ao adimplemento, nos casos de obrigação de fazer e não fazer (artigo 497, CPC/2015). Assim, adverte o referido autor,
(...) é possível a determinação de remoção de máquinas de certa construção, quando a ordem de paralisação não for obedecida. Embora, a adequação também possa ser vista sob a ótica do réu, nesse caso, não seria possível, já que o mesmo descumpriu ordem judicial. Verifica-se que é a conduta do réu que justifica a adoção de medidas que lhe são desvantajosas. Muitas vezes, para resolver o problema criado pelo próprio réu, será preciso que medidas contundentes sejam adotadas, principalmente quando há resistência injustificada ao cumprimento de ordens judiciais. A inadequação, sob o ponto de vista do réu, desde que não seja excessiva, não é errada porque decorre da necessidade de o sistema fazer com que a obrigação seja cumprida.
A análise da situação lembrada acima e a compreensão de que os direitos e garantias constitucionais não são absolutos e podem ser relativizados, permite concluir que as medidas executivas atípicas, sejam elas sub-rogatórias, coercitivas, indutivas ou mandamentais, não são inconstitucionais sobre exigirem o sopesamento pela aplicação do princípio da proporcionalidade. Destarte, o juiz tem um poder-dever de efetivação, sendo-lhe permitido, ao teor do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, determinar as mais variadas medidas executivas, desde que observados certos limites com aplicação subsidiária proporcional e equilibrada, vislumbrando caso a caso.
Teresa Armenta Deu, ao tratar da aplicação das medidas executivas coercitivas, no sistema espanhol[37], afirma que é necessário que seja estabelecida uma correta diferenciação entre as diversas medidas executivas, para adotar o modelo de tutela de crédito adequado, observando seus pressupostos, finalidades e limites. Deve-se diferenciar, assim, as medidas sub-rogatórias e as coercitivas, observando suas finalidades e pressupostos. Essas medidas realmente não se equiparam. Nas sub-rogatórias, pouco importa a vontade do devedor em cumprir a obrigação, eis que é por meio da atividade do Estado-Juiz que o resultado será alcançado. Ao contrário, nas medidas coercitivas trabalha-se com o fator psicológico para obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, eis que será o próprio devedor que realizará o movimento a fim de dar cumprimento à obrigação, num autêntico lograr colaborativo do próprio executado ou de terceiros para informar sobre a existência de bens.
Assim, muito embora, as medidas sub-rogatórias e coercitivas no sistema espanhol tenham a mesma natureza daquelas constantes no sistema processual brasileiro, não se confundem com o modelo pátrio, especificamente porque naquele país não se admitem medidas coercitivas para outra finalidade senão para prestar informações sobre a existência de bens.
Sobre o poder geral de efetivação, Olavo de Oliveira Neto[38] esclarece que,
Em resumo, mesmo na vigência do CPC de 1973, se nos afigurava possível a concessão de inúmeras medidas coercitivas contra a parte e contra os terceiros, inclusive as relativas à limitação de direitos, com fundamento em um poder geral de coerção implicitamente concedido pela lei ao magistrado. Mas se antes essa ideia era repudiada e fortemente combatida, agora não há mais como negar que o sistema processual inaugurado pelo CPC de 2015 admite expressamente a existência de um ´poder geral de coerção´, conferindo ao juiz a possibilidade de aplicar quaisquer medidas coercitivas, inclusive a limitação de direitos, desde que adequadas à obtenção da satisfação do direito. Esse poder geral de coerção está expressamente previsto no artigo 139, IV, do CPC, no qual se permite ao magistrado ´determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária´. A inclusão do preceito no capítulo que trata ´Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz´ permite afirmar, desde logo, que o CPC de 2015 teve o evidente intento de permitir a concessão dessas medidas coercitivas em qualquer tipo de procedimento ou grau de jurisdição, independentemente do seu objeto, já que também se aplica aos feitos que têm como conteúdo prestação pecuniária.
Muito embora a prisão civil do devedor de alimentos não se afigure uma medida executiva atípica propriamente dita no Direito brasileiro, vale lembrar que, nessa hipótese, nota-se clara demonstração do uso do princípio da proporcionalidade no âmbito do direito de família.
Em primeiro lugar, destaque-se que a própria previsão de prisão para o devedor de alimentos é medida excepcional, cabível, apenas, nos casos de dívidas alimentares fundadas no direito de família, sendo que sua admissibilidade em solo pátrio dependeu do próprio balanceamento entre dois direitos relevantes, tendo sido dado preferência ao direito à integridade física (e à própria vida) do credor de alimentos em detrimento da liberdade do devedor.
Contudo, aplica-se o princípio da proporcionalidade quando se deixa de adotar a pena extrema em algumas hipóteses, mesmo as inseridas no direito de família, como sói ocorrer ao impedir-se a prisão civil dos avós devedores de alimentos avoengos[39]. Em casos que tais, afigura-se desproporcional a gravidade da pena quando há outros mecanismos para remediar o descumprimento da obrigação alimentar, levando em conta, ainda, a exposição dos avós a alguns fatores de risco, como, por exemplo, a saúde física e mental e o fato de que não são, originariamente, os responsáveis imediatos.
7 CONCLUSÕES
Inquestionável a importância das decisões judiciais para o funcionamento escorreito e efetivo em um Estado Democrático de Direito. Indubitável, outrossim, a relevância da função judicante que deve não só primar pela análise cuidadosa do caso concreto, sopesando os fatos diante das provas produzidas no curso do processo, como também, ser desempenhada com celeridade e atenta ao ordenamento jurídico.
Nem sempre, porém, no exercício dessa função, há respostas prontas e fáceis; muito pelo contrário. Diante da dificuldade, contudo, não pode o juiz desviar-se de seu ofício ou decidir fiado em suas emoções e convicções meramente pessoais, eis que as decisões judiciais não devem ser discricionárias. Em situações que tais, cabe ao magistrado buscar no próprio sistema uma orientação segura e um caminho iluminado para fundamentar sua tomada de posição.
Verificou-se, no decorrer dos estudos, que em sua atividade cognitiva, o juiz deve observar, primeiro, os ditames da norma jurídica em sentido amplo, vale dizer, investigar a lei em vigor, atentar-se aos costumes, analisar o direito científico, reconhecer a jurisprudência e a força dos precedentes, e, sobretudo, buscar fundamento nos princípios gerais de direito, alguns dos quais alçados ao status de cláusulas gerais. Ainda assim, porém, não raras vezes, pode o magistrado ver-se lançado a uma situação conflituosa que coloca em xeque princípios e direitos (muitos deles fundamentais) em tensão dialética.
Viu-se que, ante o conflito de leis deve o juiz resolvê-los pelos critérios de solução de antinomia de normas. Se houver lacuna na lei, deve buscar, primeiramente, pelos colmatadores de lacunas. No caso de haver conflitos entre princípios, deve usar a ponderação para avaliar entre os direitos protegidos por esses princípios, quais desses direitos carregam em si o valor mais relevante a ser protegido, hipótese em que, inegavelmente, realizará a árdua “escolha de Sofia”.
Reconheceu-se no princípio da proporcionalidade uma forma de solução de conflitos complexos, sendo certo, inclusive, que a adoção de tal princípio na dissipação da dúvida atroz não é privilégio pátrio. Realmente, outros países e tribunais têm aplicado o princípio da proporcionalidade há mais de meio século, boa parte deles influenciada pelo direito alemão, precursor de sua propagação e migração pelo mundo jurídico.
Identificou-se no princípio da proporcionalidade – que não se confunde com o princípio da razoabilidade – alguns méritos, tais como proteger a prioridade dos direitos fundamentais em maior grau que qualquer outro princípio, sobre possuir uma estrutura argumentativa racional, transparente e mais imparcial do que as análises categóricas e as teorias internas dos direitos fundamentais.
Justamente por isso, é possível identificar a utilização do princípio da proporcionalidade na prática forense brasileira, sendo este, pois, o resultado primordial alcançado pela pesquisa.
No presente ensaio, deu-se destaque ao uso do referido princípio nas decisões proferidas nos pedidos de tutelas provisórias de urgência, afora no âmbito dos pleitos em que se requer a concessão de uma medida executiva atípica.
Para tanto, foram selecionadas algumas decisões pretorianas que bem revelaram o emprego do princípio da proporcionalidade como ferramenta eficiente para evitar a rota de colisão entre princípios e, também, entre direitos fundamentais, como, quando se compeliu o Estado, em meio a pandemia, a fornecer leitos em UTIs em hospitais vinculados ao SUS como forma de preservar o direito à saúde da população ou quando se rechaçou o emprego da prisão civil aos avós devedores de alimentos avoengos ante a viabilidade do uso de meio coercitivo menos gravoso a evitar ofensa ao direito à liberdade e até mesmo à integridade física do idoso.
De se observar, portanto, que o princípio da proporcionalidade – que tem abrangência global, empregado inclusive no Tribunal Constitucional espanhol e no Tribunal Europeu de Direitos Humanos – vem ganhando tônus no cenário jurídico nacional. Objetivo das reflexões aqui lançadas é também o de desmistificar o princípio da proporcionalidade e aspergi-lo a partir da técnica da ponderação para o fim de empregá-lo, como bússola, nos ambientes decisionais frouxos.
O resultado da pesquisa revela, portanto, não só a contemporaneidade da matéria, como, ainda, a disseminação global do referido princípio como um importante mecanismo colocado à disposição do juiz na difícil ‘escolha de Sofia’.
8 REFERÊNCIAS
Abbagnano, Nicola, Dicionário de Filosofia, São Paulo, Editora Martins Fontes, 2007, Trad. Alfredo Bosi e Ivone Castilho Benedetti.
Alexy, Robert, Constitucionalismo discursivo, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007, Trad. Luís Afonso Heck.
Arruda Alvim, Teresa, “O Juiz Criativo e o Precedente Vinculante – Realidades Compatíveis”, Revista da EMERJ, vol. 20, n. 1, janeiro/abril, 2018, p. 199.
Aurelli, Arlete Inês, “A função social da jurisdição e do processo”, in Yarshell, Flávio Luiz, Zufelato, Camilo, org., 40 anos da Teoria Geral do Processo no Brasil, São Paulo, Malheiros, 2013.
Bandeira de mello, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 17ª edição, São Paulo, Editora Malheiros, 2004.
Barcellos, Ana Paula de, Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro, Renovar, 2005.
Barroso, Luis Roberto, “Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa”, Revista de Direito Administrativo, vol. 235, 2004, p. 3.
Bonício, Marcelo José Magalhães, Princípios do processo no novo Código de Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 2016.
Canotilho, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e teoria da constituição, 7ª edição, Coimbra, Editora Almedina, 2004.
Carneiro da Cunha, Leonardo, “Comentários ao Código de Processo Civil”, in Streck, Lenio Luiz, Nunes, Dierle, Carneiro da Cunha, Leonardo, Freire, Alexandre, org., Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 2016.
Carvalho, Paulo de Barros, Direito Tributário, Linguagem e Método, 3ª edição, São Paulo, Editora Noeses, 2009.
Deu, Teresa Armenta, “Ejecución y medidas conminativas personales: un estudio comparado”, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, RDUCN, Sección Studios, Año 22, n. 2, 2015, pp. 23-54, <https://www.scielo.cl/pdf/rducn/v22n2/art02.pdf>. Acesso em: 04/09/2024.
Dinamarco, Candido Rangel, Comentários ao Código de Processo Civil. Das normas processuais civis e da função jurisdicional, São Paulo, Saraiva, 2018.
Diniz, Maria Helena, Dicionário Jurídico, São Paulo, Editora Saraiva, 1998, vol. 3.
Figueiredo, Candido de, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, Livraria Clássica Editora de A.M. Teixeira, 1913, vol. II.
Figueiredo, Marcelo, “A técnica da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal: espécie válida de solução para a colisão de direitos fundamentais”, Revista Brasileira de Direito Público (RBDP), ano 14, n. 52, janeiro/março, 2016, p. 55.
Fonseca Costa, José Eduardo da, O direito vivo das liminares, Saraiva, São Paulo, 2011.
Gonzaga, Álvaro Luiz Travassos de Azevedo, Verbete, “Lógica do Razoável”, in Campilongo, Celso Fernandes, Gonzaga, Álvaro Luiz Travassos de Azevedo, Freire, André Luiz, org., Enciclopédia Jurídica PUCSP, Tomo de Teoria Geral e Filosofia do Direito, 1ª edição, abril, 2017, <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/62/edicao-1/logica-do-razoavel>. Acesso em: 24/07/2024.
Guerra Filho, Willis Santiago, Processo constitucional e direitos fundamentais, São Paulo, Celso Bastos Editor, 1999.
Leite, Rita de Cássia Curvo, Transplantes de Órgãos e Tecidos e os Direitos da Personalidade, São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2000.
Lopes, João Batista, “Proporcionalidade e Razoabilidade no processo civil”, Revista de Processo, vol. 45, n. 304, junho, 2020, pp. 93-101.
Oliveira Neto, Olavo de, O Poder Geral de Coerção, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2019.
Pulido, Carlos Bernal, “La migración del principio de proporcionalidad a través de Europa”, Revista Libertas, vol. 1, n. 2, julho-dezembro, 2014, Trad. Lays Gomes Martins, p. 220.
Ribeiro, Glaucia Maria de Araújo, Salino, Alessandra Valle, “Pandemia da COVID-19 no Amazonas: Revisitando o contexto da segunda onda e seus desdobramentos”, Revista Internacional Consinter de Direito, Ano X, Número XVIII, 1º Semestre 2024, pp. 663-684, <https://revistaconsinter.com/edicoesanteriores>. Acesso em: 03/09/2024.
Ribeiro, Leonardo Feres da Silva, Tutela provisória: tutela de urgência e tutela da evidência, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Wambier, Tereza Arruda Alvim, “Existe a ‘discricionariedade’ judicial?, Revista de Processo, vol. 70, abril/junho, 1993, pp. 48-49.
[1] Doutora e Mestre em Direito Processual Civil pela PUC/SP; Professora de Direito Processual Civil nos cursos de Graduação e Pós-graduação stricto sensu e lato sensu da PUC/SP; Professora nos cursos ESA/SP. Membro do IBDP e CEAPRO; Autora de livros e artigos jurídicos nas áreas de Direito Processual Civil; Advogada em São Paulo; CEP 05414-901, São Paulo, SP, Brasil, PUC/SP. aaurelli@pucsp.br, https://orcid.org/0000-0002-9162-6513
[2] Doutora em Direitos Difusos e Mestre em Direito Civil Comparado (PUC/SP); Professora na cadeira de Direito Civil na mesma instituição; Professora nos cursos de extensão e especialização da PUC/COGEAE; Professora nos cursos ESA/SP; Autora de livros e artigos jurídicos nas áreas de Direito Civil e Biodireito; Advogada em São Paulo; CEP 05414-901, São Paulo, SP, Brasil, PUC/SP. rccleite@pucsp.br, https://orcid.org/0000-0003-3500-8670
[3] Princípio. 1.Filosofia geral. a) Origem ou causa da ação (Pascal); causa primária; b) o que contém ou faz compreender as propriedades ou caracteres essenciais da coisa (Lalande); c) cada uma das proposições diretivas ou características a que se subordina o desenvolvimento de uma ciência (Leibniz, Descartes, Newton e Spencer); regras fundamentais de qualquer ciência ou arte; d) norma de ação enunciada por uma fórmula (Fouillée); e) fundamento; f) o que contém em si a razão de alguma coisa (Christian Wolff); g) proposição geral que resulta da indução da experiência para servir de premissa maior ou silogismo (Kant); h) aquilo do qual alguma coisa procede na ordem de existência ou do conhecimento; i) lei empírica, subtraída ao controle da experiência, que obedece a motivos de simples comodidade (Poincaré); j) característica determinante; k) agente ou força originadora ou atuante; l) proposição inicial, obtida pelo conhecimento, da qual se deduzem outras proposições. 2.Nas linguagens jurídica e comum, pode significar: a) preceito; norma de conduta; b) máxima; c) opinião; maneira de ver; d) parecer; e) código de boa conduta através do qual se dirigem as ações e a vida de uma pessoa; f) educação; g) doutrina dominante; h) alicerce; base, Diniz, Maria Helena, Dicionário Jurídico, São Paulo, Editora Saraiva, 1998, p. 717, vol. 3. Do latim principiam significa ponto de partida e fundamento de um processo qualquer; causa externa de um processo ou de um movimento; origem, começo, Abbagnano, Nicola, Dicionário de filosofia, São Paulo, Editora Martins Fontes, 2007, Trad. Alfredo Bosi e Ivone Castilho Benedetti, p. 928.
[4] Carvalho, Paulo de Barros, Direito Tributário, Linguagem e Método, 3ª edição, São Paulo, Editora Noeses, 2009, p. 262.
[5] Ambiente decisional é a área do direito material ou substancial, com seus princípios e regras, em que o conflito, submetido ao juiz, deve ser resolvido. Nos ambientes decisionais frouxos o juiz tem maior liberdade de criar o direito e até mesmo alterar o direito. O juiz cria o direito, mas não pode fazer isso do nada, da sua própria cabeça, seguindo suas convicções e crenças pessoais. No estado democrático de direito o juiz deve decidir de acordo com a lei, interpretada pela jurisprudência, e à luz da doutrina, Arruda Alvim, Teresa, “O Juiz Criativo e o Precedente Vinculante – Realidades Compatíveis”, Revista da EMERJ, vol. 20, n. 1, janeiro/abril, 2018, p. 199.
[6] (...) a técnica legislativa, ao longo do século XX, passou a utilizar-se, crescentemente, de cláusulas abertas ou conceitos indeterminados, como dano moral, justa indenização, ordem pública, melhor interesse do menor, boa fé. Por essa fórmula, o ordenamento jurídico passou a transferir parte da competência decisória do legislador para o intérprete. A lei fornece parâmetros, mas somente à luz do caso concreto, dos elementos subjetivos e objetivos a ele relacionados, tal como apreendidos pelo aplicador do Direito será possível a determinação da vontade legal. O juiz, portanto, passou a exercer uma função claramente integradora da norma, complementando-a com sua própria valoração, Barroso, Luis Roberto, “Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente Adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa”, Revista de Direito Administrativo, vol. 235, 2004, p. 3.
[7] Aurelli, Arlete Inês, “A função social da jurisdição e do processo” in Yarshell, Flávio Luiz, Zufelato, Camilo, org., 40 anos da Teoria Geral do Processo no Brasil, São Paulo, Malheiros, 2013, pp. 10-20.
[8] Nesse sentido, Wambier, Tereza Arruda Alvim, “Existe a ´discricionariedade´ judicial?”, Revista de Processo, vol. 70, abril/junho, 1993, pp. 232-234.
[9] Qualidade do que é proporcional, ou seja, relativo à proporção, matemática, Figueiredo, Candido de, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Lisboa, Livraria Clássica Editora de A.M. Teixeira, 1913, vol. II, p. 457.
[10] Canotilho, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e teoria da constituição, 7ª edição, Coimbra, Editora Almedina, 2004, pp. 1160-1161.
[11] Bandeira de Mello, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 17ª edição, São Paulo, Editora Malheiros, 2004, p. 842.
[12] Bonício, Marcelo José Magalhães, Princípios do processo no novo Código de Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 38.
[13] Carneiro da Cunha, Leonardo, “Comentários ao Código de Processo Civil”, in Streck, Lenio Luiz, Nunes, Dierle, Carneiro da Cunha, Leonardo, Freire, Alexandre, org., Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 48-49.
[14] Lopes, João Batista, “Proporcionalidade e Razoabilidade no processo civil”, Revista de Processo, vol. 45, n. 304, junho, 2020, pp. 93-101.
[15] Aquilo que geralmente acontece, para o vernáculo.
[16] Por meio da Lógica do Razoável, de Recasens-Sichés, ao invés de focar-se na norma a ser aplicada, avalia-se a situação problema. A partir disso, através da hermenêutica, a decisão judicial atualizaria o sentido da norma a cada sentença ou acórdão com qualidade de coisa julgada, numa espécie de movimento inverso. Não se define o critério de justiça com base na norma posta, mas com base nos valores sociais e nos fatos que atravessam o caso concreto. A esse método, Recaséns-Siches denomina Lógica do Razoável ou Lógica da Equidade, Gonzaga, Álvaro Luiz Travassos de Azevedo, Verbete, “Lógica do Razoável”, in Campilongo, Celso Fernandes, Gonzaga, Álvaro Luiz Travassos de Azevedo, Freire, André Luiz, org., Enciclopédia Jurídica da PUC/SP, Tomo de Teoria Geral e Filosofia do Direito, 1ª edição, abril, 2017, pp. 7-8. <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/62/edicao-l/logica-do-razoavel>, acesso em 24-07-2024.
[17] Dinamarco, Candido Rangel, Comentários ao Código de Processo Civil. Das normas processuais civis e da função jurisdicional, São Paulo, Saraiva, 2018, pp. 113-114.
[18] A ponderação é a técnica jurídica de solução de conflitos normativos que envolvem valores ou opções políticas em tensão, insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais, Barcellos, Ana Paula de, Ponderação, Racionalidade e Atividade Jurisdicional, Rio de Janeiro, Renovar, 2005, p. 23.
[19] Alexy, Robert, Constitucionalismo discursivo, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2007, Trad. Luís Afonso Heck, p. 131 e ss.
[20] Figueiredo, Marcelo, “A técnica da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal: espécie válida de solução para a colisão de direitos fundamentais”, Revista Brasileira de Direito Público, RBDP, ano 14, n. 52, janeiro/março, 2016, p. 55.
[21] É o que se dá, por exemplo, quando ante ao premente risco de morte e em situações de emergência médica, se autoriza a transfusão de sangue mesmo aos pacientes que, por convicções religiosas, recusam-na. Entre optar-se pelo direito à vida e o direito à crença religiosa, de se eleger o primeiro, proporcionalmente mais relevante que o segundo.
[22] Pulido, Carlos Bernal, “La migración del principio de proporcionalidad a través de Europa”, Revista Libertas, vol. 1, n. 2, julho-dezembro, 2014, Trad. Lays Gomes Martins, p. 220.
[23] Guerra Filho, Willis Santiago, Processo constitucional e direitos fundamentais, São Paulo, Celso Bastos Editor,1999, p. 69 e ss.
[24] A Constituição Federal portuguesa contempla, em seu artigo 18º, a força jurídica dos preceitos constitucionais consagradores de direitos fundamentais. Leia-se:
“Artigo 18.º Força jurídica
1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas.
2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.
3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo, nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais”.
[25] Figueiredo, Marcelo, “A técnica da proporcionalidade no Supremo Tribunal Federal: espécie válida de solução para a colisão de direitos fundamentais”, Revista Brasileira de Direito Público, RBDP, ano 14, n. 52, janeiro/março, 2016, p. 51.
[26] Pulido, Carlos Bernal, “La migración del principio de proporcionalidad a través de Europa”, Revista Libertas, vol. 1, n. 2, julho-dezembro, 2014, Trad. Lays Gomes Martins, pp. 255-257.
[27] Diz-se serem os direitos da personalidade, em última análise, direitos fundamentais que o indivíduo tem sobre si mesmo, existindo a partir do nascimento com vida do feto, para só extinguir com a sua morte, sendo importante ressaltar que, alguns deles, são protegidos, até mesmo em relação ao nascituro e mesmo após a morte do titular. São, portanto, essenciais à pessoa, comuns à sua existência, umbilicalmente associados às emanações e prolongamentos que derivam da própria personalidade, como sói ocorrer com a vida, o corpo e as partes separadas deste, a identidade, a liberdade, a sociabilidade, a reputação, etc., Leite, Rita de Cássia Curvo, Transplantes de Órgãos e Tecidos e os Direitos da Personalidade, São Paulo, Editora Juarez de Oliveira, 2000, pp. 12-16.
[28] Fonseca Costa, José Eduardo da, O direito vivo das liminares, Saraiva, São Paulo, 2011, p.123.
[29] Ribeiro, Leonardo Feres da Silva, Tutela provisória: tutela de urgência e tutela da evidência, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 203-204.
[30] Lopes, João Batista, “Proporcionalidade e Razoabilidade no processo civil”, Revista de Processo, vol. 45, n. 304, junho, 2020, pp. 93-101.
[31] Ementa: civil e processual civil. ação de obrigação de fazer. pretensão cominatória. enfermidade visual. ceratocone. tratamento cirúrgico. transplante de córnea. indicação. inclusão em fila de transplantes. lista única. monitoração. órgãos de controle federais. observância dos critérios que pautam o sistema. intervenção emergencial. necessidade. prova. inexistência. determinação de submissão imediata ao procedimento. interseção judicial. critérios legais. inobservância. prova. ausência. antecipação de tutela. dano irreparável. risco. ausência, plausibilidade do direito. inexistência. pressupostos ausentes. 1. A ordem de classificação para realização de transplante de órgãos firmada no Sistema Nacional de Transplantes, cuja administração é atribuída a órgãos de controle federais, deve ser preservada se não divisada situação que recomende ou demande atendimento emergencial ou preferencial a determinado cidadão como forma de ser resguardada equidade e isonomia no fomento do tratamento almejado, obstando que um inscrito no rol de espera seja privilegiado em detrimento de outro cidadão em situação análoga, ou, quiçá, mais gravosa, tornando inviável que seja transposta em sede de tutela provisória quando não divisa preterição ilegítima de paciente inscrito no cadastro. 2. O procedimento de transplante de córnea não encerra procedimento cirúrgico eletivo, dependendo da conjugação de vários requisitos, como a inscrição de paciente em lista de espera para realização de transplante de órgãos, a observância da procedência da inscrição e da existência da doação do órgão, o que, diante da irreversibilidade da medida e interseção no sistema de controle dos destinatários, inviabiliza a concessão de tutela provisória volvida a cominar a instituição hospitalar a obrigação de submeter a paciente ao procedimento quando não evidenciado que estivera inscrita no sistema de controle de transplantes e fora preterida, sobejando controversa, ademais, até mesmo a necessidade da intervenção. 3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por derivar de situação de fato vigente há largo lapso temporal (CPC, arts. 300 e 303). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime, TJDF, 1ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 0711382-16.2019.8.07.0000, Desembargador Teófilo Caetano, j. 16-10-2019.
[32] Glaucia Maria de Araújo Ribeiro e Alessandra Valle Salino relatam a crise sanitária no Estado do Amazonas, afirmando: “Notou-se que os gestores públicos não foram `pegos` de surpresa pela tragédia que se abateu no Amazonas, as circunstâncias e os fatores condicionantes existentes no estado apontavam, mesmo antes da pandemia, para um quadro de total desequilíbrio no sistema de saúde, além dos documentos oficiais atestarem as carências e necessidades do estado no período mais crítico da Covid-19. Panorama este reforçado, inclusive, pela deflagração de ação policial, ano de 2020, e consequente ação judicial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) envolvendo agentes públicos do Poder Executivo, em pleno período da pandemia, tendo como centro da investigação a compra de respiradores pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES/AM)”, Ribeiro, Glaucia Maria de Araújo, Salino, Alessandra Valle, “Pandemia da COVID-19 no Amazonas: Revisitando o contexto da segunda onda e seus desdobramentos”, Revista Internacional Consinter de Direito, Ano X, Número XVIII, 1º Semestre 2024, pp. 663-684, https://revistaconsinter.com/edicoesanteriores, acesso em 03-09-2024.
[33] Nesse sentido, a jurisprudência: constitucional. processual civil. administrativo. sus. internamento em rede privada. direito à vida e à saúde. dever do estado. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Pernambuco contra decisão que deferiu o pedido de liminar, determinando que o agravante custeasse o internamento do agravado, acometido por doença grave, na Unidade de Terapia Intensiva de hospital da rede privada. 2. O agravado, espanhol de 81 anos de idade, estava em visita aos familiares no Brasil, e fora acometido de grave indisposição orgânica e dificuldade respiratória, que se revelou enquanto infecção generalizada, com um quadro de insuficiência renal crônica. Atendido inicialmente no Hospital D´Ávila, findada levado pela família para o Real Hospital Português, porque a central de leitos de UTI do Estado de Pernambuco teria informado a indisponibilidade de leitos na rede pública. 3. O Real Hospital Português integra a rede de instituições privadas conveniadas ao SUS, de modo que se mostra desarrazoado pensar que o desatendimento a uma formalidade burocrática possa comprometer tão seriamente a saúde de quem tem direito à assistência médica, por determinação constitucional. 4. Demais disso, resta flagrante o “periculum in mora inverso”, impondo-se a manutenção da decisão agravada. 5. Agravo de instrumento improvido, TRF5, Terceira Turma, Agravo de Instrumento nº 200505000026063, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, j. 08-10-2008.
[34] Ementa: agravo de instrumento. ação de reintegração de posse. liminar. requisitos. demolição. irreversibilidade da medida. determinação de paralisação da obra e abstenção de realização de novas construções. recurso conhecido e não provido. 1. Em sede de cognição sumária em ação possessória, não pode ser acolhido o pleito de demolição, tendo em visa a irreversibilidade da medida. 2. A determinação de paralisação da obra e abstenção de realização de novas construções apresenta-se suficiente para impedir maiores prejuízos à prestação do serviço público e a à incolumidade dos usuários, TJMG, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0532917-22.2016.8.13.0000, Desembargador Pedro Bitencourt Marcondes, j. 20-09-2016.
[35] Ementa: agravo interno no agravo em recurso especial. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. suspensão de cnh. não cabimento. revisão. impossibilidade. súmula 7/stj. agravo desprovido. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível ao juiz adotar meios executivos atípicos desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir a obrigação a ele imposta, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade, STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 23-04-2019.
[36] Bonício, Marcelo José Magalhães, Princípios do processo no novo Código de Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 2016, pp. 33-34.
[37] Deu, Teresa Armenta, “Ejecución y medidas conminativas personales: un estudio comparado”, Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, RDUCN, Sección Studios, Año 22, n. 2, 2015, pp. 23-54, <https://www.scielo.cl/pdf/rducn/v22n2/art02.pdf>, acesso em 04-09-2024.
[38] Oliveira Neto, Olavo de, O Poder Geral de Coerção, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2019, p. 21.
[39] Ementa: civil. processual civil. habeas corpus. prisão civil por alimentos. obrigação alimentar avoenga. caráter complementar e subsidiário da prestação. existência de meios executivos e técnicas coercitivas mais adequadas. indicação de bem imóvel à penhora. observância aos princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução. desnecessidade da medida coativa extrema na hipótese. 1. O propósito do habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil dos avós, em virtude de dívida de natureza alimentar por eles contraída e que diz respeito às obrigações de custeio de mensalidades escolares e cursos extracurriculares dos netos. 2. A prestação de alimentos pelos avós possui natureza complementar e subsidiária, devendo ser fixada, em regra, apenas quando os genitores estiverem impossibilitados de prestá-los de forma suficiente. Precedentes. 3. O fato de os avós assumirem espontaneamente o custeio da educação dos menores não significa que a execução na hipótese de inadimplemento deverá, obrigatoriamente, seguir o mesmo rito e as mesmas técnicas coercitivas que seriam observadas para a cobrança de dívida alimentar devida pelos pais, que são os responsáveis originários pelos alimentos necessários aos menores. 4. Havendo meios executivos mais adequados e igualmente eficazes para a satisfação da dívida alimentar dos avós, é admissível a conversão da execução para o rito da penhora e da expropriação, que, a um só tempo, respeita os princípios da menor onerosidade e da máxima utilidade da execução, sobretudo diante dos riscos causados pelo encarceramento de pessoas idosas que, além disso, previamente indicaram bem imóvel à penhora para a satisfação da dívida. 5. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, STJ, Terceira Turma, HC nº 416886/SP 2017/0240131-0, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 18-12-2017.