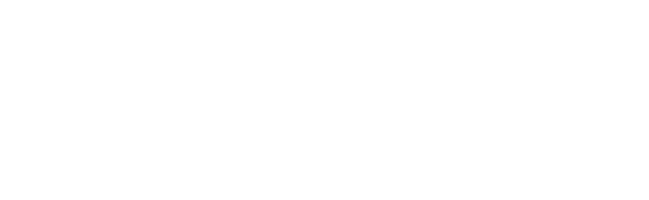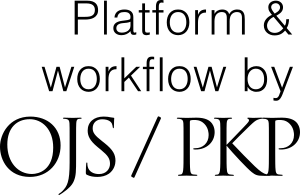A Necessidade de uma Única Medida na Aferição de Dois Pesos: a Teoria por Trás da Relativização do Princípio da Não Intervenção para Fins de Proteção dos Direitos Humanos e Seus Reflexos no Tocante à Soberania
DOI: 10.19135/revista.consinter.00010.34
Recebido/Received 06.05.2019 – Aprovado/Approved 16.05.2019
Anatercia Rovani Pilati[1] – https://orcid.org/0000-0002-5438-5351
E-mail: anaterciarovani@yahoo.com.br
Carla Patricia Finatto[2] – https://orcid.org/0000-0002-3219-5223
E-mail: carla_finatto@hotmail.com
Reisson Ronsoni dos Reis[3] – https://orcid.org/0000-0002-5697-8898
E-mail: reissonr.r@hotmail.com
Resumo: Ante as diversas crises humanitárias atuais e aquelas já enfrentadas, faz-se necessário destacar o debate acerca da conciliação do conceito de soberania e da flexibilização do princípio da não intervenção, eis que um dos mais relevantes choques axiológicos do cenário internacional ocorre entre os conceitos de soberania e direitos humanos. O presente artigo busca, portanto, abordar o conflito entre os conceitos de intervenção humanitária e soberania a fim de demonstrar a possível – e necessária – flexibilização do princípio da não intervenção. Por fim, apreciar-se-á o conceito, bem como a legalidade e a legitimidade do instituto da intervenção humanitária com objetivo de sustentar a ideia de que a comunidade internacional tem o direito, e até mesmo o dever, de realizá-las.
Palavras-chave: Intervenção Humanitária. Soberania. Direitos Humanos. Princípio da não intervenção.
Abstract: In view of the current humanitarian crises and those already faced, it is necessary tostudy about the appeasement of the concept of sovereignty and the relaxation of the principle ofintervention, this is why one of the most relevant axiological shocks in the international scenario is the one between the concepts of sovereignty and human rights. This article, therefore, seeks to address theconflict between the concepts of humanitarian intervention and sovereignty in order to demonstrate the possible – andflexibility of the principle of non-intervention. Finally, it will analyze the concept, as well as thelegality and legitimacy of the humanitarian intervention institute with the objective of sustainingthe idea that the international community has the right, and even the duty, to act in some cases.
Keywords: Humanitarian Intervention. Soberany. Humam Rights. Principle of non-intervention.
Sumário: Introdução. 1. A busca pela segurança como função do estado desde o início da busca pela vida em sociedade. 2. A proteção aos direitos humanos como dever de todos individual e coletivamente. 3. O conflito aparente entre a soberania, a não intervenção e a intervenção humanitária. Conclusão
INTRODUÇÃO
O presente trabalho elegeu por tema o estudo dos institutos da soberania dos estados, da não intervenção e de sua flexibilização em determinados casos, eis que não existe uma norma que autorize expressamente a intervenção humanitária; muito pelo contrário: a Carta da ONU estabelece o princípio da não intervenção como norteador da conduta dos Estados no âmbito internacional.
Todavia, há duas exceções a esse princípio: a legítima defesa individual ou coletiva; e quando o Conselho de Segurança (CS) determinar que uma situação constitui uma ameaça à paz ou segurança internacional.
O objetivo, portanto, é questionar se o disposto no art. 2.4 da Carta da ONU trata de uma proibição geral do uso da força, ou se este artigo pode e deve ser expandida para acomodar outros princípios fundamentais da ONU, como os Direitos Humanos, sendo que, para tanto, os Estados terão que, caso a caso, interpretar o art. 2.4 da Carta das Nações Unidas para poder autorizar uma intervenção humanitária.
Para isso, buscar-se-á demonstrar que a intervenção humanitária é possível, como último recurso em casos extremos, quando: há – ou existe – a ameaça de ou as graves violações de direitos humanos em grande escala; a intervenção militar é o único meio para acabar ou prevenir a perda de vidas. Em outras palavras, há a necessidade de preenchimento de alguns requisitos para que possa haver intervenção humanitária.
Dessa forma, colocar-se-á em choque noções de soberania, sua prevalência absoluta e sua existência vinculada ou não ao cumprimento das funções primordiais do Estado, de modo a verificar se absoluta a sua concepção frente aos Direitos Humanos ou não.
Além disso, analisar-se-á os limites da proteção dos Direitos Humanos e de que forma comungam ou contrastam com o princípio da autodeterminação dos povos, e de que forma ambos interagem com a soberania.
Por termo, estudar-se-á o princípio da não intervenção em contraponto com a real intenção da Carta das Nações Unidas em seu tempo de nascimento, e dos princípios que a nortearam extrair a visão e a interpretação que lhe é dada ante as necessidades contemporâneas para manutenção da paz no mundo.
1 A BUSCA PELA SEGURANÇA COMO FUNÇÃO DO ESTADO DESDE O INÍCIO DA BUSCA PELA VIDA EM SOCIEDADE
Nas palavras de Sócrates, em Argumento, a unidade de um povo (um dos pilares do que hoje é denominado de Estado) é estabelecida pela sensação de segurança que a sociedade tem em seus governantes, confundidos com o próprio “Estado” naquele tempo (SÓCRATES, 1998, p. 39).
Na Idade Média indiana, Kautilya defende ser dever do governante manter a segurança interna do “Estado”, como forma de retribuir o justo tributo oferecido pelos súditos para a manutenção dessa proteção, a qual envolve não apenas a defesa contra fatores externos ao país, como também elementos internos, o que gera um dever de justa punição (KAUTILYA, 1998, p. 95).
Nesse ponto, é necessária a compreensão do que seria “justiça” para os fins estatais. Dito isso, tem-se que o Doutor em Direito Administrativo Reinaldo Couto define “justiça administrativa” ou “a justiça promovida pela Administração” como sendo a adoção de medidas proporcionais decididas sob a óptica da razoabilidade, e, portanto, traduz-se como a retribuição adequada ao merecimento do beneficiado estabelecida por critérios de isonomia (COUTO, 2016, p. 147).
Sendo assim, é possível compreender que o justo tributo como a cobrança necessária para a manutenção da segurança e a justa punição como sendo a contrapartida negativa do Estado àquele que infringe as normas estabelecidas para a proteção coletiva, atitudes públicas que se revelam como substrato da “moral administrativa”, uma vez que a “justiça” é parte integrante daquela (CARVALHO FILHO, 2015, p. 22).
E, se independentemente da forma de governo é dever do gestor administrativo primar pela justiça e pela segurança, é dever do governante colocar a segurança do povo à frente da sua própria, devendo sempre que possível refletir e agir para aprimorar as formas de gerar segurança para a sociedade (ROTERDÃ, 1998, 317-413).
A mesma compreensão das obrigações da Administração para com os administrados exposta pelo filósofo moderno europeu é visualizada no pensamento sul-americano do monarca contemporâneo Dom Pedro II, o Magnânimo, na obra “Cartas à Princesa Isabel”, em que se visualiza a preocupação com estabelecer segurança aos cidadãos de forma ampla (GONZAGA, 1998).
Não deixando de ser um ideal presente na atualidade, como dá conta o texto preambular da Constituição Federal, que não deixa de incluir a segurança no rol de elementos que se visa instituir no Estado (BRASIL, 1988).
O que, quando atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana, internalizado na Carta Magna brasileira como fundamento desta República, em seu art. 1º, III, expande a visão de segurança para um universo muito maior do que a mera proteção física (direitos de primeira geração); surge uma gama imensa de novos direitos que, de certa forma, são desdobramentos da segurança: a segurança de pensar e de manifestar seu pensamento; a segurança de não apenas sobreviver, mas de viver dignamente; de desenvolver-se; etc, de acordo com a lição do Doutor Marcelo Novelino (2016, p. 272-3).
Há então a presença tácita de um pacto social, em que cada membro da sociedade abdica de parte de sua liberdade e de sua autenticidade para garantir a proteção de todos e a continuidade das conquistas individuais e coletivas (ROUSSEAU, 2017, p. 20-2).
Doutrinariamente falando, a função do Estado, na visão internacionalista, consiste em “exercer direitos e contrair obrigações” de modo a promover a proteção dos direitos humanos e garantir a manutenção da paz, portanto, tem-se reafirmada a função do Estado como sendo o de gerar segurança em amplo sentido às pessoas dentro dos limites de sua soberania (PORTELA, 2011, p. 173-5).
2 A PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS COMO DEVER DE TODOS INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE
Os Direitos Humanos são direitos inerentes ao ser humano e, portanto, supraestatais, o que os torna de responsabilidade individual e coletiva no tocante à sua garantia. Sendo assim, é possível que se diga que compreendem direitos que existem no campo internacional e no campo interno (neste caso, atuando na forma de direito fundamental), segundo o Doutor em Direito do Estado André Ramos Tavares (2014, p. 403).
Concomitantemente, André Puccinelli Júnior sustenta que a terminologia “Direitos Humanos” é equivalente à expressão “Direitos do Homem”, sendo comumente utilizadas em tratados internacionais (PUCCINELLI JÚNIOR, 2013, p. 194-5).
Tal construção dá conta, de acordo com Antônio Augusto Cançado Trindade, que vários países adotem os elementos comuns em matéria de direitos inerentes aos seres humanos, mesmo se de distintas culturas e filosofias políticas, uma vez que a construção de tratados pressupões o império da legitimidade e da liberdade de consciência dos representantes de signatários sobre o tema pactuado (TRINDADE, 2003, p. 17-20).
Seguindo essa linha de raciocínio, o pós-Doutor em Estudos Sociais Sidney César Silva Guerra leciona que os Direitos Humanos nasceram como tal para que os indivíduos conseguissem ser sujeitos de Direito Internacional, pois assim a dignidade que lhes é inerente seria colocada em um patamar de valor maior do que o restrito considerando o direito interno apenas. Com isso, o Estado também se veria obrigado a ter a preocupação com a proteção uma gama de proteção mínima aos seres humanos, mesmo que não considerados seus cidadãos (GUERRA, 2013, p. 52-3).
Nesse tocante, é necessário que se abra um parêntese para observar que “durante muito tempo, a doutrina não conferia ao indivíduo o caráter de sujeito de Direito Internacional”, porque se considerava que a sociedade internacional era meramente interestatal, entretanto, ao considerar-se que o indivíduo também atua na esfera internacional, tem-se que também pode ser considerado um sujeito de direito internacional público (PORTELA, 2011, p. 157).
Contudo, não se pode olvidar de que os Direitos Humanos são muito antigos, estando presentes desde os tempos mais remotos, apenas sendo definidos distintamente em locais diversos, mas encontrando padronizações em cada tratado ou convenção, que acabam por ir uniformizando gradativamente esse entendimento (TRINDADE, 2003, p. 17).
Diante disso, tem-se que os Direitos Humanos interlaçam-se com a função do Estado, a de promover segurança em uma concepção cada vez mais ampla, uma vez que o homem e suas relações são a finalidade de cada construção jurídica, inclusive a estatal e a interestatal (MELLO, 2004, p. 808), o que permite unir forças com a corrente doutrinária que crê no indivíduo como sujeito de direito internacional.
A segurança em sua ampla concepção envolve o direito a ser tratado e a ter uma vida digna (PORTELA, 2011, p.683), tendo essa afirmação guarida nas dimensões dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos internalizados pelo direito de um Estado (TAVARES, 2014, p.404-5).
A incorporação de princípios convencionados como correlatos a todos os seres humanos dá-se pela positivação jurídica, todavia, nos ensinamentos de J. J. Gomes Canotilho não basta apenas positivar, é necessário vestir o Direito Humano como Direito Fundamental e estabelecê-lo no topo das fontes de direito, ou seja, como norma constitucional (CANOTILHO, 2003, p. 377).
Considerando, então, a ligação existente entre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, tem-se que o objetivo desses é oportunizar uma vida digna a todos os seres humanos, sendo um dos caminhos disso transformar aqueles nestes para aumentar a garantia de sua perfectibilização (PUCCINELLI JÚNIOR, 2013, p. 194).
A dignidade, nas palavras de Novelino, “não é um direito, mas um ‘qualidade intrínseca’ a todo ser humano, independentemente de sua origem, sexo, idade, condição social ou qualquer outro requisito”, motivo pelo qual não pode ser considerada como sendo algo relativo, e, assim, é envolvida por um dever de respeito e de proteção contra atos que lhe são atentatórios (NOVELINO, 2016, p.252-3).
O conceito do supracitado constitucionalista alinha-se com o conceito do internacionalista Portela, que define a dignidade contida nos Direitos Humanos como elemento que não faz distinção entre os seres e que está muito além do que o simples direito (PORTELA, 2011, p. 683).
Ante essa lógica, os Direitos Humanos configuram-se como um direito de proteção, que vai muito além da noção de Estado, mas não está dissociada da função típica do Estado, que é proteger, entretanto, serve para ampliar a gama de mecanismos de defesa entre indivíduos e entre estes e os Estados (TRINDADE, 2003, p. 38).
Isso se dá por serem os Direitos Humanos um ramo jurídico que está em constante nascimento, sempre se renovando e se ampliando, porque está em constante construção e reconstrução, sendo eternamente voltado para a sobrevivência humana e a qualidade de seu exercício (PIOVESAN, 2015, p. 43-4).
Uma vez definidos os Direitos Humanos de forma preambular, e também explicada a forma com que são internalizados no direito pátrio ou no direito entre os Estados para aumentar sua efetividade no tocante à aplicação, faz-se imperioso o estudo central deste trabalho: o aparente conflito entre soberania estatal, não intervenção e intervenção humanitária.
3 O CONFLITO APARENTE ENTRE A SOBERANIA, A NÃO INTERVENÇÃO E A INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA
A soberania pode ser definida como “atributo do poder estatal que confere a este poder o caráter de superioridade frente a outros núcleos de poder que atuam dentro do Estado, como as famílias e as empresas”, ou seja, é a capacidade que o Estado tem de exercer sua influência dentro de seu território sem interferência externa (PORTELA, 2011, p. 167).
Aprofundando tal estudo, Novelino leciona que a soberania deve ser explorada sobre dois vieses, o interno e o externo; este tem como referência a representação dos Estados entre si, enquanto aquela diz respeito ao seu poder perante seus cidadãos na ordem externa (NOVELINO, 2016, p. 250).
Além disso, é necessário que se compreenda que o atributo “soberania” é o principal fundamento responsável pela manutenção da ordem entre os Estados (RODRIGUES, 2000, p. 167), pois sua supressão poderia devolver a relação entre os Estados ao período pré-estatal, ou seja, anterior à Paz de Westfalia, 1648 d.C., quando havia formas de governo mais ou menos centrais, porém, não havia a forma de Estado como é conhecida atualmente (NOVELINO, 2016, p. 250), o que mantinha o mundo em uma situação de instabilidade diplomática ou, como se poderia chamar, de insegurança.
Nesse período, utilizava-se “para justificar esse sistema, na maioria das vezes, o elemento religioso”, uma vez que as pessoas estavam sob o domínio de leis espirituais, as quais, muitas vezes, se misturavam com as leis seculares ou territoriais, o que foi gradativamente enfraquecendo com as disputas entre papado e Sacro Império Romano-Germânico e, consequentemente, acabou por criar novas organizações políticas, tais como o Estado moderno (REGIS, 2006, p. 06).
Da definição de soberania que se desenvolve para a criação do Estado moderno, nasce a essência deste, uma vez que cria a noção de poder absoluto sobre a comunidade em contraponto aos poderes regionais e fragmentados do período feudal (HINSLEY, 1972, p. 22).
Contudo, não há interpretação consensual do que seria soberania, o que fica claro no Suplemento do Relatório do ICISS (INTERNATIONAL, 2001, p. 05):
Poucos assuntos no direito internacional e nas relações internacionais são tão sensíveis como a noção de soberania. Steinberger se refere à ela na Enciclopédia de Direito Internacional Público como “a noção mais brilhante e controversa da história, da doutrina e da prática do direito internacional. Por outro lado, Henkin procura bani-la do vocabulário e Lauterpacth a chama de uma “palavra que tem uma emotiva qualidade sem conteúdo específico significativa”, enquanto Verzijl observa que qualquer discussão sobre este assunto arrisca degenerar em uma Torre de Babel. Mais afirmativamente, Brownlie vê soberania como “a doutrina constitucional básica do direito das nações” e Alan James a vê como “o único princípio organizador em relação à seca superfície do globo, toda aquela superfície agora […] dividida em entidades de soberania próprias ou constitucionalmente independentes. Como observado por Falk, “Há pouco campo neutro quando se trata de soberania”.
Destaca-se, contudo, que para ser fixada uma posição sobre o conceito de soberania aplicável ao presente estudo, de modo que se possa analisar se há ou não conflito envolvendo soberania, não intervenção e intervenção humanitária. Sendo assim, é preciso que se verifique que o atributo da soberania não pode ser analisado isoladamente com propriedade antes que se verifiquem os demais atributos, uma vez que existem de forma concomitante e sistêmica.
Relata Alexandre de Moraes (2012, p.03) que o Estado “necessita de três elementos fundamentais: poder/soberania, população e território”. Assim, o território, a população e a soberania são os três elementos que compõem o Estado. A população do país fica submetida ao Estado, que detém o poder de legislar sobre assuntos que regem todo o seu território. Nessa relação, a população torna-se subordinada ao Estado, revelando então um elemento essencial ao mesmo, que é o governo soberano.
No que tange aos demais elementos (povo e território), tem-se que aquele pode ser definido como “elemento humano do Estado”, composto por um conjunto de pessoas que influenciam na manutenção do Estado e que podem estar tanto dentro de seus domínios quanto no exterior desde que juridicamente vinculados a ele; enquanto este seria o espaço geográfico dentro do qual o Estado exercerá o seu poder soberano (PORTELA, 2011, p. 166-7), motivo pelo qual o conceito de soberania nunca estaria completo sem a noção do termo “território”.
Diante do exposto, para os fins do presente trabalho, definir-se-á a soberania a zona de influência territorial de um Estado, dentro da qual nenhum outro Estado pode utilizar seu poder de império.
Entretanto, a conceituação de soberania não representaria um avanço sobre o sistema que precedeu aos Estados sem o princípio da autodeterminação dos povos, ou seja, o princípio que equilibra os poderes estatais ao determinar que os Estados não firam a soberania uns dos outros.
Tal interpretação do princípio em epígrafe é exposto por Ian Brownline como sendo o direito de grupos nacionais que vivam em coesão, aos quais chamou de “povos”, de escolherem para si próprios a forma de organização política que melhor lhes convinha, bem como a sua relação com outros povos. Esse ato caracteriza a independência de um Estado frente aos demais (2008, p. 480).
Logo, o princípio da autodeterminação dos povos visa assegurar a um povo, elemento essencial para a existência do Estado, a possibilidade de conduzir livremente sua vida política, econômica e cultural (soberania) de acordo com os princípios que os reger, uma vez que são livres para os definir (ROBERTSON, 2002, p. 174).
O supracitado princípio, reconhecido por diversas nações, foi consagrado na Carta das Nações Unidas de 1945 e na Declaração sobre Princípios de Direito Internacional Relativos às Relações Amigáveis e Cooperação entre Estados, de 1970.
Naquele documento, o §2º, do art. 1º, anuncia um dos propósitos da ONU, o de “desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos”, ou seja, o objeto da ONU envolve não permitir que um povo imponha sua vontade sobre outro povo e, consequentemente, gere conflito no campo internacional.
Além disso, o art. 55 do mesmo diploma normativo apresenta que, “com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos” com vistas à promoção do “respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais”, ou seja, uma vez respeitado o princípio da autodeterminação dos povos, respeitar-se-ão os Direitos Humanos, pois a produção de estabilidade e de bem-estar é um objetivo da comunidade internacional para promoção da paz, e, como já foi expressado neste trabalho, é também o objetivo primário do Estado, cujo conjunto forma as Nações Unidas.
No mesmo sentido, os Pactos Internacionais tanto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais quanto dos Direitos Civis e Políticos, ambos de 1966, trazem em seu bojo que todos os povos têm o direito à autodeterminação, motivo pelo qual, seus respectivos estatutos políticos, seu desenvolvimento cultural, social e econômico são assegurados no campo do Direito Internacional.
Com vistas a isso, defende Simon Weldehaimanot que, para a manutenção da integridade territorial de determinado Estado ser mantida, esse Estado tem o dever de conduzir-se em conformidade com o princípio da igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, logo, não deve ser imposto ao povo distinções que privilegiem dados grupos em detrimento de outros, o que implicaria em dizer que além da autodeterminação dos povos com vista aos Estados dever ser respeitada, a autodeterminação dos súditos de um Estado também o deve ser (WELDEHAIMANOT, 2012, p.94-5).
A autodeterminação interna envolve o reconhecimento de que cada membro do povo dentro do mesmo Estado participa das decisões política desse Estado, tendo seus direitos sociais garantidos, o que envolve a autodeterminação de toda a população do Estado, de grupos etnicamente distintos em Estados multinacionais e das minorias (RAIC, 2002, p. 243).
Tal afirmação guarda consonância com o pensamento de Novelino (2016, p. 261) no sentido de que este explana a importância que a autodeterminação dos povos possui para estabelecimento de condição essencial para a eficaz garantia e a observância dos direitos humanos, bem como para sua promoção e fortalecimento.
Observa-se, entretanto, que a autodeterminação interna tem ligação tênue com o direito à secessão, que pode ser definida como o surgimento de um novo Estado através da separação de um Estado predecessor sem que este deixe necessariamente de existir. Dessa forma, um povo só tem o direito à secessão quando, teoricamente, se lhe nega o exercício da autodeterminação. Em outras palavras, quando não é politicamente representado no Estado em que vive e/ou quando esse Estado não lhe garante seus direitos, com base em discriminações ilegais de qualquer natureza (PELLET, 2009. p.584).
No mesmo raciocínio, James Crawford destaca que, uma vez assinalada que a secessão pode ocorrer com suporte do princípio da autodeterminação dos povos ou em violação a esse, dependendo de ter sobrevindo, respectivamente, de uma unidade de autodeterminação que conta com o apoio da população interessada ou se foi feita simplesmente em relação ao Estado independente (CRAWFORD, 2006, p. 383-4).
Ocorre que a secessão, na maioria das vezes, não ocorre de forma pacífica. Isso porque, como visto, ela implica na perda de uma parcela de soberania de um determinado Estado e com ela um pouco da influência econômica e política. É nesse ponto que a questão se aproxima com o conceito da R2P, vez que essa, conforme art. 72 e 74 do Documento Final da Conferência Mundial de 24.10.2005 consiste na responsabilidade secundária da comunidade internacional de proteger determinada população de crimes de guerra, genocídio, crimes contra humanidade e limpeza étnica, e, pode ser invocada quando o Estado falha em seu dever de proteger seu próprio povo desses crimes. É esse o caso do Kosovo, por exemplo, que em 1945 foi anexado à Sérvia e transformou-se em região autônoma e, portanto, seria considerada uma das Repúblicas da Iugoslávia (FRANÇA, 2004. p.20).
Disso surge, então, um aparente conflito entre princípios de Direito Internacional, se por um lado deve-se respeitar a soberania de um Estado e sua autodeterminação, por outro lado não se pode olvidar esforços para fazer cessar qualquer violação a Direitos Humanos.
Todavia, o conflito é meramente aparente, tendo em vista que o exercício da soberania sustenta-se no respeito à autodeterminação dos povos, o que inclui o respeito a sua vertente interna e, portanto, aos Direitos Humanos. Sendo assim, como se verificará nas próximas linhas desta pesquisa, quando a proteção aos Direitos Humanos encontra-se fragilizada é dever dos demais Estados interferirem de modo a restaurar o bem-estar e assegurar o equilíbrio dos poderes na esfera internacional, reflexa ao equilíbrio que deve existir dentro dos territórios.
Tal corrente de pensamento encontra em Michel Foucault um de seus defensores, tendo em vista que para esse autor a soberania abarca o dever do Estado de proteger os indivíduos que se encontram em seu território, uma vez que esta entidade foi estabelecida pelo contrato social para prover proteção a seus nacionais, pois a sujeição dos indivíduos ao Estado parte de seu medo da morte, ou melhor, de sua “vontade de preferir a vida à morte” (FOUCAULT, 1999, p.110).
Em decorrência desse entendimento, a soberania não somente exige do Estado o dever de proteger os nacionais, como esse dever consiste no seu principal pressuposto. Isso, porque, se o Estado não for capaz de proteger seus nacionais, a ligação mútua entre o povo e o Estado se rompe, colocando em risco o próprio sentido de soberania. Assim, a existência do Estado depende da sobrevivência de seus nacionais, do contrário, “[…] a soberania do Estado desaparece pura e simplesmente porque os indivíduos desse Estado desapareceram” (FOUCAULT, 1999, p.109).
Nesse viés, quando se incorpora à questão da soberania ao estudo sobre Intervenções Humanitárias, inevitavelmente, deve-se lembrar que, numa ordem anárquico-realista[4], os Estados mais fortes buscam poder, enquanto os mais fracos procuram se defender contra potenciais ameaças. Desse modo, as Intervenções Humanitárias podem ser vistas, pelos mais fracos, como uma verdadeira ameaça à sua segurança no cenário internacional.
Nicholas J. Wheeler destaca a existência de duas escolas: a primeira que defende que os Estados fortes majoritariamente intervêm nos Estados fracos quando ela serve aos seus interesses geopolíticos e ou econômicos, e a segunda que afirma a possibilidade da intervenção em defesa dos direitos humanos, como no caso da intervenção militar humanitária (WHEELER, 2000. p.27).
Assim, na ordem jurídica internacional, sobrepaira o princípio da não intervenção que está diretamente ligado ao atributo da soberania do Estado, motivo pelo qual Amaral Júnior (2011, p.218) ensina que de acordo com o princípio da não intervenção, nenhuma nação ou governante tem o direito de interferir no governo de outro Estado. Assim, os Estados devem respeitar a soberania uns dos outros.
Entende-se intervenção como a ação de um Estado ou grupo de Estados que interfere em outro Estado soberano ou independente, para impor a sua vontade nos assuntos internos e externos, sem o respectivo consentimento, a fim de manter ou alterar um estado de coisas. É, portanto, uma prática ilícita, pois contraria o consagrado princípio da não intervenção (MELLO, 2004, p.45).
No modelo jurídico idealizado pela Carta da ONU, o Estado é o ator principal das relações internacionais e a não intervenção é, nesse sistema, corolário lógico do conceito de soberania, pois vincula explicitamente o direito de um Estado à independência ao dever de respeito da mesma pelos demais Estados (AMARAL JÚNIOR, 2003, p.156). O princípio da não intervenção, portanto, está diretamente ligado ao princípio da soberania dos Estados e constitui uma necessidade no atual sistema internacional.
O princípio da não intervenção encontra-se consolidado no art. 2º, paragrafo 7º da Carta da ONU, que dispõe não haver em seu texto autorização para que as Nações Unidas intervenham em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigação dos membros a submissão de tais assuntos a uma resolução.
Com base nisso, T. Franck (2006, p.02) destaca que, com esse princípio, se buscou evitar o uso unilateral da força pelos Estados. Assim sendo, na Carta da ONU existem várias limitações sérias ao uso da força pelos Estados-membros, os quais concordaram em “evitar em suas relações internacionais a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado ou qualquer outra ação incompatível com os Propósitos das Nações Unidas”.
Portanto, o uso da força não está textualmente autorizado pela Carta das Nações Unidades, o que inviabilizaria, ao menos em tese, ações militares com propósitos humanitários. Todavia, o aumento de episódios em que o recurso da força é a única forma aparente de restabelecimento do império dos Direitos Humanos tem aberto o caminho para uma interpretação mais elástica do teor do referido documento (JUBILUT, 2011, p. 07).
Exemplificando essa afirmação, tem-se as crises humanitárias da década de 1990 como a do Kuwait (1990), no Norte do Iraque (1991), na Somália (1992), na Iugoslávia (1992), em Ruanda e no Haiti (1994), e que inclui campanhas de limpeza étnica, assassinatos em massa, e um grande número de desabrigados e refugiados.
Simone Martins Rodrigues (2000, p. 113) relata que devido ao caos que essas crises humanitárias provocaram a proteção da população civil passou a constituir uma das prioridades das ações empreendidas pelas forças a serviço da ONU.
A autora destaca, ainda, que as intervenções de caráter humanitário que ocorreram no pós-Guerra Fria demonstram o flagrante e maciço desrespeito aos direitos humanos, a ineficiência dos meios convencionais de assistência humanitária consensual e a mobilização do Conselho de Segurança considerando questões que antes eram de responsabilidade exclusiva os Estados como matéria de preocupação internacional (RODRIGUES, 2000, p.114).
No mesmo caminho, o pensamento de Breno Hermann saliente que se invoca o desrespeito aos Direitos Humanos como elemento de desestabilização da paz, dando ensejo à realização de intervenções armadas, o que cria um aparente conflito no campo do Direito Internacional (HERMANN, 2011, p. 147).
Logo, é possível que se diga que o princípio da não intervenção sofre limitações na área de Direitos Humanos, uma vez que a própria Declaração Universal dos Direitos do Homem coloca as questões envolvendo Direitos Humanos acima do direito interno dos Estados (GHISLENI, 2011, p. 44).
É com essa premissa, por exemplo, que foi editada a Resolução 688 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, quando da invasão do Iraque ao Kawait. Contudo, o uso da força para conter uma afronta aos Direitos Humanos e a autodeterminação dos povos não poderia ocorrer de forma irrestrita, havendo portanto uma responsabilidade ao proteger os povos ameaçados pelo abuso perpetrado pelo Estado violador, episódio que deu início a uma relativização da não intervenção (RODRIGUES, 2000, p. 121).
Cabe que se ressalte, no entanto, que a ação tenha dado início ao ativismo do Conselho de Segurança na área humanitária, a Resolução apenas solicita permissão para que as organizações humanitárias prestem auxílio e, conforme ensina Macedo, o que não pode ser considerada stricto senso uma intervenção humanitária (MACEDO, 2006, p.162), uma vez que a utilização da força foi autorizada somente de modo implícito (DELGADO, 2003, p.161).
Observa-se que, em 1992, quando da adoção da Resolução 794 do Conselho de Segurança, o objetivo primevo da ONU era apenas assegurar o ingresso de ajuda humanitária ao povo da Somália, que passava por uma situação de usurpação de seus Direitos Humanos por parte do governo, porém, considerando a crescente dificuldade de ser promovida a ajuda humanitária sem o uso da força, foi autorizada a Operação Restaurar Esperança ou Unitaf, mas apenas quando a escalada das mazelas somalis chegaram a um nível exacerbado, ou seja, o recurso à força foi o último recurso empregado (RODRIGUES, 2000, p. 126-7).
O mesmo ocorre com o conflito na região da ex-Iugoslávia, onde uma escalada de resoluções matricialmente buscou estabelecer zonas sanitárias, escoltas e fornecimento de ajuda humanitária por meio pacífico. Entretanto, como o efeito esperado não era atingido e o desrespeito aos Direitos Humanos continuava crescente, foi aprovada a Resolução 836 do Conselho de Segurança, o que, por fim surtiu dramáticos efeitos, forçando o aceite da paz (RODRIGUES, 2000, p. 158-9).
Nota-se, então, que a relativização do princípio da não intervenção não é conflitante com a defesa da soberania e do princípio da não intervenção, porque inicialmente busca-se resolver violações à autodeterminação e aos Direitos Humanos, cuja ausência traduz-se em ausência de soberania; ausente a soberania, também se faz ausente o Estado, o que consequentemente abre brecha à intervenção para fins de restaurar o bem-estar, fim primevo do Estado.
Contudo, a possibilidade de recorrer-se à força não é totalmente pacífica na doutrina, em que pese seja uma realidade no campo da prática, para autores como a Mestra Mônica Teresa Costa Sousa, “levar adiante uma ação de intervenção armada justificando-se simplesmente na violação do Direito Internacional Humanitário é um equívoco”, pois não encontraria respaldo sequer na Convenção de Genebra de 1949 e em seus Protocolos Adicionais de 1977, os quais obrigaram os Estados signatários a respeitar as disposições internacionais humanitárias, mas nada falaram sobre o uso da força (SOUSA, 2011, p. 69).
Em outro polo, tem-se que, em “Uma Agenda para a Paz” reconhece-se a necessidade de relativizar a soberania perante os desafios da atualidade, quando a ausência da força é incapaz de conter o desrespeito aos Direitos Humanos sozinha, uma vez que os governantes de Estado devem compreender que suas atitudes devem seguir na linha da boa gestão de modo a alinhar-se às necessidades de um mundo interdependente (VAZ, 2015, p. 36).
No mesmo sentido, a Doutora Vanessa Braga Matijascic fala que existem duas formas de uma força armada ingressar em um território sob o manto da ajuda humanitária. A primeira forma, seria o governo central do Estado pedir oficialmente o auxílio para reverter problemas que representem ameaça à paz e à segurança internacional; a segunda, seria quando não o faz, mas, mesmo assim, o Estado contém uma fonte de ameaça, motivo pelo qual sua soberania deve ser relativizada para o recebimento de uma missão de imposição da paz (MATIJASCIC, 2014, p. 32-3).
Ocorre que, adotando a segunda corrente, carecer-se-ia, pelo menos a princípio, do elemento “consentimento do Estado envolvido” para o uso da força, em que pese houvesse imparcialidade, neutralidade, participação voluntária e uso restrito da força. Das dificuldades pelas quais a ONU passou em várias ocasiões, e pelo risco que o não uso da força coloca tanto os protegidos quanto os enviados protetores, o que seria uma afronta ainda mais grave aos objetivos das Nações Unidas, que adaptou-se à realidade do mundo para relativizar a necessidade de consentimento do Estado receptor da ajuda (MATIJASCIC, 2014, p. 33-4).
Diante disso, esvaziam-se as preocupações de Sousa, quando afirma que o uso da força apenas atende a interesses geopolíticos, ainda mais quando ausente a aquiescência do Estado sobre o qual se intervém (SOUSA, 2011, p. 69), uma vez que ainda restaria o dever de neutralidade e de imparcialidade para assegurar a forma com que o uso da força deve dar-se no tocante aos interesses particulares (MATIJASCIC, 2014, p. 33).
Com isso, Vaz esclarece que a Carta das Nações Unidas não é o documento mais adequado sobre o qual analisar a legitimidade do uso da força para resolver questões de violação de Direitos Humanos, embora também possa ser utilizado, pois escrito para evitar violações de soberania de Estados contra Estados, porém, os conflitos do pós-Guerra Fria capazes de desestabilizar a paz internacional ocorrem de forma intraestatal. Para isso, então, estabeleceu-se a Responsabilidade de Proteger (R2P), a qual visa prevenir, reagir e reconstruir como pilares de função quando das intervenções, pautadas na deslegitimidade de uma liderança estatal que viole Direitos Humanos ou que não os assegure (VAZ, 2015, p. 42-3).
Wheeler, por sua vez, destaca que a legitimidade é um componente das intervenções humanitárias, eis que apenas as ações legítimas e críveis dos Estados são justificáveis (WHEELER, 2000, p.04). O autor entende que, para que a ação seja considerada legítima deve estar de acordo com regras e normas aceitas e compartilhadas pelos demais Estados (WHEELER, 2000, p.26), já que, se não legítima, a ação pode ser inibida pela sociedade internacional (WHEELER, 2000, p.07).
Desta forma, aceitar-se-iam intervenções humanitárias seriam quando o Estado falhasse em cumprir com suas atribuições e como última alternativa, ou seja, quando nenhum outro instituto fosse capaz de prevenir ou remediar as violações de direitos humanos que ocorressem. Ou seja, as intervenções humanitárias legitimam-se ao objetivarem a proteção de direitos humanos, mas essa proteção deve ser entendida no contexto de relativismo cultural entre os povos, e não como oriunda da universalidade aceita pela comunidade internacional.
James Pattison afirma que a legitimidade não depende da adequação das intervenções humanitárias às normas de Direito Internacional, mas sim da justificação moral dos agentes (PATTISON, 2008, p.06). Ainda, acrescenta que a legitimidade possui caráter cumulativo, eis que adquirida conforme se apresentam determinadas qualidades e para ser plenamente legítimo, o agente precisa apresentar todas as qualidades legitimadoras (PATTISON, 2008, p.07). Porém, um interventor que não apresente uma delas pode ainda apresentar um nível adequado de legitimidade, dependendo das outras qualidades que ele possua. A análise dessas qualidades, e da prevalência de uma sobre a outra, pode somente ser realizada de acordo com as circunstâncias fáticas de cada caso.
Ademais, a expressão “ações incompatíveis com os propósitos das Nações Unidas”, inserida no art. 2º, §4º, reflete uma “abertura” nos termos da Carta, uma vez que o dispositivo permite incluir várias situações imprevistas e vindouras, que podem ser enquadradas na norma e permitir que a Organização atue em determinados casos. As ações incompatíveis com os propósitos das Nações Unidas são aquelas contrárias ao disposto no primeiro artigo da Carta, ou seja: a) atos contrários à paz e segurança internacionais; b) solução não-pacífica de controvérsias; c) ações contrárias à autodeterminação dos povos; d) ações contrárias à igualdade de direitos dos povos e e) violações aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. A inclusão destas expressões demonstra a preocupação de proibir a ameaça ou utilização da força não somente nos casos de integridade territorial ou independência política de qualquer Estado, mas, em qualquer ação militar que fosse contrária aos propósitos das Nações Unidas, mas não quando forem alinhados a seus propósitos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, verifica-se que o conflito aparente entre soberania e Direitos Humanos inexiste quando se entende que a soberania só existe quando se permite que os povos se autodeterminem externa e internamente. Logo, quando um Estado é incapaz de assegurar o diretamente viola a autodeterminação de seu povo, violando assim os Direitos Humanos, não exerce a sua função e, portanto, deixa de ser um Estado do ponto de vista principiológico, pois carente de soberania – um de seus elementos constituidores.
Portanto, um Estado pode ter sua soberania relativizada sem que isso viole sua autodeterminação, uma vez que essa foi violada pelo próprio Estado a ponto de causar desequilíbrio capaz de afetar a paz internacional, motivo pelo qual os demais Estados têm o dever de intervir no território daquele Estado em desequilíbrio.
Há, no entanto, quem defenda que isso é uma atitude ilegal, e que portanto incompatível com a Carta das Nações Unidas e com outros documentos de influência internacional, entretanto, como visto, o uso da força não requer autorização do infrator, assim como a prisão de um criminoso não requer o seu consentimento no direito intestino das nações, pois se fosse requisito imperaria o caos.
Não obstante, a concordância poderia facilitar o sucesso da intervenção humanitária, que ainda deverá obedecer aos requisitos de imparcialidade, neutralidade, uso moderado da força e de participação voluntária, mas não é requisito cuja ausência deslegitime a intervenção, pois o objetivo maior das Nações Unidas é proteger a paz e a harmonia internacional, porém, tendo sido constituída objetivando as relações entre Estados, hoje deve ser interpretada de forma mais ampla para conseguir resolver conflitos que nascem dentro de um Estado, sendo assim capaz de cumprir com sua pacífica função.
REFERÊNCIAS
AMARAL JÚNIOR, Alberto do. O Direito de Assistência Humanitária, Rio de Janeiro, Renovar, 2003.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em 30.03.2019.
_______. Decreto 591, de 6.07.1992. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Brasília, 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0591.htm. Acessado em 31.03.2019.
_______. Decreto 592, de 6.07.1992. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Brasília, 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm. Acessado em 31.03.2019.
BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 7ª ed. Oxford, UK, Oxford University Press, 2008.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª ed., São Paulo, Atlas, 2015.
COUTO, Reinaldo. Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 147.
CRAWFORD, James. The Creation of States in International Law. 2ª ed. Oxford, UK, Oxford University Press, 2006.
DELGADO, José Manuel Avelino de Pina. Regulamentação do Uso da Força no Direito Internacional e Legalidade das Intervenções Humanitárias Unilaterais. Dissertação (Mestrado), Faculdade de Direito, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.
FRANÇA, Paulo Roberto Caminha de Castilhos. A Guerra do Kosovo, a OTAN e o conceito de “Intervenção Humanitária”. Porto Alegre, UFRGS, 2004.
FRANCK, T. Collective Security and UN Reform, between the necessary and the possible. Chicago Journal of International Law, v. 6. n. 2. Winter, 2006.
FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso, aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2.12.1970. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 05ª ed., São Paulo, Edições Loyola, 1999.
GHISLENI, Alexandre Peña. Direitos Humanos e Segurança Internacional. Brasília, FUNAG, 2011.
GONZAGA, Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael. Cartas à Princesa Isabel. In Conselhos aos Governantes. V. 15. Brasília, Senado Federal, 1998.
HERMANN, Breno. Soberania, Não Intervenção e Não Indiferênça, reflexões sobre o discurso diplomático. Brasília, FUNAG, 2011.
HINSLEY, F. H. El concepto de soberanía. Barcelona, Labor, 1972.
INTERNATIONAL Comission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). The Responsability to Protect. [s/l], 2001. Disponível em: htt/p://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. Acessado em 30.03.2019.
JUBILUT, Liliana Lyra. A “responsabilidade de proteger” é uma mudança real para as intervenções humanitárias?, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/revistaeletronica/ artigos/Liliana%20Jubilut%20DIH.pdf>. Acessado em 31.03.2019.
KAUTILYA. Artashastra. In Conselhos aos Governantes. V.15. Brasília, Senado Federal, 1998.
KOERNER, A. Ordem política e sujeito de direito no debate sobre direitos humanos. Lua Nova, São Paulo, n. 57, 2002. p. 87-111.
MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. Direitos Humanos e Direito Internacional, Curitiba, Juruá, 2006.
MATIJASCIC, Vanessa Braga. Haiti, segurança ou desenvolvimento no início dos anos 1990, Curitiba, Appris, 2014.
MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. V.1. 15 ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2004.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 28 ed., São Paulo, Atlas, 2012.
NOGUEIRA, João Pontes; MESSARI, Nizar. Teoria das Relações Internacionais , correntes e debates, Rio de Janeiro, Elsevier, 2005.
NOVELINO, Marcelo. Curso de Direito Constitucional. 11ª ed. Salvador: Juspodium, 2016.
ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. Assembleia Geral. Res. 2625 (XXV), 24 October 1970. Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States. Disponível em: http://www.un-documents.net/a25r2625.htm. Acessado em 31.03.2019.
________. Carta das Nações Unidas. São Francisco, EUA, 26.06.1945. Disponível em: http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf. Acessado em 31.03.2019.
PATTISON, James. Ethics on Humanitarian Intervention in Libya. Ethics & International Affairs. Cambridge, v. 25, n.03, p. 271-277, set. 2011a. Disponível em: http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?jid=EIA&volumeId=25&seriesId=0&issueId=03. Acessado em 31.03.2019.
PELLET, Alain. Droit International Public. 8. ed. Paris, France, L.G.D.J, 2009.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2015.
PORTELA, Paulo Henrique Gonçalves. Direito Internacional Público e Privado. 3 ed. Salvador: Juspodivm, 2011.
PUCCINELLI JÚNIOR, André. Curso de Direito Constitucional. 2 ed., São Paulo, Saraiva, 2013.
RAIC, David. Statehood and the Law of Self-Determination. The Hague, Netherlands, Kluwer Law International, 2002.
REGIS, André. Intervenções Humanitárias, Soberania e a Emergência da Responsabilidade de Proteger no Direito Internacional Humanitário. Ano 5. n. 9, jul./dez. 2006, p, 05-17.
ROBERTSON, Geoffrey. Crimes Agains Humanity, the struggle for global justice. New York, The New Press, 2002.
RODRIGUES, Simone Martins. Segurança Internacional e Direitos Humanos, a prática da intervenção humanitária no pós-guerra fria, Rio de Janeiro, Renovar, 2000.
ROTERDÃ, Erasmo de. A Educação de um Príncipe Cristão. In Conselhos aos Governantes. V. 15. Brasília, Senado Federal, 1998.
ROUSSEAU, Jean-Jacque. Do Contrato Social. Leme, Edijur, 2017.
SÓCRATES. Isócrates a Nicoclés. In Conselhos aos Governantes. V.15. Brasília, Senado Federal, 1998.
SOUSA, Mônica Teresa Costa. Direito Internacional Humanitário. 2ª ed., Curitiba, Juruá, 2011.
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 12 ed., São Paulo, Saraiva, 2014.
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. V.1. Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris, 2003.
VAZ, Anelise. Muito Além da Paz, Curitiba, Appris, 2015.
WHEELER, Nicholas J. Saving Strangers, humanitarian intervention in international society. New York, Oxford University Press, 2000.
WELDEHAIMANOT, Simon M. A CADHP no Caso Southern Cameroons. SUR. Revista Internacional de Direitos Humanos. Semestral. Edição em Português. v. 9. n. 16. 2012. p. 90 – 109.
Notas de Rodapé
[1] Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Especialista em Direito Ambiental. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Sociologia Jurídica pela Universidade do País Basco, Espanha. Doutora em Direito pela Universidade de Milão, Itália.
[2] Graduada em Direito pela Faculdade CESUSC. Especialista em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina. Curso de Extensão em Direitos Humanos, realizado na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Integrante da OAB/Cidadã em Florianópolis e do Grupo de Estudos de Direito Internacional Ius Gentiun da Universidade Federal de Santa Catarina.
[3] Graduado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, em Gravataí. Especialista em Direito Militar pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Mestrando em Direito das Relações Internacionais e de Integração na América Latina pela Universidad de la Empresa, em Montevidéu.
[4] Uma ordem anárquico-realista, é, na visão dos realistas aquela que propõe um ambiente altamente competitivo, onde há enorme desconfiança por parte do Estado, que todos visam sua sobrevivência (NOGUEIRA; MESSARI, 2005).