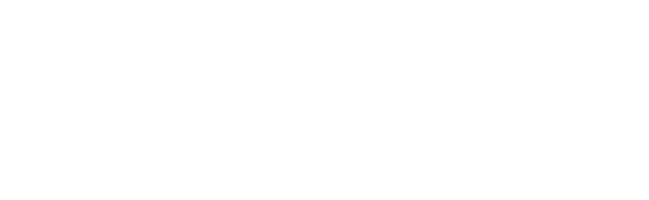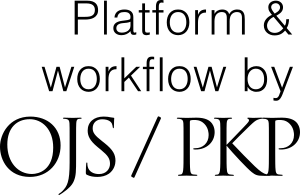A precarização do trabalho humano em meio à economia disruptiva
Preacarization of human work among the disruptive economy
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.32
Recebido/Received 29/07/2024 – Aprovado/Approved 31/10/2024
Germano Campos Silva[1] – https://orcid.org/0000-0002-9577-7175
Resumo
Este estudo aborda a precarização do trabalho humano no contexto da economia disruptiva, analisando os impactos do avanço tecnológico nas relações laborais e os desafios para proteger os direitos trabalhistas. Destacam-se as três fases da Revolução Industrial, ressaltando os avanços tecnológicos e científicos que afetaram os setores econômicos e o mundo do trabalho. Apesar dos benefícios da revolução informacional, como o desenvolvimento da robótica e a redução de custos, houve um retrocesso nos direitos trabalhistas, evidenciado pela substituição gradual do trabalho humano por máquinas e pelo aumento do desemprego estrutural. A economia moderna busca substituir a mão de obra humana e reduzir custos para aumentar a competitividade. Nesse contexto, surgem as plataformas digitais, transformando o cenário das relações trabalhistas. A pandemia de Covid-19 acentuou a precarização das relações de trabalho, levando o Governo a adotar medidas emergenciais. O estudo revela o limbo jurídico em que se encontram os trabalhadores de plataformas digitais, gerando debates sobre a necessidade de uma regulação específica ou a aplicação das leis trabalhistas existentes, ou seja, estas mudanças advindas do trabalho digital levantaram incertezas quanto à aplicação ou não do regramento jurídico celetista aos trabalhadores inseridos nesta nova realidade. A resposta do Poder Executivo veio com o encaminhamento do projeto de Lei Complementar 12/2024 na tentativa de regular as relações de trabalho dos motoristas de plataforma digitais, com opção pelo trabalho autônomo. O que não põe fim à discussão sobre este tema. Adotou-se o método hipotético-dedutivo e a pesquisa bibliográfica, utilizando obras de importantes doutrinadores do Direito do Trabalho e da Sociologia do Trabalho, além de dados de órgãos oficiais, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
Palavras-chave: Precarização, automação, desemprego, economia disruptiva, pandemia de Covid-19.
Abstract
This study addresses the precariousness of human labor in the context of the disruptive economy, analyzing the impacts of technological advances on labor relations and the challenges to protecting labor rights. The three phases of the Industrial Revolution are highlighted, highlighting the technological and scientific advances that affected economic sectors and the world of work. Despite the benefits of the information revolution, such as the development of robotics and cost reduction, there was a setback in labor rights, evidenced by the gradual replacement of human labor by machines and the increase in structural unemployment. The modern economy seeks to replace human labor and reduce costs to increase competitiveness. In this context, digital platforms emerged, transforming the scenario of labor relations. The Covid-19 pandemic accentuated the precariousness of labor relations, leading the Government to adopt emergency measures. The study reveals the legal limbo in which digital platform workers find themselves, generating debates about the need for specific regulation or the application of existing labor laws. In other words, these changes resulting from digital work have raised uncertainties about whether or not the legal rules of the CLT apply to workers inserted in this new reality. The response of the Executive Branch came with the submission of Complementary Law Project 12/2024 in an attempt to regulate the employment relationships of digital platform drivers, with the option for self-employment. This does not put an end to the discussion on this topic. The hypothetical-deductive method and bibliographical research were adopted, using works by important scholars of Labor Law and Sociology of Work, in addition to data from official bodies, such as the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the Institute of Applied Economic Research (IPEA).
Keywords: Precariousness, automation, unemployment, disruptive economy, pandemic.
Sumário: 1. Introdução; 2. A Revolução Industrial e o direito do trabalho; 3. O desemprego estrutural e o processo de automação; 4. Economia disruptiva e a criação das startups; 5. A pandemia de Covid-19 e as medidas emergenciais de proteção ao emprego; 6. Os desafios do direito do trabalho ante a economia disruptiva; 7. Considerações Finais; 8. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo busca destacar a precarização do trabalho humano em meio à economia disruptiva. Para tanto, são analisados os impactos nas relações de trabalho causados pelo avanço tecnológico e o desafio de garantir a proteção dos direitos trabalhistas.
Inicialmente, são analisadas as três fases da Revolução Industrial, com destaque para os avanços tecnológicos e científicos que impactaram diretamente os setores da economia e as relações de trabalho. Apesar dos inúmeros benefícios da chamada revolução informacional, como o desenvolvimento da robótica e a diminuição dos custos de produção, nota-se que houve um retrocesso no que diz respeito aos direitos trabalhistas.
Dessa forma, são pontuadas as consequências da substituição gradativa do trabalho humano pelo uso de máquinas, como o aumento do desemprego estrutural, visto que a economia moderna busca, ao mesmo tempo, substituir a mão de obra humana e reduzir os custos, sem diminuir a produção.
É importante registrar que as novas formas de trabalho advindas dessa disrupção econômica deram lugar às plataformas digitais, transformando o cenário do Direito do Trabalho e criando modelos de negócios até então desconhecidos. À vista disso, são perceptíveis os impactos da economia disruptiva nas relações trabalhistas, como a criação das chamadas plataformas digitais o que, inevitavelmente, traz a discussão se o atual modelo de configuração das relações trabalhistas previsto no ordenamento jurídico brasileiro responderá a estas mudanças, ou seja, se os elementos constitutivos da relação de emprego elencados no art. 3º da CLT atenderão a esta nova realidade advinda da Tecnologia da Informação e Comunicação?
Abordou-se também como essas novas formas de empreendimento atuam, e como esses negócios operam diante de incertezas, como a pandemia de Covid-19. Diante do cenário pandêmico, buscou-se analisar as medidas legislativas emergenciais adotadas pelo Governo Federal para enfrentar a pandemia, de modo a minimizar os impactos na economia e nas relações de trabalho, que se precarizaram diante do vertiginoso avanço da economia digital. Destacou-se a posição do Supremo Tribunal Federal (STF) ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6363, que decidiu pela constitucionalidade da Medida Provisória (MP) n.º 936, de 1º de abril de 2020, a qual autorizava, em decorrência da crise sanitária provocada pela Covid-19, a redução de salário e a jornada mediante acordo individual, sem a participação dos sindicatos[2].
Para a presente investigação, empregou-se o método hipotético-dedutivo. Esse método consiste na construção de conjecturas que devem ser submetidas a diversos testes, à crítica intersubjetiva, ao controle mútuo pela discussão crítica, à publicidade crítica e ao confronto com os fatos. No caso estudado, verificou-se o limbo jurídico em que se encontram os trabalhadores de plataformas digitais, uma vez que há divergências entre aqueles que defendem a não necessidade de regulação específica para esse coletivo e os que consideram mais adequado aplicar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), partindo do entendimento de que esses trabalhadores são empregados. Essas incertezas também se refletem no âmbito da Justiça do Trabalho e no STF. No projeto de lei Complementar 12/2024 encaminhado pelo Poder Executivo na tentativa de regulamentar o trabalho em plataformas digitais, ficou demonstrada que a opção foi pela relação de trabalho autônomo, com uma regulacão própria para os motoristas. É uma tentativa de responder às mudanças profundas provocadas com o surgimento do trabalho digital.
Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, tendo por referencial teórico obras importantes, com destaque para André Gonçalves Zipperer, Efrén Borajo DaCruz, Maurício Godinho Delgado, Ricardo Antunes, Rubia Zanotelli de Alvarenga, dentre outros doutrinadores nacionais e internacionais do âmbito do Direito do Trabalho, além de artigos científicos e dados publicados por órgãos do Estado, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
2 A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E O DIREITO DO TRABALHO
A velocidade das mudanças sociais decorrentes das inovações tecnológicas aponta para uma nova realidade no âmbito das relações trabalhistas. A criação de plataformas de intermediação de trabalho humano, desde a segunda metade da primeira década do século XXI, abriu espaço para mudanças que têm potencial para serem as mais importantes desde a introdução do trabalho subordinado[3]. Para compreender essas transformações, é imprescindível, primeiramente, realizar uma análise histórica das primeiras relações laborais até os dias atuais.
Segundo Efrén Borrajo DaCruz, três sistemas caracterizavam o trabalho nos séculos passados:
[…] escravidão, em que o trabalhador não era dono de si mesmo; servidão, na qual o trabalhador, apesar de livre, devia o trabalho a outrem em virtude de uma relação pessoal (fraternidade, clientela, assimilação familiar), ou real (em razão de terras), e, por fim, liberdade, na qual a prestação de serviços era, e é, objeto de uma obrigação voluntária […][4]/[5]
Observando esse processo evolutivo, são perceptíveis as condições desumanas a que os trabalhadores eram submetidos. O direito a um trabalho digno era menosprezado, e os indivíduos que prestavam serviços eram equiparados a mercadorias, objetos de troca e considerados propriedade de seus senhores. Destarte, a busca pela liberdade de trabalho pode ser considerada uma das mais importantes da história, pois modificou a ideia de que o trabalhador era apenas um objeto, cuja força de trabalho estava sempre à disposição do tomador de serviços.
Considera-se que o marco inicial dessas alterações se deu por meio da Revolução Industrial, a qual provocou mudanças profundas nas relações trabalhistas, originando, assim, o trabalho assalariado e, consequentemente, os primeiros passos para o surgimento do Direito do Trabalho. André Gonçalves Zipperer pontua que a Primeira Revolução Industrial ocorreu na Grã-Bretanha, aproximadamente entre 1760 e 1840 (de forma decisiva na década de 1780), impulsionada pela construção de ferrovias, pela invenção da máquina a vapor e pelo início da produção mecânica, principalmente no uso do algodão[6].
Convém destacar que essa primeira fase da Revolução Industrial foi marcada pela expansão da indústria em razão da inserção da mecanização nos processos de produção. As ferramentas anteriormente usadas foram substituídas por maquinários de maior habilidade e com movimentos mecânicos repetitivos, demonstrando a agilidade desses instrumentos em comparação com o tempo gasto em um trabalho manual.
Nesse sentido, para Olga Martínez Moure, a expressão “revolução industrial”[7] caracteriza as transformações econômicas ocorridas entre os séculos XVIII e XIX, bem como uma resposta às exigências que o capitalismo e o individualismo dos novos tempos impuseram.
A Revolução Industrial, no âmbito das relações trabalhistas, mostrou-se inovadora no que se refere à introdução de máquinas, considerando que até o fim do século XVII havia forte presença da mão de obra humana. Desse modo, o surgimento de maquinários se caracterizou como um fator que provocou mudanças em grande escala nas condições de vida do ser humano, como a transição das pequenas oficinas de trabalho para fábricas com centenas de operários.
Foi nesse período que surgiram a indústria têxtil e a metalurgia, as quais alavancaram os setores da economia daquela época mediante a criação de novos empregos e, consequentemente, do aumento dos lucros. Outro fator importante desse período diz respeito à divisão do trabalho. A inserção de novas técnicas industriais fez com que os novos meios de produção necessitassem de trabalhadores capacitados para executarem determinadas atividades.
Nessa perspectiva, a divisão do trabalho entre os operários ocorreu de modo que um grupo de trabalhadores era responsável pela primeira etapa da produção, outro grupo encarregado da segunda fase, e assim sucessivamente até a fase final do produto. Desse modo, houve uma organização do processo produtivo e uma redução significativa do tempo gasto na produção.
A segunda Revolução Industrial, iniciada no final do século XIX e que perdurou no século XX, destacou-se pelo advento da eletricidade e da linha de montagem, possibilitando a produção em massa[8]. Essa nova etapa apresenta fortes traços do período anterior, como o uso de maquinários e a necessidade de qualificação dos operários. O principal ponto desse novo cenário é a organização científica do trabalho, cujo princípio fundamental é o aproveitamento dos locais de produção e as concentrações industriais, resultando na expansão e no fortalecimento das grandes empresas.
Entretanto, apesar das benfeitorias advindas dessas transformações, as condições de trabalho, que já eram precárias, intensificaram-se. A expansão do capitalismo baseado nos princípios liberais deu lugar a duas figuras hierarquicamente distintas, a burguesia e o proletariado.
Nesse contexto, o empresário, dono de grandes indústrias e pertencente à classe social detentora dos meios de produção, com o objetivo de aumentar o capital e manter a empresa em condições igualitárias de competição com os demais concorrentes de mercado, impunha aos trabalhadores a obrigação de trabalho incessante e os submetia às mais vis condições de labor, sem qualquer direito ou garantia mínima. Neste sentido, Moure explica que:
Quanto às condições em que o trabalho era realizado na fábrica, sabe-se que se caracterizava por total insegurança para o trabalhador, carente de qualquer tipo de direito, inclusive substituição por doença. Consistia em longas horas – do nascer ao pôr do sol – e era realizado sob rígida disciplina de trabalho e sem condições higiênicas. Além disso, o trabalhador percebia um salário de pura subsistência[9]/[10].
Em razão dos problemas sociais advindos das duas primeiras revoluções ainda presentes, teve início, no começo da década de 1960, a Terceira Revolução Industrial. Essa nova fase teve como marco central a rede de energia/internet, podendo ser denominada de revolução digital ou do computador, pois foi impulsionada pelo desenvolvimento dos semicondutores, da computação e do mainframe, na década de 1960, da computação pessoal, na década de 1970, e da internet, na década de 1990[11].
Trata-se de um período de modernização e transformação da indústria, dos setores agrícola, comercial e científico, bem como da comunicação e prestação de serviços. E mais, a aplicação da ciência no sistema de produção permitiu maior fabricação em menor tempo, além de produções até então inimagináveis, como o uso da robótica e estudos no campo genético.
Verifica-se que o aumento da marginalização e o embate entre o proletariado e o aparato político-estatal nesse período resultaram na formação do Estado de bem-estar social, já no final do século XIX. Esse sistema surgiu por meio da eclosão das reivindicações e dos movimentos sociais dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e de subsistência. Isso levou o Estado a interferir diretamente nas relações privadas para regulamentar o trabalho assalariado e oferecer proteção social aos indivíduos alijados do mercado de trabalho[12].
O Estado passou, então, a enxergar o trabalho decente como um direito humano e fundamental, sendo necessária, portanto, a criação de normas efetivas para equilibrar as relações de trabalho. Nesse contexto, o Direito do Trabalho atua de forma relevante, impulsionando os Estados à criação de leis específicas de proteção aos trabalhadores, influenciados pelo constitucionalismo social.
A nova fase vivida pelo Direito Constitucional europeu após a Segunda Guerra Mundial e pelo brasileiro, a partir de 1988 — fase do constitucionalismo humanista e social — expressa-se fortemente por uma compreensão renovada do Direito do Trabalho, considerado núcleo essencial do ideário e dos objetivos constitucionais mais importantes[13].
No processo de consolidação do Direito do Trabalho, é também importante ressaltar o papel relevante da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Criada em 1919 pelo Tratado de Versalhes, a OIT foi imprescindível para a estruturação e a autonomia do Direito do Trabalho. Seu modo de organização das relações laborais demonstra a importância de manter o equilíbrio entre as partes da relação empregatícia, como forma de garantir a justiça no que diz respeito aos direitos e deveres decorrentes do trabalho assalariado. Por meio de suas convenções e resoluções, a OIT busca melhorias nas condições de trabalho no mundo.
Convém mencionar que uma das propostas da organização para enfrentar a crise mundial de desemprego, consequência da globalização, foi a criação da Agenda de Trabalho Decente. Essa proposta teve como objetivos gerar e melhorar empregos, além de erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil, especialmente em suas piores formas. No Brasil, a Agenda Nacional de Trabalho Decente foi formalizada em 2003 pelo Presidente da República e pelo Diretor Geral da OIT.
Diante dos desenvolvimentos sociais propostos pela organização, observa-se a busca por uma padronização do trabalho centrada na pessoa humana, contemplando direitos essenciais, como segurança, remuneração adequada, jornada de trabalho justa, igualdade de tratamento e proteção à integridade física do trabalhador, dentre outros.
Apesar da conquista gradual de melhores condições de trabalho e dos esforços das organizações para sua manutenção, nota-se um aprofundamento da precarização das relações trabalhistas com o advento das novas tecnologias, que rompem com os modelos tradicionais de prestação de serviços.
Denominada de Quarta Revolução Industrial, essa nova fase caracteriza-se, principalmente, pela produção flexível e em escala global. As inovações tecnológicas presentes nessa revolução – como o uso de plataformas online como forma de trabalho – propagam-se de maneira ainda mais célere que nas revoluções anteriores, colocando em risco o emprego e as garantias fundamentais de milhares de trabalhadores. Essas tecnologias trazem mudanças profundas, com o surgimento de novos negócios e a reformulação da produção, do consumo, do modo de trabalhar e de se comunicar, remodelando o contexto econômico, social, cultural e humano em que vivemos[14].
Durante séculos, a classe trabalhadora luta por melhores condições laborais, e os direitos trabalhistas só ganharam maior visibilidade a partir da Revolução Industrial e das grandes transformações políticas e sociais. Nesse sentido, as evoluções tecnológicas são, sem dúvida, um fator importante tanto na esfera econômica quanto nas relações de trabalho, dada a velocidade com que os serviços são ofertados. É indiscutível que esses avanços tecnológicos imprimiram alterações profundas nas ocupações laborais.
A precarização a que os trabalhadores são submetidos contraria as garantias asseguradas pelo ordenamento jurídico vigente. Com efeito, a legislação trabalhista visa proteger o trabalhador, assegurando-lhe o acesso a uma vida digna. Portanto, torna-se imprescindível a reafirmação dessa proteção, considerando que os trabalhadores inseridos no contexto atual se encontram em um limbo entre o trabalho autônomo e a relação de emprego.
3 O DESEMPREGO ESTRUTURAL E O PROCESSO DE AUTOMAÇÃO
Conforme destacado anteriormente, ao longo dos séculos, as novas tecnologias vêm substituindo gradativamente o trabalho manual. As produções que antes demandavam grande esforço físico por parte dos trabalhadores cederam lugar ao uso de inteligências artificiais, que realizam o mesmo serviço em grande escala, sem a necessidade de grandes operações humanas. Se antes os trabalhadores operavam as máquinas, hoje as supervisionam.
O chamado processo de automação imprime as transformações ocorridas nos meios de produção. Os meios eletrônicos foram desenvolvidos para facilitar o trabalho manual, preservando a qualidade, mas aumentando a produtividade e o lucro.
São inegáveis os benefícios que o processo tecnológico trouxe às grandes indústrias, dada a aplicação de técnicas mecânicas ou controladas por computadores que permitem a redução da mão de obra e o ganho na produtividade. O desenvolvimento da automação, especialmente por meio das técnicas de robotização e informatização, revolucionou não só o mercado de trabalho e a indústria, como também a sociedade pós-moderna como um todo. A revolução cibernética também afetou os meios de comunicação social, tornando as notícias e as informações instantâneas e acessíveis a todos na aldeia global[15].
Entretanto, alguns autores destacam a precarização das relações laborais decorrentes da evolução tecnológica. Neste sentido, Ricardo Antunes[16], em sua obra intitulada “Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0”, afirma que, apesar das vantagens advindas das novas formas de trabalho até então inimagináveis, nota-se alguns problemas, como a falta de qualificação e a precarização das atividades laborais.
Ricardo Colturato Festi[17] argumenta que a revolução digital impactará drasticamente as relações trabalhistas nos próximos anos, atingindo todos os ramos da economia.
No mesmo contexto de precarização do trabalho, há o chamado processo de terceirização – outsourcing. Essa forma de prestação de serviços tem como metas a redução de custos para as empresas, a diminuição dos encargos com a folha de salários e a preferência pela contratação de serviços terceirizados, que são executados por uma remuneração mais baixa. Isso também leva à falta de estabilidade para os trabalhadores e à temporalidade dos contratos de trabalho.
Nessa mesma linha de análise, Carlos Henrique Solimani e Adalberto Simão Filho trazem uma importante reflexão acerca das alterações proporcionadas pelas novas relações de trabalho:
A revolução tecnológica evidentemente provoca alterações nas relações de trabalho, modificando o cenário relativo à disponibilização de vagas de trabalho clássicas, elimina atividades, mas cria outras que até então inexistiam. O sistema capitalista aliado à globalização se beneficia do aporte tecnológico da microeletrônica e da informática, dos sistemas de comunicação e internet, considerados como mecanismos impulsionadores das tecnologias disruptivas responsáveis pela destruição do emprego na forma institucionalizada[18].
Para Paul Singer[19], o desemprego estrutural, causado pela globalização, é semelhante em seus efeitos ao desemprego tecnológico: ele não aumenta necessariamente o número total de pessoas sem trabalho, mas contribui para deteriorar o mercado de trabalho para quem precisa vender sua capacidade de produzir.
É válido destacar que, historicamente, uma solução encontrada por pessoas vítimas do desemprego é a emigração. Todavia, o deslocamento geográfico não é suficiente para resolver esse impasse, dado que pode haver dificuldades na inserção desses indivíduos no mercado de trabalho do novo local em que se estabelecem.
Assim, para garantir a empregabilidade em consonância com o processo de automação, o desafio principal está na educação, por meio do treinamento profissional, uma vez que o avanço tecnológico exige maior qualificação. Nesse sentido, assevera o autor:
Para resolver o problema do desemprego é necessário oferecer à massa dos socialmente excluídos uma oportunidade real de se reinserir na economia por sua própria iniciativa. Esta oportunidade pode ser criada a partir de um novo setor econômico, formado por pequenas empresas e trabalhadores por conta própria, composto por ex-desempregados, que tenha um mercado protegido da competição externa para seus produtos. Tal condição é indispensável porque os ex-desempregados, como se viu, necessitam de um período de aprendizagem para ganhar eficiência e angariar fregueses. Para garantir-lhes o período de aprendizagem, os próprios participantes do novo setor devem criar um mercado protegido para suas empresas[20].
Destaca-se, ainda, que as causas da exclusão social resultam de fatores individuais e estruturais. Os fatores individuais são intrínsecos ao indivíduo, como a falta de qualificação exigida pelo mercado ou a escolha de não migrar para locais onde suas habilidades poderiam ser aproveitadas. Por sua vez, os fatores estruturais estão relacionados com a estrutura da economia de mercado, que se baseia em mecanismos competitivos que, por vezes, não proporcionam acesso adequado aos que necessitam de inclusão[21].
Desse modo, para amenizar o desemprego de milhões de trabalhadores, é urgente que o Estado adote medidas voltadas ao investimento em educação de qualidade, alinhada com as novas tecnologias. Nesse sentido, é imprescindível a criação de políticas ativas para geração de emprego e aperfeiçoamento da mão de obra.
4 ECONOMIA DISRUPTIVA E A CRIAÇÃO DAS STARTUPS
Zipperer[22] explica que parte da doutrina entende que as tecnologias disruptivas estão relacionadas com os ciclos de negócios. O capitalismo opera em ciclos, e a cada nova revolução (industrial ou tecnológica), uma anterior é destruída, e seu mercado é tomado pela nova. Assim, com base nesse entendimento, não se pode falar propriamente em tecnologia disruptiva, e sim em uma alteração capitalista que busca se desvincular de regulações mais rígidas. Para esse autor, essas mudanças nas relações de trabalho estão associadas ao que hoje se denomina "Quarta Revolução Industrial" ou "Indústria 4.0", na qual as inovações se expandem de forma ainda mais frenética do que nas revoluções anteriores.
Nesse processo, tais tecnologias provocam mudanças profundas, com o surgimento de novos negócios, a reformulação da produção, do consumo, e do modo como trabalhamos e nos comunicamos, remodelando o contexto econômico, social, cultural e humano em que vivemos.
O autor acrescenta que essa evolução é uma continuidade das transformações anteriores, agora aperfeiçoadas, pois a inteligência artificial substitui habilidades que antes eram exclusivas dos seres humanos, como a capacidade cognitiva – por meio do machine learning ou aprendizado de máquina.
Em síntese, o termo "disrupção" refere-se ao rompimento com o modelo econômico tradicional, impulsionado pelos avanços tecnológicos. Diante disso, é perceptível que, embora as novas tecnologias revolucionem as formas de trabalho, elas trazem consigo importantes questões que afetam diretamente a vida dos trabalhadores, evidenciando a insegurança jurídica, a ausência de garantias fundamentais e o retrocesso social.
Como resultado desse avanço tecnológico e do modelo disruptivo de atuação, destaca-se o surgimento das empresas denominadas de startups. O termo, que tem sido utilizado nos Estados Unidos há décadas, tornou-se popular no Brasil com o avanço da internet. As startups são empresas que criam novos modelos de negócios e possuem características específicas. Elas buscam inovação, sendo necessário que suas propostas sejam novidades no mercado para garantir uma competição vantajosa. Além disso, precisam ser escaláveis e repetíveis para permitir um crescimento acelerado, em quantidade ilimitada, sem comprometer, na mesma extensão, os recursos humanos e financeiros.
Essas empresas são flexíveis devido à necessidade de mudanças constantes para atender às demandas do mercado. Elas buscam identificar as necessidades da sociedade por meio da tecnologia e da inovação, em um cenário de incertezas, com o objetivo de obter grandes lucros.
Conforme Edgar Vidigal de Andrade Reis, as startups são fundadas com o objetivo de alcançar um rápido crescimento para, em poucos anos, se tornarem atraentes o suficiente para serem vendidas por valores muito superiores aos investimentos iniciais. Consistem, portanto, em “negócios criados para um ciclo de vida curto enquanto startup, sendo que, após esse período e em caso de sucesso, atingirão o patamar de empresas consolidadas, deixando de ser consideradas startups”[23].
Assim, com a revolução digital cada vez mais presente, as indústrias utilizam essas tecnologias para elevarem a qualidade dos serviços oferecidos e se manterem à frente dos concorrentes. Nesse cenário, essas formas de produção possibilitaram a criação de plataformas digitais que se popularizaram na sociedade, como Uber, iFood, Airbnb, dentre outras, gerando novas formas de prestação de serviços.
Indiscutivelmente, nesse cenário disruptivo, o trabalhador assume um papel mais ativo e dinâmico, com o surgimento de novas profissões, formas de contratação e subordinação, bem como a prestação de serviços por meio das plataformas digitais, resultando em um progresso voltado para a inovação.
Para Zipperer, a disrupção altera a organização das empresas e anula os modelos antigos, uma vez que:
As plataformas permitem a reorganização de atividades, a fragmentação das tarefas, facilitam a prestação remota de serviços, o deslocamento de custos, o aumento da concorrência. Reduzem barreiras entre o trabalho e os ambientes domésticos. Diluem fronteiras geográficas entre trabalhadores de diferentes países, além de outras consequências[24].
Esse novo modelo oferece aos chamados “colaboradores” a oportunidade de ingressarem nessas empresas. São pessoas em busca de uma fonte de renda, atraídas pela flexibilidade que essas empresas oferecem em troca da prestação de serviços. Todavia, existe uma falsa percepção de que esse novo modelo de trabalho proporciona uma flexibilização benéfica aos trabalhadores.
Estamos presenciando o advento e a expansão monumental do novo proletariado da era digital, cujos trabalhos, mais ou menos intermitentes, mais ou menos constantes, ganharam novo impulso com as tecnologias da informação e comunicação, que conectam, pelos celulares, as mais distintas modalidades de trabalho. Portanto, em vez do fim do trabalho na era digital, estamos vivenciando o crescimento exponencial do novo proletariado de serviços, uma variante global do que se pode denominar escravidão digital[25].
Este novo cenário tecnológico do capital permite, ao mesmo tempo, a expansão da ideia de que tudo está sob o impulso de uma tecnologia neutra e autônoma, quando, na verdade, é a engenharia informacional do capital que efetivamente comanda o algoritmo e, portanto, dita os ritmos, o tempo, a produtividade e a eficiência no universo microcósmico do trabalho individual.
Verifica-se que o número de trabalhadores vinculados a essas empresas está crescendo, especialmente em face do aumento do desemprego.
Trabalhadores e trabalhadoras com seus instrumentos de trabalho (autos) arcam com suas despesas de seguro, manutenção, alimentação, etc. Enquanto isso, o ‘aplicativo’, em verdade, uma corporação global, praticante do trabalho ocasional e intermitente, se apropria do sobretrabalho gerado pelos serviços dos motoristas, sem preocupação em relação aos deveres trabalhistas[26].
Os trabalhadores acreditam que têm liberdade para executar as atividades conforme sua disponibilidade, devido à interação com as empresas. Na realidade, nessas plataformas há um controle das atividades laborativas, uma vez que é possível monitorar em tempo real toda a produtividade desses colaboradores.
Sob essa perspectiva, Antunes descreve com precisão a insegurança jurídica que essas transformações nas relações trabalhistas impõem aos trabalhadores:
Vivem-se formas transitórias de produção, cujos desdobramentos são também agudos, no que diz respeito aos direitos do trabalho. Estes são desregulamentados, são flexibilizados, de modo a dotar o capital do instrumental necessário para adequar-se à sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos trabalhadores são substituídos e eliminados do mundo da produção. Diminui-se ou mescla-se, dependendo da intensidade, o despotismo taylorista, pela participação dentro da ordem e do universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório próprio da sociabilidade moldada contemporaneamente pelo sistema produtor de mercadorias[27].
Em contradição com o discurso de liberdade para trabalhar, as plataformas e aplicativos empregam medidas explícitas para controlarem os trabalhadores. De forma geral, essas medidas incluem a determinação de quem pode trabalhar, a delimitação das tarefas a serem realizadas, a definição de qual trabalhador executará cada serviço, a regulamentação de como as atividades devem ser realizadas, a fixação unilateral dos valores a serem pagos, a imposição de como os trabalhadores devem se comunicar com suas gerências, a pressão para que os trabalhadores sejam assíduos e não recusem serviços demandados, e a pressão para que permaneçam disponíveis por mais tempo. Além disso, utilizam bloqueios como ameaça, o que implica deixar os trabalhadores impossibilitados de exercerem suas atividades por períodos determinados. As relações são impessoais, e a possibilidade de dispensa ocorre a qualquer momento e sem necessidade de justificativa[28].
Esses mecanismos de controle contribuem para cercear a autonomia do trabalhador, intensificando a subordinação, que é um elemento nuclear da relação de emprego, conforme o art. 3º da CLT, em troca da “oportunidade” de prestar serviços por meio das plataformas digitais[29].
Dessa forma, o Direito do Trabalho enfrenta um grande desafio diante dos avanços tecnológicos nas relações de trabalho, a fim de garantir ao trabalhador a proteção jurídica e a manutenção da dignidade da pessoa humana.
5 A PANDEMIA DE COVID-19 E AS MEDIDAS EMERGENCIAIS DE PROTEÇÃO AO EMPREGO
Com os avanços das novas tecnologias nas relações de trabalho, conforme mencionado anteriormente, é imprescindível registrar os impactos que a pandemia causada pelo coronavírus trouxe para o mundo do trabalho e as medidas legislativas adotadas na época para mitigar o desemprego em face das restrições às atividades econômicas, bem como o posicionamento do STF em relação às medidas emergenciais.
Embora a maioria das atividades laborativas tenha retornado ao modo presencial, sem as restrições dos momentos mais críticos da transmissão do vírus, é importante reconhecer o impacto desse período que causou consideráveis danos à atividade econômica, às relações de trabalho e à coletividade em geral.
O caos provocado pela doença resultou em profundas transformações no âmbito trabalhista. Dada a alta letalidade do vírus e a probabilidade de sua expansão por meio do contágio, foram necessárias medidas restritivas, como o lockdown, o isolamento social e o fechamento temporário de estabelecimentos não essenciais, o que causou graves reflexos nas relações de emprego.
O IBGE, por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgou os resultados de um estudo que registrou as consequências da pandemia no mercado de trabalho. Estima-se que, no 3º trimestre de 2021, a população desocupada era de aproximadamente 13,5 milhões de pessoas, o que correspondia a cerca de 12,6% da população total do país[30].
Esse resultado foi considerado um recorde histórico de desempregados no Brasil. Na tentativa de preservar os empregos formais e minimizar os impactos causados pela pandemia de Covid-19, o Governo Federal precisou adotar medidas emergenciais para assegurar benefícios tanto para empregadores quanto para empregados, com o objetivo de evitar dispensas em massa.
A solução encontrada pelo Poder Público para enfrentar os desafios trabalhistas impostos pela pandemia foi a edição de medidas provisórias, que adaptaram disposições já existentes na legislação trabalhista e estabeleceram regras singulares e flexíveis no âmbito das relações de trabalho, como explicado por César Pritsch e Rodrigo Trindade Souza[31].
A MP n.º 927/2020 teve como orientação axiológica a preservação dos empregos e da renda. Essa medida visou, de forma imediata, garantir as condições materiais de sobrevivência dos trabalhadores e de suas famílias, com base nas prestações empregatícias[32]. De forma geral, a referida MP, em seu caráter emergencial, flexibilizou as relações trabalhistas com o objetivo de evitar a extinção de postos de trabalho e, consequentemente, conter os impactos políticos, sociais e econômicos causados pela pandemia.
Um dos pontos centrais e mais discutidos por especialistas em relação aos dispositivos trazidos pela MP n.º 927 estava na redação do art. 2º, que previa que os acordos individuais seriam superiores às leis e acordos coletivos, desde que observados os limites constitucionais, enquanto durasse o estado de calamidade pública.
Ainda nas trilhas da interpretação gramatical, temos um dispositivo que parece franquear liberdade plena para o ajuste individual entre empregado e empregador – urbanos e rurais, domésticos ou terceirizados, veteranos ou novatos -, com ascendência sobre a legislação trabalhista em geral – CLT, leis complementares, leis ordinárias, decretos e portarias -, desde que respeitem ‘os limites estabelecidos na Constituição’. Bastante desfigurada e repleta de emendas, a Constituição de 1988 ainda se faz notar e a pronúncia de seu nome talvez imponha algum respeito[33].
Efetivamente, o legislador pretendia que patrões e empregados tivessem a liberdade de renegociar as bases do contrato de trabalho conforme suas necessidades, desde que dentro do período de março a dezembro de 2020 e com o objetivo de preservar o emprego.
A MP n.º 927 apresentou o desafio de conciliar o disposto no art. 2º com os dispositivos trabalhistas já existentes, adaptados e utilizados para mitigar as consequências trazidas pela pandemia. A leitura isolada do art. 2º não assegura que houvesse liberdade plena na escolha das opções para enfrentar a crise de segurança jurídica; ela limitava a eficácia do ajuste para a preservação dos demais valores constitucionais e, o que é ainda mais preocupante, estava longe de ser o meio mais eficaz para contornar os obstáculos da pandemia com o mínimo desrespeito aos direitos fundamentais[34].
Dentre as oito medidas editadas na época para minimizar os impactos da pandemia na atividade econômica e, assim, manter os empregos, o art. 3º da MP n.º 927 previu: o teletrabalho; a antecipação das férias individuais; a concessão de férias coletivas; o aproveitamento e a antecipação de feriados; o banco de horas; a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho; o direcionamento do trabalhador para qualificação; e o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)[35].
É válido ressaltar que, assim como o art. 2º, a MP n.º 927 recebeu inúmeras críticas de especialistas em Direito do Trabalho brasileiro, pois permitiu a flexibilização exacerbada de direitos fundamentais dos trabalhadores. Um dos pontos mais polêmicos foi a redação do art. 18 do referido texto normativo, que previa a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem qualquer compensação aos empregados.
Esse dispositivo, alvo de intensas críticas, foi revogado pelo art. 2º da MP n.º 928, de 23 de março de 2020. Tal mecanismo poderia deixar milhões de cidadãos à própria sorte, afrontando o núcleo essencial da Constituição, que garante o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Assim, as críticas veementes fizeram com que fosse revogado[36].
A MP n.º 927/2020 favoreceu a proteção e a preservação dos empreendimentos em detrimento dos direitos mínimos garantidos aos trabalhadores pela Constituição.
Apesar das expectativas geradas pela necessidade de adoção de medidas para enfrentar esse cenário, a MP n.º 927 perdeu sua validade em 19 de julho de 2020, sem ser convertida em lei.
Posteriormente, foi editada a MP n.º 936/2020, que também visava mitigar os efeitos da crise mundial nas relações trabalhistas, convertida na Lei n.º 14.020/2020. Silva[37] argumenta que as MPs n.º 927 e n.º 936 poderiam ser vistas como uma única medida; no entanto, a magnitude dos efeitos pandêmicos exigiu uma ação governamental célere e de extrema urgência, que resultou na criação de medidas separadas, mas complementares.
Em seu art. 2º, a nova MP estabeleceu como objetivos: preservar o emprego e a renda; garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública[38].
A nova medida permitiu a suspensão temporária dos contratos e a redução proporcional de jornada e salários, com a suplementação parcial da renda perdida pelo trabalhador mediante um benefício emergencial pago pela União, além de garantir o emprego por um período equivalente ao dobro do prazo de redução ou suspensão[39].
Em síntese, o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda seria pago nas hipóteses de redução proporcional de jornada de trabalho e salário, bem como nos casos de suspensão temporária do contrato de trabalho, conforme disposto no art. 5º da MP n.º 936.
Em suma, as MP n.º 927 e n.º 936 tiveram como objetivo enfrentar a crise sanitária global de maneira menos agressiva para as partes envolvidas na relação empregatícia por meio de dispositivos que flexibilizam as regras trabalhistas, a fim de preservar os empregos.
A crítica feita por Pritsch e Souza[40], dentre outros autores, se deve ao fato de que há uma supremacia hierárquica das normas, sendo a Constituição Federal de 1988 a lei máxima do Brasil. Na visão desses autores, as medidas adotadas confrontaram dispositivos da lei suprema, deixando os trabalhadores vulneráveis a patamares mínimos de vivência social.
É importante registrar que, nesse contexto de medidas legislativas, foi editada a Lei n.º 14.297/2022, que tinha como finalidade vigorar enquanto durasse a emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Covid-19. A referida norma estabelecia que as empresas de aplicativos deveriam contratar um seguro contra acidentes, sem franquia, em benefício dos entregadores cadastrados, durante o período de retirada e entrega de produtos e serviços. Esse seguro deveria cobrir acidentes pessoais, incapacidade permanente ou temporária, e garantir assistência financeira no prazo de 15 (quinze) dias, mediante comprovante do laudo médico.
Como destacado, foi feita uma retrospectiva das medidas legislativas adotadas para manterem os postos de trabalho durante o período mais crítico da pandemia. No entanto, tais iniciativas não impediram o aumento vertiginoso da precarização do trabalho e o empobrecimento da classe trabalhadora, fenômenos acentuados pelo avanço da economia disruptiva durante esse período.
É interessante observar que o STF[41], durante a crise sanitária, adotou uma postura estruturante e consequencialista em algumas decisões, a fim de ajustar a interpretação da norma constitucional às mudanças experimentadas na realidade econômica e social. Como exemplo, pode-se citar o pedido de Medida Cautelar na ADI 6363, em que o Plenário decidiu pela constitucionalidade da MP n.º 936/2020. Essa medida autorizava, para enfrentamento da crise, a redução da jornada de trabalho e dos salários ou a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordo individual, independentemente de negociação coletiva.
Nesse caso, a Suprema Corte entendeu pela inaplicabilidade da regra prevista no art. 7º, incisos VI e XIII, da Constituição Federal de 1988, que impõe a negociação coletiva com a participação da entidade sindical para a redução de salários e da jornada de trabalho[42].
6 OS DESAFIOS DO DIREITO DO TRABALHO ANTE A ECONOMIA DISRUPTIVA
A área do Direito do Trabalho é marcada por constantes mudanças e reivindicações. Diante da economia disruptiva, o Direito do Trabalho enfrenta novas situações não previstas no ordenamento jurídico, gerando uma variedade de entendimentos doutrinários, especialmente com relação à evolução tecnológica e às novas formas de trabalho.
As empresas e suas estratégias desempenham um papel central nas mudanças tecnológicas, que impactam as relações trabalhistas, como foi destacado ao longo deste estudo. Atualmente, a ação dessas empresas é caracterizada pela economia disruptiva e pela intensa competitividade, resultando em novas formas de trabalho e, consequentemente, na necessidade de redefinir os limites dessas relações por meio da análise específica de cada relação laboral e da resposta do ordenamento jurídico vigente.
No estudo intitulado “On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, as novas formas de trabalho e o impacto na vida dos trabalhadores”, Antônio Rodrigo de Freitas Júnior[43] argumenta contra a regulação dos trabalhos realizados para plataformas digitais. Segundo o autor, mesmo aqueles que são favoráveis à regulação e que defendem a possibilidade e a pertinência da classificação dos trabalhadores de plataformas como empregados, reconhecem que tal medida é insuficiente para resolver todos os problemas que essa nova configuração do mundo do trabalho apresenta[44].
Incertezas relacionadas com a natureza das relações de trabalho – se de emprego, autônomas ou de outra espécie – presentes no trabalho sob demanda em plataformas não consistem no único desafio à regulação dessa atividade. A “economia do bico” – expressão utilizada para descrever trabalhos secundários que os trabalhadores realizam em troca de uma renda extra – abrange uma vasta diversidade de atividades e profissões, o que complica a regulação dessas novas formas de trabalho.
Trabalhadores da economia do bico são motoristas, entregadores, assistentes pessoais, operadores de pequenos consertos, faxineiros, cozinheiros, cuidadores de cachorros, de crianças, mas crescentemente são também profissionais mais especializados, incluindo enfermeiros, médicos, professores, programadores, jornalistas, especialistas de telemarketing e até advogados também […]. A economia de plataforma canaliza toda e qualquer coisa disponível no mercado e a mercantiliza[45].
Quanto à definição do vínculo empregatício, o referido autor argumenta que, ao considerar os critérios da OIT para a configuração de emprego e os dispositivos da CLT, seria difícil negar a existência de vínculo empregatício:
A assimetria característica da relação entre poder diretivo e trabalhador subordinado está presente. A onerosidade é indiscutível. A pessoalidade do prestador configura-se pela exigência de cadastro individual, ordinariamente acompanhado de outros documentos de identificação e habitação, sem o permissivo de sub-rogação na prestação de trabalho[46].
Entretanto, “no tocante à habitualidade ou à não eventualidade da prestação, tudo parece indicar que existe uma clara diversidade de situações”[47]. Há aqueles que optam por trabalhos típicos em tempo integral e se submetem à “economia do bico” por falta de alternativas. No entanto, essa não é a realidade de toda a população que trabalha em plataformas.
Não são poucos os que procuram as plataformas tencionando a oferta de trabalho eventual, complementação de renda, formação de poupança, para destinação específica. Nesses casos, fica clara a ausência de expectativa por um vínculo subordinado habitual, assim como é inespecífica a regularidade do trabalho que pretendem prestar. Nesse particular, existe sim uma variedade de arranjos e de formas de consentimento. Essa diversidade de arranjos parece não chancelar um argumento padronizador (‘one-fits-all’) em nenhuma das direções[48].
É preciso reconhecer que existem trabalhadores que se submetem a jornadas exaustivas não por escolha, mas em troca de uma remuneração que cobre as despesas do lar, o que evidencia um grave problema social. Além disso, há aqueles que ingressam no trabalho sob demanda por opção, denominados “trabalhadores intermitentes”.
O autor afirma que o ordenamento jurídico brasileiro não possui uma estrutura legislativa e fiscalizadora eficaz para regular essas novas formas de trabalho, que avançam de maneira acelerada. Freitas Júnior[49] observa que “quantificar o trabalho prestado nunca foi o problema, mas qualificá-lo sim”. A grande questão reside no fato de que as normativas trabalhistas existentes abrangem exclusivamente os trabalhos prestados sob vínculo de emprego. Contudo, a estrutura jurídica nacional não foi preparada para essas novas formas de trabalho.
Portanto, de acordo com o referido doutrinador, não basta simplesmente caracterizar todos os trabalhadores como empregados; é essencial reconhecer a necessidade de normativas específicas para garantir os direitos desses novos trabalhadores.
Em contrapartida a esse entendimento, é necessário analisar outros estudos que apontam para a necessidade de regulação dos trabalhos realizados nas plataformas digitais. Maria Aparecida Alves e Maria Augusta Tavares definem o perfil dessa nova classe de trabalhadores:
São trabalhadores que ora estão desempregados, ora são absorvidos pelas formas de trabalho precário, vivendo uma situação que inicialmente era provisória e se transformou em permanente. Há casos que combinam o trabalho regular com o ocasional, praticando os chamados bicos. Nesses casos, obtém-se um baixo rendimento com essas atividades, como os vendedores de diversos produtos (de limpeza, cosméticos, roupas), digitadores, quem faz salgados, faxina e artesanato nas horas de folga[50].
A informalidade é extremamente comum entre trabalhadores que se submetem a serviços temporários e eventuais, recebendo uma remuneração proporcional a essa prestação de serviço.
Para Antunes, vive-se uma nova era de precarização estrutural do trabalho, cujos exemplos incluem a erosão do trabalho contratado e regulamentado, dominante no século XX, e sua substituição por diversas formas de trabalho atípico, precarizado e voluntário. Assiste-se um desmonte da legislação social protetora do trabalho e a destruição dos direitos sociais, conquistados arduamente pelos trabalhadores desde o início da Revolução Industrial[51].
As novas formas de organização do trabalho humano, resultantes da terceirização das atividades produtivas e das diretrizes globalizadas da economia, frequentemente associadas à economia disruptiva, podem sugerir que é necessário abandonar o conceito de subordinação para assegurar a proteção dos trabalhadores envolvidos nessas novas formas de organização do trabalho[52].
No entanto, conforme registra o doutrinador uruguaio Hugo Fernández Brignoni, esse posicionamento, embora bem-intencionado, não especifica como estender a proteção dos direitos trabalhistas a todas as formas de trabalho humano, gerando um elevado risco de desproteção em comparação com o trabalhador subordinado. Além disso, observa que o debate doutrinário e o surgimento de novos conceitos nas legislações trabalhistas, como "parassubordinados" e "trabalhadores economicamente dependentes", resultaram em uma série de propostas que se perdem em um "mar de indefinição" na política do direito[53].
No âmbito do Poder Judiciário, o STF decidirá se existe vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e as empresas responsáveis pelas plataformas digitais. Em um primeiro momento, o Plenário Virtual do STF, em deliberação unânime, reconheceu que a matéria possui repercussão geral, ou seja, é relevante do ponto de vista social, jurídico e econômico, e transcende os interesses das partes envolvidas no processo.
Sobre os avanços normativos, antes de adentrar no sistema brasileiro para a situação dos trabalhadores em plataformas digitais, é importante registrar que, no âmbito da União Europeia, foi apresentada uma proposta de diretiva pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, relativa à Melhoria das Condições Laborais no Trabalho em Plataformas Digitais. Segundo Francisco Lozano Lares[54], essa proposta de diretiva busca uma ordenação harmonizada em nível europeu do estado laboral das pessoas que realizam trabalho em plataformas digitais. Importa mencionar que a Espanha foi pioneira nessa matéria, aprovando a Lei n.º 12/2021[55].
Com relação ao ordenamento jurídico brasileiro, o Congresso Nacional está atualmente discutindo o Projeto de Lei Complementar n.º 12/2024[56], de iniciativa do Poder Executivo, que propõe as seguintes linhas de regulação para os motoristas de aplicativos: a) reconhecimento dos motoristas de aplicativos como uma nova categoria, ou seja, trabalhadores autônomos de plataforma; b) inclusão na categoria de contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência Social; c) estabelecimento de uma remuneração mínima horária, garantindo uma base financeira para os motoristas; d) limite máximo de conexão do trabalhador em uma mesma plataforma, que não poderá ultrapassar doze horas diárias; e, para receber o piso nacional, o motorista deverá realizar uma jornada de 8 horas diárias efetivamente trabalhadas; e) previsão de negociação coletiva, mas as condições estipuladas não podem ser alteradas por pactuação individual, o que pode limitar a capacidade de os motoristas negociarem melhores condições de trabalho de acordo com suas necessidades específicas.
Não há dúvida de que o projeto visa conferir maior segurança jurídica nas relações entre motoristas de aplicativos e plataformas. Todavia, o referido projeto ainda deverá passar por intensas discussões no Congresso Nacional. Ressalta-se que, apesar do reconhecimento de alguns direitos trabalhistas, como previsto no projeto de lei, os motoristas são classificados como autônomos por plataforma, o que os exclui de diversas proteções e benefícios garantidos aos trabalhadores com vínculo empregatício.
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo analisou a precarização do trabalho humano no contexto da economia disruptiva, com foco nos avanços das tecnologias digitais e seus impactos nas relações de trabalho. Procedeu-se a uma análise panorâmica das três fases da Revolução Industrial, destacando as transformações políticas e sociais significativas e o marco inicial do Direito do Trabalho. A inserção da mecanização nos processos de produção, que levou à substituição do trabalho humano, foi destacada, bem como a luta contínua do proletariado por melhores condições de trabalho.
Na sequência, examinou-se o fenômeno do desemprego estrutural e o processo de automação, aprofundando a compreensão da precarização das relações trabalhistas em função das novas tecnologias. Estas têm rompido com os modelos tradicionais de prestação de serviços, o que torna crucial a reafirmação da proteção do trabalhador por meio da legislação trabalhista.
Abordou-se também como a economia disruptiva altera os modelos tradicionais de trabalho, considerando as inovações implementadas nas relações trabalhistas e o impacto significativo na vida dos trabalhadores. Destacou-se, ainda, o papel das startups, que buscam lucro rapidamente por meio da utilização de tecnologias para promover inovação no mercado. Nesse cenário de intensa disrupção, o trabalhador assume um papel mais ativo e dinâmico, com o surgimento de novas profissões, formas de contratação e subordinação, além da prestação de serviços por meio de plataformas digitais, resultando em um progresso voltado à inovação.
Além disso, o trabalho registrou os impactos causados pela pandemia de Covid-19 e o recorde histórico de desemprego no Brasil, que levaram o Poder Executivo Federal e o Congresso Nacional a intervirem nas relações contratuais trabalhistas. Foram editadas medidas provisórias emergenciais que introduziram flexibilizações radicais na legislação trabalhista, visando evitar a extinção de mais postos de trabalho e mitigar os impactos políticos, sociais e econômicos provocados pelo coronavírus.
As medidas emergenciais adotadas foram de grande importância para amenizar e evitar crises mais graves. É relevante destacar que, com o objetivo de conter os danos provocados pela pandemia, houve uma significativa flexibilização das relações trabalhistas, refletida nos textos normativos aprovados pelo Congresso Nacional e em uma postura mais flexível por parte do STF.
O estudo também evidenciou os desafios que o Direito do Trabalho enfrenta com o avanço das novas tecnologias, que configuram o chamado "trabalho digital". Observou-se um novo tipo de controle sobre a força de trabalho, sendo notável que o trabalhador, ao operar por meio das plataformas digitais, é apresentado como o único responsável pela atividade que exerce. Isso cria uma falsa sensação de autonomia e liberdade, enquanto, na realidade, os trabalhadores estão submetidos a uma relação precária de trabalho, sem a proteção mínima necessária.
Nesse contexto disruptivo das relações de trabalho, há um debate sobre se as normativas trabalhistas existentes abrangem exclusivamente os trabalhos realizados sob vínculo de emprego tradicional. A estrutura jurídica nacional, de fato, não foi preparada para essas novas formas de trabalho, como o trabalho em plataformas digitais. Em contraste, estudos argumentam que, embora essa nova forma de prestação de serviços apresente padrões diferentes do trabalho subordinado clássico, existem elementos consistentes da relação de emprego, configurando o trabalhador de aplicativo como um empregado com direitos relativos à relação individual de trabalho.
Ademais, destacou-se o Projeto de Lei Complementar n.º 12/2024 como uma iniciativa para proporcionar maior segurança jurídica aos motoristas de aplicativos. Fez-se referência à proposta de diretiva pela União Europeia sobre essa questão.
Diante do exposto, entende-se que o Direito do Trabalho enfrenta um grande desafio, à medida que o conceito de trabalho subordinado, conforme definido no art. 3º da CLT, pode encontrar dificuldades de enquadramento frente ao novo perfil criado pelas plataformas digitais. Desse modo, fica cada vez mais evidente a necessidade de estabelecer limites às pretensões desreguladoras desses novos modelos de negócio, que, sob o pretexto do caráter disruptivo da revolução digital e disfarçados de economia colaborativa, buscam se qualificar como empreendedorismo. Na realidade, como bem enfatizado por Lares[57], isso configura um verdadeiro trabalho subordinado, caracterizando-se como uma espécie de dumping social tecnológico que ameaça retroceder as relações laborais às condições de exploração do século XIX.
8 REFERÊNCIAS
Alvarenga, Rubia Zanotelli, Trabalho decente, direito humano e fundamental, São Paulo, LTR, 2016.
Alves, Maria Aparecida, Tavares, Maria Augusta, A dupla face da informalidade do trabalho, São Paulo, Cortez, 2004.
Antunes, Ricardo, Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho, São Paulo, Editora Universidade Estadual de Campinas, 2006.
Antunes, Ricardo, Os modos de ser da informalidade: rumo a uma nova era da precarização estrutural do trabalho?, Configurações, vol. 7, 2010, pp. 1-12.
Antunes, Ricardo, Uberização, trabalho digital e indústria 4.0, São Paulo, Boitempo, 2020.
Brasil, Constituição (1988), Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Distrito Federal, Senado, 1988.
Brasil, Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Aprova a consolidação das leis do trabalho, Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 9 ago. 1943.
Brasil, Medida Provisória n.º 927, de 1º de abril de 2020, Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 abr. 2021.
Brasil, Medida Provisória n.º 936, de 22 de março de 2020, Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1 abr. 2020.
Brasil, Projeto de Lei Complementar n.º 12, de 05 de março de 2024, Dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria das condições de trabalho, Brasília, DF, 05 mar. 2024, Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2391423&filename=PLP%2012/2024BRASIL>, Acesso em 23 de julho de 2024.
Brasil, Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar na ADIn 6363, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 17 abr. 2020, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345059901&ext=.pdf>, Acesso em 20 de julho de 2023.
Brignoni, Hugo Fernández, Las Empresas de Aplicaciones Tecnológicas y el Fenómeno “UBER” – La llamada “Economía Disruptiva”, Derecho Laboral, Montivideo, vol. 261, enero/mar. 2016, pp. 33-49.
DaCruz, Efrén Borrajo, Introducción Al Derecho Del Trabajo, 17ª ed., Madrid, Tecnos, 1989.
Dallegrave Neto, José Affonso, Inovações na legislação trabalhista: reforma trabalhista ponto a ponto, 2ª ed., São Paulo, LTr, 2002.
Delgado, Mauricio Godinho, Curso de Direito do Trabalho, 18ª ed., São Paulo, LTR, 2019.
Festi, Ricardo Colturato, O trabalho na era digital e os desafios da emancipação, Revista de Políticas Públicas, vol. 24, set. 2020, pp. 111-128.
Filgueiras, Vitor, Antunes, Ricardo, Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação no Capitalismo Contemporâneo, Contracampo, vol. 39, n. 1, abr./jul. 2020, pp. 27-43.
Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge), Desemprego, 2021, Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php>, Acesso em 18 de fevereiro de 2024.
Lares, Francisco Lozano, La regulación de las plataformas digitales de trabajo em España e Portugal, in Lares, Francisco Lozano, Chacón, María Fátima Poyatos, Trabajo Decente en La Nueva Sociedad Digital Trabalho Digno na Nova Sociedade Digital, Pamplona, Aranzadi, 2023, pp. 21-51.
Moure, Olga Martinez, Sistemas de relaciones laborales, 2ª ed., Madrid, CEF, 2017.
Pritsch, Cesar Zucatti, Souza, Rodrigo Trindade, Direito emergencial do trabalho: análise completa, artigo por artigo, dos mais importantes normativos trabalhistas da pandemia, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020.
Reis, Edgar Vidigal de Andrade, Startups: análise de estruturas societárias e de investimento no Brasil, São Paulo, Almedina, 2018.
Silva, Homero Batista Mateus, Legislação Trabalhista em tempos de pandemia: comentários às Medidas Provisórias 927 e 936, São Paulo, Thomson Reuters Revista Brasil, 2020.
Singer, Paul, Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas, São Paulo, Contexto, 1999.
Solimani, Carlos Henrique, Simão Filho, Adalberto, As tecnologias disruptivas: os impactos no direito coletivo e individual do trabalho in Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania, Anais, n. 5, out. 2017, pp. 571-590.
Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019.
[1] Doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madri, Pós-doutor pela Puc de Minas Gerais, Professor Titular de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e Universidade Evangélica de Goiás, Goiânia, Brasil, g.campos59@hotmail.com. https://orcid.org/0000-0002-9577-7175
[2] Brasil, Medida Provisória n.º 936, de 22 de março de 2020, Institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1 abr. 2020.
[3] Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019.
[4] DaCruz, Efrén Borrajo, Introducción Al Derecho Del Trabajo, 17ª ed., Madrid, Tecnos, 1989, p. 17, tradução nossa.
[5] No original: “[...] esclavitud, en la que el trabajador no era proprietário de sí mismo; servidumbre, em la que el trabajador, pese a ser libre, debía el trabajo a outro em virtud de una relación de vinculación personal (fraternidad, clientela, asimilación familiar) o real (por razón de la tierra), y, en fin, libertad, en la que la prestación de servicios era, y es, el objeto de uma obligación assumida voluntariamente [...]”.
[6] Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019.
[7] Moure, Olga Martinez, Sistemas de relaciones laborales, 2ª ed., Madrid, CEF, 2017, p. 59.
[8] Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019.
[9] Moure, Olga Martinez, Sistemas de relaciones laborales, 2ª ed., Madrid, CEF, 2017, p. 65.
[10] No original: “Respecto a las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo em la fábrica se sabe que se caracterizaba por la inseguridad total para el trabajador, al carecer de cualquier tipo de derecho, incluída la substituicion por enfermedad. Consistia em largas jornadas – de sol a sol – y se realizaba bajo uma disciplina laboral férrea y in condiciones higiénicas. Por añadidura, el trabajador percebia um salário de pura subsistência..
[11] Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019.
[12] Alvarenga, Rubia Zanotelli, Trabalho decente, direito humano e fundamental, São Paulo, LTR, 2016.
[13] Delgado, Mauricio Godinho, Curso de Direito do Trabalho, 18ª ed., São Paulo, LTR, 2019.
[14] Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019.
[15] Dallegrave Neto, José Affonso, Inovações na legislação trabalhista: reforma trabalhista ponto a ponto, 2ª ed., São Paulo, LTr, 2002.
[16] Antunes, Ricardo, Uberização, trabalho digital e indústria 4.0, São Paulo, Boitempo, 2020.
[17] Festi, Ricardo Colturato, O trabalho na era digital e os desafios da emancipação, Revista de Políticas Públicas, vol. 24, set. 2020.
[18] Solimani, Carlos Henrique, Simão Filho, Adalberto, As tecnologias disruptivas: os impactos no direito coletivo e individual do trabalho in Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania, Anais, n. 5, out. 2017, p. 572.
[19] Singer, Paul, Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas, São Paulo, Contexto, 1999.
[20] Singer, Paul, Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas, São Paulo, Contexto, 1999, p. 122.
[21] Singer, Paul, Globalização e desemprego: diagnóstico e alternativas, São Paulo, Contexto, 1999.
[22] Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019.
[23] Reis, Edgar Vidigal de Andrade, Startups: análise de estruturas societárias e de investimento no Brasil, São Paulo, Almedina, 2018, p. 22.
[24] Zipperer, André Gonçalves, A intermediação de trabalho via plataformas digitais: repensando o Direito do Trabalho a partir das novas realidades do século XXI, São Paulo, LTr, 2019, p. 33.
[25] Antunes, Ricardo, Uberização, trabalho digital e indústria 4.0, São Paulo, Boitempo, 2020, p. 30.
[26] Antunes, Ricardo, Uberização, trabalho digital e indústria 4.0, São Paulo, Boitempo, 2020, p. 180.
[27] Antunes, Ricardo, Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho, São Paulo, Editora Universidade Estadual de Campinas, 2006, p. 24.
[28] Filgueiras, Vitor, Antunes, Ricardo, Plataformas Digitais, Uberização do Trabalho e Regulação no Capitalismo Contemporâneo, Contracampo, vol. 39, n. 1, abr./jul. 2020.
[29] Brasil, Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, Aprova a consolidação das leis do trabalho, Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, RJ, 9 ago. 1943.
[30] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Desemprego, 2021, Disponível em: https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php, Acesso em 18 de fevereiro de 2024.
[31] Pritsch, Cesar Zucatti, Souza, Rodrigo Trindade, Direito emergencial do trabalho: análise completa, artigo por artigo, dos mais importantes normativos trabalhistas da pandemia, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020.
[32] Pritsch, Cesar Zucatti, Souza, Rodrigo Trindade, Direito emergencial do trabalho: análise completa, artigo por artigo, dos mais importantes normativos trabalhistas da pandemia, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020.
[33] Silva, Homero Batista Mateus, Legislação Trabalhista em tempos de pandemia: comentários às Medidas Provisórias 927 e 936, São Paulo, Thomson Reuters Revista Brasil, 2020, p. 19.
[34] Silva, Homero Batista Mateus, Legislação Trabalhista em tempos de pandemia: comentários às Medidas Provisórias 927 e 936, São Paulo, Thomson Reuters Revista Brasil, 2020.
[35] Brasil, Medida Provisória n.º 927, de 1º de abril de 2020, Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19), e dá outras providências, Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 abr. 2021.
[36] Pritsch, Cesar Zucatti, Souza, Rodrigo Trindade, Direito emergencial do trabalho: análise completa, artigo por artigo, dos mais importantes normativos trabalhistas da pandemia, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020.
[37] Silva, Homero Batista Mateus, Legislação Trabalhista em tempos de pandemia: comentários às Medidas Provisórias 927 e 936, São Paulo, Thomson Reuters Revista Brasil, 2020.
[38] Silva, Homero Batista Mateus, Legislação Trabalhista em tempos de pandemia: comentários às Medidas Provisórias 927 e 936, São Paulo, Thomson Reuters Revista Brasil, 2020, p. 117.
[39] Pritsch, Cesar Zucatti, Souza, Rodrigo Trindade, Direito emergencial do trabalho: análise completa, artigo por artigo, dos mais importantes normativos trabalhistas da pandemia, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020.
[40] Pritsch, Cesar Zucatti, Souza, Rodrigo Trindade, Direito emergencial do trabalho: análise completa, artigo por artigo, dos mais importantes normativos trabalhistas da pandemia, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2020, p. 51.
[41] Brasil, Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar na ADIn 6363, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 17 abr. 2020, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345059901&ext=.pdf>, Acesso em 20 de julho de 2023.
[42] Brasil, Constituição (1988), Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Distrito Federal, Senado, 1988.
[43] Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020.
[44] Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020, p. 112.
[45] Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020, p. 116.
[46] Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020, p. 124.
[47] Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020, p. 124.
[48] Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020, p. 124.
[49] Freitas Júnior, Antônio Rodrigues, On Demand: trabalho sob demanda em plataformas digitais, São Paulo, Arraes, 2020, p. 127.
[50] Alves, Maria Aparecida, Tavares, Maria Augusta, A dupla face da informalidade do trabalho, São Paulo, Cortez, 2004, p. 431.
[51] Antunes, Ricardo, Os modos de ser da informalidade: rumo a uma nova era da precarização estrutural do trabalho?, Configurações, vol. 7, 2010, p. 5.
[52] Brignoni, Hugo Fernández, Las Empresas de Aplicaciones Tecnológicas y el Fenómeno “UBER” – La llamada “Economía Disruptiva”, Derecho Laboral, Montivideo, vol. 261, enero/mar. 2016.
[53] Brignoni, Hugo Fernández, Las Empresas de Aplicaciones Tecnológicas y el Fenómeno “UBER” – La llamada “Economía Disruptiva”, Derecho Laboral, Montivideo, vol. 261, enero/mar. 2016.
[54] Lares, Francisco Lozano, La regulación de las plataformas digitales de trabajo em España e Portugal, in Lares, Francisco Lozano, Chacón, María Fátima Poyatos, Trabajo Decente en La Nueva Sociedad Digital Trabalho Digno na Nova Sociedade Digital, Pamplona, Aranzadi, 2023.
[55] Em comentários à Lei Espanhola n.º 12/2021, de 28 de setembro, Francisco Lozano Lares afirma que a presunção de relação de emprego resultará aplicável aos “riders” (serviços de entrega, entregadores), não se estendendo aos demais trabalhadores ou coletivos profissionais aos serviços das plataformas digitais que se encontram em situação similar, seja como contratação por demanda, seja mediante a fórmula do crowdwork (terceirização online).
[56] Brasil, Projeto de Lei Complementar n.º 12, de 05 de março de 2024, Dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas e estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria das condições de trabalho, Brasília, DF, 05 mar. 2024, Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2391423&filename=PLP%2012/2024BRASIL, Acesso em 23 de julho de 2024.
[57] Lares, Francisco Lozano, La regulación de las plataformas digitales de trabajo em España e Portugal, in Lares, Francisco Lozano, Chacón, María Fátima Poyatos, Trabajo Decente en La Nueva Sociedad Digital Trabalho Digno na Nova Sociedade Digital, Pamplona, Aranzadi, 2023.