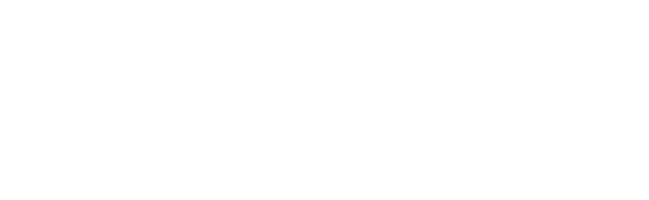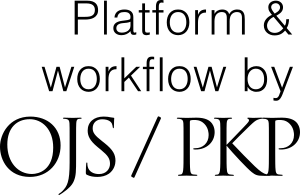O modelo de gestão empresarial da justiça brasileira e as metas do Conselho Nacional de Justiça: um contraponto aos modelos calculador e meditativo de Martin Heideger
The business management model of brazilian justice and the goals of the National Council of Justice: a counterpoint to Martin Heideger's calculating and meditative models
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.20
Recebido/Received 23/07/2024 – Aprovado/Approved 06/02/2025
Dirce Nazare de Andrade Ferreira[1] – https://orcid.org/0000-0002-5679-2823
Camila Santos Ezequiel da Costa[2] – https://orcid.org/0009-0009-6305-7497
Resumo
Pesquisa qualitativa do tipo levantamento com objetivo de analisar metas do CNJ, fazer um cotejamento bibliográfico das metas a partir da intelecção de Martin Heidegger para analisar a sociedade moderna e seu gosto pela forma de avaliação exata ou pensamento calculador, uma importante forma de classificação com base numérica que todavia tem uma forma representacional objetificada e que pode deixar escapar alguns elementos importantes. Tem como problema de pesquisa as questões: O que se pode definir como “metas do CNJ”? e “De que forma essas metas se aproximam do modelo empresarial calculador?”. Tem como hipótese o logocentrismo no CNJ. Demonstra a partir da visão heideggeriana que pelas metas mensuradoras do CNJ o pensamento logocêntrico usado de forma unilateral pode ter dificuldade em responder as demandas complexas da sociedade hodierna. Propõe a partir de Martin Heidegger, Gilles Deleuzes e Edgar Morin, a adição do pensamento reflexivo ao pensamento calculador em um compósito que poderia fazer das metas uma convergência inteligente de análise do labor judiciário.
Palavras-chaves: Metas do CNJ – logocentrismo – serenidade – complexidade – avaliação.
Abstract
Qualitative research of the survey type with the objective of analyzing goals of the CNJ, making a bibliographic comparison of the goals from the understanding of Martin Heidegger to analyze modern society and its taste for the form of exact evaluation or calculating thinking, an important form of classification based on numerical that nevertheless has an objectified representational form and that may miss some important elements. Its research problem is the questions: What can be defined as “goals of the CNJ"? and "How do these goals fit into the calculating business model?" It has as its hypothesis the logocentrism in the CNJ. It demonstrates, from Heidegger's view, that, according to the measuring goals of the CNJ, logocentric thinking, used unilaterally, can have difficulty responding to the complex demands of today's society. It proposes, based on Martin Heidegger, Gilles Deleuzes and Edgar Morin, the addition of reflective thinking to calculating thinking in a composite that could make the goals an intelligent convergence of analysis of judicial work.
Keywords : Goals CNJ – logocentrism – Serenity – complexity – review .
Sumário: 1 . Introdução; 2. O conselho nacional de justiça e sua atuação: uma aderência à gestão empresarial; 2.1. As metas do Conselho Nacional de Justiça; 3. O pensamento calculador como ponto fulcral na sociedade moderna; 3.1. O pensamento meditativo de Martin Heidegger; 4. Considerações Finais; 5. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objeto desta pesquisa, é uma instituição pública que se aproxima dos anseios sociais, uma vez que se posiciona como elemento de mediação entre Estado e sociedade, no sentido de aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e transparência administrativa e processual. Muito se tem pesquisado sobre o CNJ e as metas numéricas por ele estabelecidas, mas pouco trabalho há envolvendo pesquisa empírica que possa melhor sedimentar o tema controle e gestão por resultados exercida pelo CNJ.
Dito isto, após pesquisar as páginas eletrônicas do CNJ, presume-se que a instituição em seu mais cristalino desígnio, qual seja, prestar um serviço adequado à sociedade, acabou padecendo de uma alomorfia ao aderir a um modelo de gestão empresarial mensuradora. Daí que, pode ocorrer a transfiguração do Estado controlador em medida que se volta contra si próprio suscitando alguns questionamentos.
Diante do exposto e sem a pretensão de exaurir tema tão complexo, a problematização que orientou a pesquisa foi o que se entende como definições de “metas do CNJ” e de que forma essas metas “se aproximam do modelo empresarial calculador”. A hipótese traçada em razão das perguntas é que o CNJ descreve uma trajetória logocentrista quando traça suas metas.
Ressaltando estar diante de um tema intrínseco, cuja heterogeneidade das perguntas inspiram novas interrogações e tendo-se a cautela de não passar além e nem ficar aquém do escopo pretendido nesse trabalho, socorremo-nos da intelecção de Martin Heidegger, e principalmente de sua obra “Serenidade”. Em tal exemplar o filósofo expõe as diretrizes daquilo que denomina ação ou “intelecção meditativa”, e o faz em contraposição ao que cognomina de “pensamento calculador”, temática fulcral deste trabalho, buscada a partir dos seguintes objetivos: analisar as proposições do CNJ; cotejar as principais diretrizes do CNJ com a obra Serenidade de Martin Heidegger; verificar nas diretrizes do CNJ a aproximação com a gestão empresarial e o pensamento calculador; Contrapor o modelo denominado intelecção ou pensamento medidativo heideggeriano com às metas do CNJ.
Deveras, as bases intelectuais de Martin Heidegger trazem à tona uma perspectiva filosófica humanística que deveria iluminar a ação do Estado enquanto agente sensível que leva em conta o desenvolvimento imanente das potencialidades da vida em suas decisões. Daí que, quando se pensa no Estado julgador, aquele que se posta diante de casos intrínsecos para decidir, a obra do autor se aproxima do desdobramento de talentos e intelecções e não mera ação de expedir respostas acríticas para atender a critérios numéricos.
Dito isto, justificamos esta pesquisa como tema de relevância, mas que tem merecido pouca atenção no meio intelectivo. Ao buscar literatura para sedimentar este ensaio, fizemos um levantamento no sítio de pesquisa eletrônico “Scielo” e na base de dados dos periódicos da CAPES, e não encontramos material versando sobre o problema, tal qual pretendemos nos debruçar. Como trata-se de tema relativamente novo, pois as metas nacionais do CNJ foram definidas no ano de 2009, no evento denominado “2º. Encontro Nacional do Judiciário”, também na doutrina há pouca coisa escrita.
Daí que consideramos o tema meritório de apreciações, uma vez que os impactos do método calculador se vertem em quase todas as esferas do Estado, não somente o judiciário, fatia aqui escolhida para estudo por uma questão pedagógica de delimitar a temática.
Para caracterizar a pesquisa como adequadamente científica nos auxiliamos dos ensinamentos metodológicos de Izequias Estevam dos Santos, Barros & Lehfeld e Lakatos & Marconi. Desta forma, caracterizamos a pesquisa como um levantamento netnográfico histórico, uma vez que os dados amostrais foram extraídos do sítio eletrônico do CNJ a partir de um recorte temporal das metas do CNJ propostas para no ano de 2013.
A partir da análise dos documentos on line, foi realizado cotejamento de dados com a doutrina de Geraldo Caravantes, Martin Heidegger, Egdar Morin e Gilles Deleuzes, dentre outros autores. Daí ser possível afirmar que trata-se também de um estudo bibliográfico, documental e histórico netnográfico.
Quanto à técnica de pesquisa, foi feita a observação sistemática, uma vez, que através da análise do objeto de estudo, foi possível coletar dados para confrontá-los com a doutrina de Martin Heidegger, principal autor que deu suporte ao nosso percurso neste trabalho. Dito isto, passamos a descrever a atuação do Conselho Nacional de Justiça e suas principais perspectivas.
2 O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SUA ATUAÇÃO: UMA ADERÊNCIA À GESTÃO EMPRESARIAL
Dada a complexidade da vida moderna[3] e o grau de heterogeneidade das instituições, é comum que nelas seja adotada uma taxonomia que, grosso modo, define as unidades componentes de seu organograma em: órgãos de linha e órgãos de staff. Enquanto as unidades lineares ou linha se concentram na atividade fim da instituição, o staff recebe encargos semelhantes ao de uma consultoria técnica, que somente fornece subsídios à atividade principal da organização.
De outra compreensão não menos importante, Mooney[4] destaca que o staff atua por via indireta enquanto agente que concede suportes adminículos à atividade-fim, prestando serviços de assessoria através de sugestões, recomendações e serviços considerados da área-meio, ou administrativos. Tendo normalmente a configuração de uma estrutura colegiada ou grupo ad hoc, o staff tem um elemento de representatividade pois congrega membros que têm delegação de competência para agir em nome do órgão representando, daí sua elevada carga de poder decisório, que embora não diretamente, pode exercer relevante importância nas diretrizes ou atividade-fim da instituição.
No caso analisado, o CNJ apresenta as características de órgão do tipo colegiado de alta performance e representatividade, com características de staff. Criado pela Emenda Constitucional 45 em 2004, o órgão é formado por quinze conselheiros, cuja formação acadêmica e profissional liga-se ao campo jurídico, pois nove são magistrados, dois são membros do Ministério Público, dois são advogados e dois são cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. Na conformidade do exposto, o grupo é constituído por profissionais de alta performance na área jurídica, com mandato de dois anos o que reforça o conceito de órgão staff, com atividade transitória.
A página do CNJ demonstra a estrutura orgânica da instituição, configurada através de um organograma que lembra brevemente o tipo matricial, a partir de um desenho que liga os departamentos a seu vínculo hierárquico por linhas cheias e algumas delas pontilhadas. A legenda do gráfico explica que as linhas cheias representam as relações do tipo subordinação hierárquica e as linhas pontilhadas significam relação funcional. Registre-se que esse organograma é interno, todavia, o tipo de ligação do CNJ à Justiça Brasileira não é do tipo de relação por dependência ou subordinação, uma vez que é típico da estrutura colegiada – embora sendo um órgão consultivo – sua característica de independência e autonomia.
Em 2013 a página do CNJ era composta por nove partes[5] e desde então, já deixava vestígios a respeito da aproximação estreita com a vertente empresarial. Para ilustrar tal percepção, na aba “sobre o CNJ” a mensagem que a descortinava era “CNJ: três letras que trabalham pela eficiência”[6], o que já confirma nossos pressupostos, haja visto que o vocábulo eficiência é aporte da teoria taylorista de administração[7], tendo como sinonímia a redução de custos acompanhada da diminuição de tempo e elevação da produtividade.
Em seguida, quando a página possibilitava ao leitor o conhecimento da missão e da visão do CNJ, é novamente ao léxico terminológico da gestão administrativa que o texto se refere, ressaltando que a missão, por sua vez, é “[...] contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade em benefício da Sociedade”.
Sem dúvida, a adoção destes fundamentos tinha uma proximidade à teoria denominada Administração por Objetivos (APO) de Peter Drucker[8], que define efetividade como a soma de eficiência ou uso dos melhores fins, com a eficácia, que expressa o alcance dos objetivos. Desta forma a adição dos dois vocábulos (eficácia e eficiência) formando um amálgama denota consecução de metas ou ainda a satisfação de escopos predefinidos coadunado à acepção de rapidez e baixo custo.
Tais concepções acima descritas se circunscrevem ao conceito de planejamento da administração ou previsão de ações com alto mapeamento do ambiente para identificar potenciais ameaças e oportunidades no cumprimento dos objetivos organizacionais. Consequentemente, temos a afirmação da administração enquanto recurso à atividade-fim da instituição, dado corroborado na página do CNJ quando explica ao leitor que, a visão do órgão se circunscreve a “[...] ser um instrumento efetivo do poder judiciário”.
Tendo se autodenominado instrumento, outra sinonímia não seria coerente senão ver o CNJ enquanto recurso ou via pela qual escoam ações adjutórias ao Poder Judiciário. A negativa ou contradição dessa assertiva significaria portanto conspurcar jurisdição ou de outra forma usurpar autoridade. Tomando o vocábulo autoridade na acepção mais ampla, tratar a esfera administrativa como figura focal e não fundo, seria como subverter a normal ordem de relevância de atividades meio em finalidades, ideia que deve ser repelida com vigor.
Todavia o sítio analisado, a todo momento, parece fornecer pistas neste sentido. Uma delas é quando elucida que o fazer do CNJ tem como escopo zelar pela autonomia do poder judiciário. Em momento seguinte, todavia, destaca que o CNJ “[...] visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual (CNJ, p.2)”.
Neste caso, e sem abrir à conclusão mais ampla, ressaltamos que soa ambígua a atividade de zelar pela autonomia de um poder, e ao mesmo tempo aperfeiçoá-lo, pois zelo e controle por aperfeiçoamento são duas funções colidentes. Quando a página alude ao controle, tangencia a função administrativa de mensuração e avaliação de resultados, daí se insere como meio regulatório ou função restritiva organizacional para manter os padrões planejados, o que decerto abalroa o conceito de autonomia. Daí novamente que, nesta ambivalência, a atividade administrativa que deveria ser meio ou suporte, reveste-se de roupagem dialética, com tal gradação de importância, que certas vezes transborda e pode obscurecer a atividade-fim, transformando-a em elemento secundário, algo que, de imediato, soa estranho aos Tribunais Judiciários.
A fim de discutir o alcance do que foi dito, tomemos logo em seguida a declaração vertida na página do CNJ quando se propõe com a gestão “[...] definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário”. A atribuição de dizer o planejamento estratégico é uma das formas mais cristalinas de tomar as rédeas organizacionais e nortear suas diretrizes, isso implica que o órgão que planeja tem elevada amplitude de poder a ponto de orientar o macro horizonte do sistema como um todo, tomando deliberadamente a sistemática das decisões, pois ele passa a ser o agente de maior relevância na instituição. Isso é tão verdadeiro que, em uma empresa, diz Newman[9], “o planejamento é um meio de manter coalizões e assegurar domínio”.
Deveras, as bases ideológicas nas quais o planejamento estratégico se estriba são, grosso modo: o estabelecimento de objetivos, a análise interna e externa à instituição, a geração, a avaliação e seleção de estratégias ou operações e o controle e mensuração do que foi planejado. No caso em tela tais fatores enunciam dois pontos fulcrais: a perspectiva empresarial ínsita nas ações do CNJ, muito próximas à teoria da APO de Peter Drucker, já referenciada neste trabalho, e o hipérbato ou inversão do grau valorativo das atividades-meio em fim. Essa sinquíse é confirmada quando se analisa a função precípua do CNJ, que deveria restar serviente à comunidade. No entanto, quando o órgão traça suas atribuições, sua visão e sua missão – por exemplo – muito pouco se reporta aos cidadãos brasileiros. Por via contrária, é aos órgãos sob seu controle e a si próprio que as luzes do CNJ focam, em total anástrofe entre fim e meio, sacralizada pelas vias do rigor empresarial matemático.
Isso é tão verdadeiro que quando a página se reporta a gerar melhores serviços e maior acesso à justiça[10] ressalta que o fará por meios de publicações ou relatórios estatísticos sobre movimentação processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o País. No ano de 2013 constava no final da página que o CNJ poderia prestar melhores serviços aos cidadãos, delineando alguma preocupação com a sociedade, robustecendo a função de controle pelas vias do método disciplinar. Vejamos:
Na Prestação de Serviços ao Cidadão [cabe ao CNJ]: receber reclamações, petições eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializado).
E destacava seu caráter punitivo, ressaltando que:
Na Moralidade [cabe ao CNJ] julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, podendo determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas[11].
É oportuno aqui destacar a vertente do Estado gerencialista ou gerencialismo, modelo de gestão pública inglês que teve espaço no Brasil na década de 1990. Segundo Clarke & Newman[12] o gerencialismo transporta um ethos de negócios do setor privado para o Estado e seus serviços públicos criando uma cultura de competitividade.
Sendo assim, Clarke e Newman consideram o gerencialismo uma estrutura calculista que organiza o conhecimento sobre as metas organizacionais e os meios para alcançá-las. Usualmente está estruturado em torno de um cálculo interno de eficiência (entradas-saídas) e um cálculo externo de posicionamento competitivo em um campo de relações de mercado”. Da análise empreendida por Clarke é possível estabelecer um critério de equivalência com as perspectivas do CNJ uma vez que este órgão coordena uma vasta pauta de programas de âmbito nacional que, em sua grande maioria, tem como prioridade implícita a gestão institucionalizada do órgão.
Então em face a este modelo é possível destacar alguns argumentos do que seria um Estado modernizador defendido por vias da gestão dinâmica com flexibilidade e potência para convergir o foco nas habilidades pessoais dos tomadores de decisões. Assim, os documentos analisados na página estão em congruência com o que Caravantes[13] denomina de perfil da nova gerência para o setor público, exigindo das organizações habilidades estratégicas, habilidades para a tarefa e habilidades de autoconhecimento. Quanto à primeira, o autor destaca a capacidade do órgão para formular o planejamento estratégico, que deve ser formulado por um órgão de staff.
Já a habilidade para a tarefa é exigida dos órgãos executores sobre os quais o staff tenha controle, devendo estes priorizar e fixar objetivos, desenvolver um plano de ação e, principalmente, habituar-se a cumprir metas organizacionais gestadas pelo staff. E por fim, a habilidade de autoconhecimento pode ser condensada na adaptabilidade pessoal do órgão sob a ação do staff para ser maleável e responder adequadamente à situação.
Entendendo que no caso analisado o CNJ é o staff ou órgão cerebrino capaz de gerar um decálogo de ações gerenciais sob as quais haverão de ser conduzidas as ações do Poder Judiciário, passamos a examinar de que forma essas estratégias geradas pelo CNJ são desdobradas em metas nacionais a ser cumpridas pelo Poder Judiciário.
2.1 As Metas do Conselho Nacional de Justiça
Pela análise do organograma do CNJ em 2013 foi possível perceber que o órgão tinha um setor denominado DGE (Departamento de Gestão Estratégia), cuja atividade que mais se destacava era prestar assessoria técnica à gestão de projetos, bem como à organização e normatização do CNJ, corroborando a roupagem administrativista que conjecturamos desde o início deste trabalho quando tratamos de planejamento estratégico.
Sobre o planejamento estratégico, é oportuno lembrar a lição de Igor Ansoff[14], que destaca o desdobramento dessa ferramenta administrativa em planejamento tático (realizado no nível gerencial[15]) e planos operacionais (realizado no nível de execução ou operacional das instituições). Portanto, recomenda Ansoff que os planos operacionais se desdobrem em subplanos que, em sua grande maioria, apresentam menor alcance e duração.
Há na doutrina administrativa uma gama de exemplos de sub-planos, tais como orçamentos, procedimentos etc. Todavia, para este trabalho, o importante é ressaltar o subplano denominado “programa ou programação”, que na conceituação de Daft[16] implica a esquematização de atividades que, em geral, relacionam duas variáveis: o elemento temporalidade e as atividades a executar naquele interregno, daí ser necessário o estabelecimento de uma programação ou cronograma prévio estabelecendo um nexo entre essas duas variáveis (tempo e ação), expresso nos vocábulos “quando” e “o quê”.
No cronograma as atividades eram previamente determinadas, expressamente escritas e publicizadas de modo a gerar certeza em seu cumprimento e possibilidade de avaliação a posteriori. Sob essas características, explica Ansoff que as atividades são denominadas de “metas”, e que quase sempre, são traduzidas em termos numéricos uma vez que a exatidão é particularidade de fácil controle e verificação.
No caso estudado, as metas do Poder Judiciário eram ações pré-estabelecidas pelo CNJ aos Tribunais, com a perspectiva de cumprimento durante um intervalo de tempo – normalmente 12 meses – dadas a conhecer a partir de sua formalização. Eis que, a partir disso, tem-se um acompanhamento pari passu ou controle verificador ao longo do processo a cada quadrimestre. Como se pode ver, o órgão exerce a gestão a partir dos macro desafios, tentando estabelecer uma efetividade ou indicador sintético de resultado, denominado índice de efetividade na gestão.
Quanto ao Poder Judiciário, o teor de gestão é uma temática relativamente nova, neste sentido a página 2 do CNJ explicava que,
[...] as metas nacionais do Poder Judiciário foram definidas pela primeira vez no 2º Encontro Nacional do Judiciário, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2009. Ao final do Encontro, os tribunais brasileiros traçaram 10 metas de nivelamento para o Judiciário no ano de 2009. O grande destaque foi a Meta 2, que determinou aos tribunais que identificassem e julgassem os processos judiciais mais antigos, distribuídos aos magistrados até 31.12.2005.
Com a meta 2, diz o CNJ que foi iniciada uma campanha para diminuir o estoque de processos não julgados, decrescendo assim o congestionamento no iter processual e evitando de certa forma, a ocorrência dos institutos de prescrição e decadência por inércia do órgão judicante. A partir de 2009 as metas do CNJ se estabeleceram anualmente e se ampliaram com destaque para o desafio de gerar maior agilidade e eficiência da justiça através da modernização e informatização dos dados, entendendo que estes são de fácil acesso à população.
Além desses aspectos, informava o CNJ que as metas possibilitaram a transparência do Poder Judiciário, sendo disponibilizado ao público maior proximidade com os órgãos judicantes pelo conhecimento prestado sobre as funções judiciais, por exemplo. Além disso, a disponibilização por meio eletrônico de informações processuais, tais como tramitação e consulta às tabelas de custas, por exemplo, facilitou sobremaneira o acesso aos bancos de dados, gerando maior transparência para os usuários. Por fim, diz o CNJ que em 2013,
[...] foi realizado o VII Encontro Nacional do Judiciário, em Belém/PA, para aprovação das metas nacionais de 2014 e dos Macrodesafios do Poder Judiciário para o período 2015-2020 bem como metas específicas aplicáveis a determinados segmentos de justiça. A partir deste ano [2013] somente serão acompanhadas diretamente pelo CNJ as 6 metas nacionais.
O CNJ entende que sua absorção com as grandes metas nacionais permite aos tribunais a concentração de esforços para o alcance de metas com maior demanda da sociedade, tais como: redução de acervos de processos pendentes de julgamento; priorização de razoável duração do processo; e principalmente produtividade dos magistrados e servidores.
A gestão organizacional, sem dúvida, podia, naquele ano, gerar celeridade e imprimir probidade na justiça, e esse é um dos temas mais desejados na sociedade cidadã. Ocorre que merece atenção especial a forma como se processam determinados aperfeiçoamentos, para que o método utilizado não ocupe a ribalta em detrimento do resultado ou fim desejado, fazendo uma inversão valorativa que pode ser intrigante. Eis aqui a ação do CNJ, que no afã de aproximar a justiça da população parece-nos desbordar na forma, acabando por estabelecer um protagonismo aos dados de cunho numérico.
Observe o leitor que nosso objetivo não é entender como essas metas numéricas foram construídas, se foram socializadas, se discutidas com o grupo impactado ou simplesmente verticalizadas de forma descendente aos Tribunais. Nossa perspectiva aqui é tão somente analisar o conteúdo das metas, e a sua forma de exigência numérica.
Passamos então à análise dos propósitos do CNJ no ano de 2013, pensados a partir do planejamento estratégico, através de metas infligidas aos segmentos – federal, estadual, trabalho, eleitoral, militar e STJ – aqui metaforizados pela gestão como níveis operacionais, atividade-fim, ou executórias do Poder Judiciário.
O programa se perfez em 19 metas, algumas individualizadas por Tribunais, outras dirigidas a todos eles, de maneira que, para melhor compreensão do leitor, condensamos essas metas em 10 itens, considerando algumas delas comuns aos órgãos. Comecemos então a análise pelo trilhar dedutivo, que parte do geral ao particular, procurando examinar do modo mais sintético possível cada uma delas.
Logo de início a “meta 1” ressalta que “[...] todos os segmentos da Justiça devem julgar a quantidade maior de processos de conhecimento”. Ao analisar esse fragmento percebemos o realce ao fator numérico, logo, a meta faz uma aproximação aderente à Teoria Matemática da Administração ou racionalidade da decisão, sendo levada a cabo pela concepção das decisões programáveis de Herbert Simon[17], que nos brinda com a matematização de decisões programadas, previsíveis, repetitivas e estruturadas.
A “meta 2”, também extensiva a todos os segmentos da justiça, é mais específica e traz em sua recomendação explicitamente as tarifas numéricas, destacando que até 31/12/2013 deveriam ser julgados,
[...] pelo menos, 80% dos processos distribuídos em 2008, no STJ; 70%, em 2010 e 2011, na Justiça Militar da União; 50%, em 2008, na Justiça Federal; 50%, em 2010, nos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais Federais; 80%, em 2009, na Justiça do Trabalho; 90%, em 2010, na Justiça Eleitoral; 90%, em 2011, na Justiça Militar dos Estados; e 90%, em 2008, nas Turmas Recursais Estaduais, e no 2º grau da Justiça Estadual.
Cremos que, ao trabalhar os fatores numéricos, a meta 02 tomou por base a chamada “Teoria das Restrições”, pois esta salienta que as maiores filas se encontram diante de gargalos que obstruem e atrasam o processo produtivo, daí que o importante é identificar as restrições e atuar sobre elas, o que levou à técnica japonesa do just-in-time ou conhecimento do processo fabril enxuto[18]. É o que o CNJ pretendeu implementar através da meta 02 supracitada, sem informar no entanto, quais foram os obstáculos que contribuíram para formar as filas ou pilhas de processo. Ao assim fazê-lo, a meta 02 ataca a consequência, sem debelar a causa.
Com as metas 03 e 04 dirigidas à justiça militar estadual, a exigência não foi diferenciada, uma vez que o CNJ requereu aligeirada ação deste segmento que deveria, em 2013, “[...] Julgar 90% dos processos originários e recursos, ambos cíveis e criminais, e dos processos de natureza especial em até 120 dias”, aplicando assim uma programação linear do tipo cronograma. Ademais, prescreveu ainda que o órgão deveria “[...] Implantar o processo judicial eletrônico em 25% das unidades judiciárias”. Perceba o leitor que também não temos dados para inferir em que situações se deu essa exigência à justiça militar e se o Estado forneceu condições para a consecução da meta; fato que, na maioria dos casos, não ocorre, quedando-se aquele a quem é dirigida a exigência, no desafio de “do it yourself”.
As metas 5 e 6, dirigidas à Justiça Federal, trataram da aceleração do ritmo de produção, tendo o CNJ recomendando ao órgão “[...] Designar audiências e realizar demais atividades de conciliação adequadas à solução de conflitos em número maior do que o ano de 2012”. Ao analisar esse fragmento acreditamos que a elevação numérica significa a organização racional do trabalho ou taylorismo, pois, ao propor intensificação do ritmo laboral, a meta ressalta a agilidade e rotinização nas decisões. Diante do que foi dito, nossa hipótese foi corroborada, pois a meta 6 prevê que a Justiça Federal deva “[...] Implementar gestão por processos de trabalho (gerenciamento de rotinas) em 100% das turmas recursais”, o que significa seguir a bula do modelo único ou the best way taylorista[19].
Dando um salto nas metas 7 e 8 da justiça eleitoral, pois consideramos pouco relevantes para este ensaio, analisamos as metas 9, 10, 11 e 12 para a Justiça do Trabalho. Com rara exceção, a meta 9 traz a preocupação com o trabalhador, recomendando implementar o programa de controle médico e prevenção de acidentes em pelo menos 65% das unidades judiciárias administrativas. Já a meta 10 destaca a preocupação com a ergonomia, no entanto, é para elevar a produtividade que o combate à fadiga muscular da meta 10 se reporta.
Reiteramos, por conseguinte, o padrão taylorista da meta 10, que racionaliza critérios estabelecendo que a Justiça do Trabalho deverá adaptar naquele ano 20% de suas unidades para preservar a saúde do trabalhadores. Em seguida, a meta 11 trata da capacitação, destacando que 50% dos magistrados e 50% dos servidores deverão estar aptos a utilizar o pregão eletrônico e entender de gestão estratégica.
Do que foi visto, não resta dúvida que o CNJ tem a preocupação de imprimir maior credibilidade ao Poder Judiciário, reforçando assim a probidade já existente e preconizando a modernidade do órgão. Todavia, perante os critérios que apontamos, o esforço para obtenção da melhoria da qualidade recai quase que diretamente no descongestionamento do iter processual e produtividade dos servidores, exigidos através de metas quantitativas.
Trabalhando no endurecer do cimento burocrático, alguns indicadores matemáticos poderiam não refletir a efetividade que se está buscando, isso por que o desafio de garantir direitos de cidadania pela demonstração numérica pode se mostrar tão turvo quando o inacesso à justiça, tão duramente perseguido pelas metas. Para calçar nossas observações nos socorremos da intelecção de Martin Heidegger, para quem o pensamento calculador, isoladamente, pode trazer alguns desconfortos. Passemos à analisá-los.
3 O PENSAMENTO CALCULADOR COMO PONTO FULCRAL NA SOCIEDADE MODERNA
O surgimento da razão moderna marca o início da predominância do sujeito pensante a partir do modelo cartesiano e transforma as representações desses sujeitos em medidas mensuráveis, que são importantes mas não são critérios exclusivos, sui generis. A técnica e a emergência da razão moderna e seu ideal de construção do mundo por mathesis, conquanto sejam significativos, estabelecem uma compreensão unilateral[20], quando deixam de considerar outras possibilidades mais subjetivas e peculiares.
Martin Heidegger ressalta a sensibilidade do ser humano, que, ao decidir leva em consideração o desenvolvimento imanente de suas potencialidades, e assim, desde logo, opõe-se à formatio ou ao conjunto de preceitos do saber técnico que, isoladamente acaba por aprisionar o próprio homem e suas decisões. Diz o autor que, a instituição da técnica, depurada de outros elementos, pode transformar-se em critério funcionalista que decerto caminha para soluções turvadas de dúvida.
Heidegger sustenta que a análise meramente numérica é uma clausura ou aprisionamento a que ele denomina “pensamento calculador”, algo tão exato que, se for usado como único método de investigação poderia desviar a abordagem fenomenológica da filosofia. Isto porque, diz Heidegger, o pensamento calculador é importante, porém solitário seu uso se transforma em uma aporia ou círculo vicioso que opera na enunciação e pode deformar resultados.
Por conseguinte, há um discurso de certeza cujo critério é dominante e que tem como resultado o encapsulamento da própria decisão em fórmulas que, muitas vezes, não refletem a magnitude da vida, pois esta é premida de complexidade e dinamicidade que escapa à certeza das récipes. Cega, a mathesis tem a possessão por princípios e cânones demonstrando, decerto, a sobriedade tão necessária à organização, mas também a prosaica planificação do modelo lógico, que captura a realidade no quadro conceitual ôntico, e a põe diante do sujeito como objeto.
Ademais, ressalta o autor, a entificação do ser como realidade eficaz tem dificuldade de vislumbrar as condições e possibilidades de entender o “Dar-se”, ou seja, o mistério que subjaz no desvelamento. A preeminência de um sub-jectum provêm do desejo de encontrar os alicerces de uma absoluta verdade na razão, e essa verdade, decerto, advém de um calcular que produz certeza. Desta forma, o pensamento mensurador submete os conceitos à totalidade do cálculo e da planificação para em seguida, dotá-los de uma função de controle que racionaliza a análise.
Por conseguinte, informa Heidegger que tais expressões desenham com tamanha amplitude aquilo que ele denomina de instrumentalização e distanciamento da própria compreensão, porque o modelo epistemológico calculador faz uma cisão entre consciência estética e o mundo real. Há decerto, diz o autor, uma clivagem entre mithos e logos, pois o pensamento se desdobra como lógica para a logística e “[...] vai correndo por cima de trilhos[21]”, usando para tanto a linguagem de tabelas, índices, e avaliações instrumentalizadas tendo como critério a matemática.
Decerto que o pensamento mensurador diante dos objeto faz múltiplas conjecturas em planos e antecipações, pois opera na práxis visando o controle e o resultado[22], sendo assim, diz Heidegger que o pensamento calculador enumera possibilidades de satisfazer os fins previamente delineados pelo mundo técnico, considerando o universo numerável como definitivo.
Eis a razão pela qual o pensamento calculador é representacional da produtividade, pois ele próprio é uma forma objetificadora que se apropria do pensar como um horizonte estático, uma estrutura de antecipação que tem sua aparência delineada a partir da prontidão do logos planificado. A lógica da sociedade pós-moderna parece implicar uma comensurabilidade dos elementos e a determinabilidade do todo. Sua legitimação em matéria de justiça social e de verdade científica seria a de otimizar as performances do sistema. O critério de operatividade é tecnológico, porém ele não é pertinente para julgar o que é certo ou justo[23].
Sem dúvida, o pensamento calculador é importante, todavia de maneira insular, não consegue compreender a heterogeneidade da realidade ontológica pois transforma a natureza em algo estéril, que embora ofereça conceituações estáveis, tem dificuldade de pensar a ductibilidade dos problemas do tempo presente, pois estes são carregados de heterogeneidade e mutação.
É preciso pois, não desprezar a técnica, todavia, há de ser considerada uma nova intelecção, mais sistemática que tome por base o homem, seu pensar e suas reflexões e sensibilidades, e que venha somar-se como um plus, ao pensamento calculador. Heidegger chama essa nova intelecção de pensamento medidativo e nos brinda com suas principais nuances. Ei-las:
3.1 O Pensamento Meditativo de Martin Heidegger
Recusando a formação do pensar tratadístico linear[24], Heidegger aponta para certos ensaios, dando relevância à criticidade em forma de circularidade. Assim, sua obra “Serenidade” evidencia o caráter ontológico do homem, que vive sob o signo da angústia, aquele que revela o nada com o véu do ser. Desta forma, Heidegger propõe o que denomina de pensar meditativo, atitude contingencial adequada para refletir a historicidade do sujeito, e por conseguinte, em sintonia com o presente[25], sem ter a pretensão de ser modelagem fixa.
Desta forma, o pensamento encontra-se em um círculo no interior do caminho que conduz ao esclarecimento através do próprio caminhar, sem ter uma prévia cartularidade, pois o pensar é coalhado de questões que se abrem a outras temáticas. O ato de perguntar, diz Heidegger, é sublime e opera no discurso para desconstruir as certezas do pensamento calculador. Ao abrir-se às novas questões, e diante de novas respostas, o pensamento meditativo está em sintonia com o contexto[26].
Portanto, pelo pensamento meditativo há dificuldades de estabelecer contornos ao ser, aquele que Heidegger denomina Dasein, um ente lançado no mundo e com ambivalência para se projetar como um ser que tem ontologia e campo de valência próprios, portanto, rejeita as fórmulas únicas de interpretação que lhe são dadas à leitura da vida. Por via contrária, o Dasein tem fundamentos para uma busca plúrima de suas questões, pois ele tem uma curvatura própria de compreensão de si, e do mundo circundante.
Aqui não há que se falar unicamente em receituários numéricos, embora sejam eles instrumentos importantes, mas a tarefa do pensamento meditativo exige refinada linguagem[27] pois o Dasein é um ente de interlocução e propício ao pensamento no solo mundano. Daí que a meditação é reflexiva e recusa a representação prévia do pensamento calculador, pois ela se deixa guiar pela voluntas e exige maturação demorada, acurada ponderação que carece de delicadeza e espera.
Heidegger qualifica esse estágio de pensamento como a atitude da “serenidade”, que para ele não implica inércia, tampouco indiferença, mas elevada atividade intelectiva não planejada, não mapeada previamente. Vale dizer que serena é a decisão refletida que tenha uma consonância com o objeto refletido,’ de forma que pensamento e ente são autorreferenciados, pois há um movimento de vir ao encontro, capaz de dissolver a dualidade sujeito-objeto.
O pensamento meditativo no entender de Heidegger é aquele que imerso em silêncio, tem a capacidade de diálogo[28] com o mundo e suas peculiaridades, desvencilhado de fórmulas prontas. Portanto, o silêncio é atitude preservacionista que evita obstrução e escapa às polarizações do pensamento representacional.
Logo, é preciso destacar que o pensamento meditativo, embora não se confunda com o pensamento calculador dele não se desprende, diz Heidegger. Ocorre que a forma de relacionar-se com a técnica é que o pensamento meditativo a ela não se verga como servo. Desta forma, a análise acurada, o pensamento silenciador, é foco e atitude revitalizadora da teoria tradicional todavia sem cristalizar-se diante de suas representações mapeadoras.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se tratou de uma pesquisa pretérita, desde logo destacamos a confirmação de nossa hipótese quanto à aderência do CNJ ao modelo empresarial para lidar com os processos judiciais, no ano de 2013. Embora não sendo objetivo analisar a página do CNJ ano de 2024, destacamos que o âmago logocentrista quantitativo, permanece desde 2013 enquanto um conjunto de ações, envolvendo temáticas como “gestão da justiça”, “eficiência operacional” “estratégicas, processos, procedimentos e rankings”.
Nesta visada, é possível ressalta que processo é conjunto de atos e procedimento é forma material ou roupagem com a qual ele se exterioriza e o vocábulo “ranking” é mensuração matemática. Quanto às metas do CNJ tanto em 2013 quanto 2024 se inserem em perspectivas quantitativas do tipo “maior eficiência e qualidade” o que remete à quantitativo e qualitativo.
Contudo, as metas do CNJ soam como um descompasso ao tomar as ações do Poder Judiciário e parametrizá-las aos moldes do setor empresarial, este sim, pautado pela concorrência, lucratividade e produtividade, substantivos que se adequam ao pensamento calculador. Essa roupagem se configurou no ano de 2013 e perdura até hoje, como se pode ver no documento 17º Encontro Nacional do Poder Judicário, aprovando metas nacionais do CNJ para o ano de 2024.
Mas é preciso destacar também que a eticidade do Estado não afasta os atributos virtuosos dos Tribunais, tais como probidade, celeridade e economicidade, elementos que deverão ser perseguidos pela boa gestão pública, temperada com a melhoria na qualidade e um provimento tempestivo capaz de ter efetividade. Sem dúvida, a adoção desses critérios são necessários e devem ser vislumbrados como elementos secundários, exatamente porque são medidas instrumentais.
Não foi o que percebemos analisando as metas de 2013 do CNJ, que se inseriram como protagonistas no contexto jurídico, invertendo a chave de inteligibilidade dos fins do Estado, em meios de potencializar uma gestão por resultados. Assim, com a utopia semiológica do plano da linguagem de gestão empresarial as metas se assentam na roupagem unilateral mensuradora como o elemento até mais importante que a própria ação dos Tribunais.
Eis que, no afã de garantir direitos de cidadania, o CNJ adotou a gestão administrativa mais clássica, aquela que até nos meios empresariais vai caindo em vertiginoso desuso em função de suas práticas mecanicistas que ela mesma apregoa e que tem dificuldade de implementar. Em consonância com essa discussão, entendemos que o pensamento calculador isolado pode turvar as respostas, porque a racionalidade no ato de julgar pode obscurecer a percepção.
De forma similar ao pensamento de Heidegger ressaltamos ser temerário desejar o aperfeiçoamento da gestão pela política de denominador comum compreendida como diminuição de custos e elevação de produtividade traduzida na frase “julgar mais processos”, equação simplista posta em percentuais e quadrantes numéricos que pode mostrar-se hermética e inclusive eclipsar resultados.
Daí que é necessário analisar a pauta de metas propostas pelo CNJ considerando seu pragmatismo, mas também o reducionismo nela contido à medida que canaliza somente variáveis numéricas para avaliação dos resultados. Portanto, partindo do entendimento do pensamento meditativo heideggeriano consideramos que a pauta de metas numéricas do CNJ é parcial pelas razões que passamos a expor.
Considera-se, não raro, que a atividade de prestação jurisdicional exige refinada sensibilidade dos Tribunais, e principalmente dos magistrados porque proferir uma decisão envolve direcionar-se a relações complexas, às vezes intencionais ou não, que conjugam experiências vívidas. Há, decerto, um ato de pertença no julgar, uma interpretação que assume o caráter hermenêutico da faticidade, da existência concreta, acepção difícil de ser guiada unidirecionalmente pela fomatio da intenção mensuradora.
Confrontando o pensamento calculador, entendemos que proferir decisões envolve acurada intuição e aprimorada percepção para apreender a essência daquilo que se mostra em si mesmo, aquilo que Heidegger denomina de demonstração fenomênica, percepção e identidade. Assim, a ação decisória é meditativa, porque além da percepção ela carece de sensibilidade, atitude filosófica eminentemente intelectiva.
Portanto, indefensável é a teoria de modelagem empresarial nos julgamentos, sob o argumento de potencializar desempenho e produtividade, inclusive metamorfoseando a essência do ser que, aos olhos do paradigma calculador do CNJ passa a ser denominado de “capital humano”. Assim, rejeitamos o sentido achado nessa perspectiva, pois ela é antagônica ao pensar meditativo, que considera o ser ontológico, com valência própria e historicidade para exercitar seu pensamento e suas decisões, desgarrado de fórmulas prévias.
Isso por que decidir é lançar mão de uma cognição e lucidez que se dá na clareira heideggeriana e luz do Dasein, uma vez que o julgador lida com fenômenos plúrimos que exigem vivência e sensibilidade para desvelar a essência do objeto. Portanto no interpretar embora o julgador esteja voltada a um determinado dado, ele também o constitui preenchendo-o com percepções, valores e historicidade.
Daí que o ato basal da percepção é trazer o fenômeno à luz para interpretá-lo a partir da hermenêutica da faticidade, pois o intérprete tem uma existência concreta e se move de acordo com seus valores e seu tempo histórico. Assim, o grande salto para uma teoria do direito (pós-positivista) é a recepção correta (adequada) dos pressupostos teóricos advindos da fenomenologia hermenêutica[29].
Deveras, o elemento central para compreender-se a questão do tempo na vida fática é a phronesis aristotélica ou sabedoria prática, concebida como estrutura dianoética fundamental do agir. Esta compreensão refinada, envolve na interpretação dos fenômenos, uma concepção de tempo cuja maturação se torna inadequada quando submetida ao barema exato do pensamento calculador.
Concluindo, de igual modo entendemos que não se pode repudiar a metódica das ciências exatas dada sua importância na condução de determinados fenômenos da vida. Todavia, compreendemos também que a matematização não é a única via para se extrair resultados e análises, por via contrária, essa visão foi confrontada pelas novas formas de experiências pré-reflexivas, aquelas mais voltadas à intelecção medidativa, cujo poder de decisão se enraíza na serenidade subjetiva.
Decerto que a energia que conforma a sociedade hodierna é plural e revestida de uma polissemia cuja unilateralidade da certeza matemática tende a demandar outros elementos mais significativos em uma dialogicidade sistêmica, envolvendo o objetivo e o subjetivo em importante sintonia. E que portanto além de rejeitar a cisão entre sujeito e objeto, faz uma ligação substancial entre eles, harmonizando-os na interpretação.
Eis que há uma infinidade de interações e interferências na multiplicidade de conexões que regem o mundo atual, que desafia a unilateralidade do resultado por cálculos. Portanto, à ciência jurídica não caberá mais a confortável sombra exata do pensamento calculador porque o sol que paira sobre ela exige novas intelecções.
5 REFERÊNCIAS
ANDRADE, Ricardo Jardim. A era da representação ou o sentido do mundo segundo Heidegger. Revista de Filosofia SEAF, Rio de Janeiro, v.8, n.8 , p. 66-77, jan. 2009.
ANSOFF, H. Igor. Business Strategy: selected readings. London: Penguin Education. 1999.
BARROS, Aidil Jesus Paes de; e LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Mc Graw-Hil do Brasil, 2009.
BEAINI, Thais Curi. A escuta do silencio: um estudo sobre a linguagem no pensamento de Heidegger. São Paulo: Cortez, 1981.
BOURDIEU, Pierre. Ontologia política de Martin Heidegger. Campinas: Papirus, 1989.
CARAVANTES, Geraldo. Administração, teorias e processo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. Acesso em 01/03/2014.
CLARKE & Newman. Gerencialismo. Disponível em Educação e Realidade. Educ. Real., v. 37, n. 2, Porto Alegre May/Aug. 2012. Acesso em 01/03/2014.
CRUZ, Paulo Márcio. Critério ético e sustentabilidade na sociedade pós-moderna: impactos nas dimensões econômicas, transnacionais e jurídicas. Revista Novos Estudos Jurídicos. Vol. 17, n. 3. 2012, Disponível em: www.univali.br/periodicos. Acesso em 30/03/2014.
CUNHA, Ricarlos Almagro Vitoriano. Hermenêutica filosófica e direito. Revista fenomenológica e direito. Rio de Janeiro, v. 04, p.117-139, 2011.
______. Segurança jurídica e crise no direito: caminhos para a superação do paradigma formalista. Belo Horizonte: Arraes, 2012.
DAFT, Richard L. Administração. São Paulo: LTC Editora, 2009.
DELEUZE, Gilles. O anti-edipo: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
______. Diferença e repetição. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Graal, 2006.
DRUCKER, Peter. The Practice of management. New York: Harper & Brown, 1999.
HEIDEGGER, Martin. A caminho da linguagem. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2003.
______. Carta sobre o humanismo. 2. ed. rev. São Paulo: Centauro, 2005.
______. Aclaraciones a la poesía de Hölderlin. Madrid: Alianza Editorial, 2005.
______. Os conceitos fundamentais da metafísica: mundo, finitude, solidão. Rio de Janeiro, RJ: Forense Universitária, 2006.
______. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Nova Cultural, 1996.
______. Hinos de Hölderlin. Lisboa, Portugal: Instituto Piaget, 2004.
______. Serenidade. Lisboa: Instituto Piaget, 2000.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Mariana de Andrade. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 2009.
LYRA, Edgar. Heidegger e Educação. In: Aprender: cadernos de filosofia e psicologia da educação. Ano VI. n. 10. 2008. Disponível em: www.uesb.br/editora/publicacoes/aprender/edicoes/aprender10.pdf. Acesso em 30/03/2014.
MOONEY, James D. Principles of Organization. Nova York: Harper &Brothers, 2000.
MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
______. LE MOIGNE, Jean Louis. Inteligência da complexidade: epistemologia e pragmática. Lisboa: Instituto Piaget, 2009.
______. X da questão: o sujeito à flor da pele. Porto Alegre: Artmed, 2003.
NEWMAN, William. Administração avançada: conceitos, comportamentos e práticas no processo administrativo. São Paulo: Atlas, 1999.
PASOLD, Cesar Luiz. Aspectos estratégicos do desempenho do operador jurídico. Revista Novos Estudos Jurídicos. V. 6. N.12, 2001. Disponível em: acesso em 30/03/014.
SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica. São Paulo: Impetus, 2009.
SARAMAGO, Ligia. Sobre a serenidade em Martin Heidegger: uma reflexão sobre os caminhos do pensamento. Aprender: cadernos de filosofia e psicologia da educação. Ano VI. n. 10. 2008. Disponível em: <www.uesb.br/editora/publicacoes/aprender/edicoes/aprender10.pdf>. Acesso em 30/03/2014.
STEINER, George. As ideias de Heidegger. São Paulo: Cultrix, 1982.
SIMON, Herbert A. The New Science of Management Decision, in The Shape of Automation for Men and Management. New York: Harper &Row Pubishers, Inc. 2001.
STRECK, Lênio. A relação texto e norma e a alografia do direito. Revista Novos Estudos Jurídicos. V. 19. N. 1, 2014. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index. Acesso: 30/03/2014.
VATTIMO, Gianni. As aventuras da diferença: o que significa pensar depois de Heidegger e Nietzsche. Lisboa: 1988.
ZARADER, Marlene. Heidegger e as palavras da origem. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
[1] Pós-Doutoranda na FGV-EAESP. Doutora em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Doutora em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Professora da Universidade Federal do Espírito Santo. dircenazare@hotmail.com. https://orcid.org/0000-0002-5679-2823
[2] Bacharel em Direito. Pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e cidadania global (lato sensu- PUC-RS), https://orcid.org/0009-0009-6305-7497, E-mail: Camilaezequiel98@gmail.com.
[3] MORIN, Edgar. Educação e complexidade: os sete saberes e outros ensaios. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
[4] Mooney, James D. Principles of Organization. Nova York: Harper &Brothers, 2000.
[5] As seções que compõem a página são: Início, Sobre o CNJ, Corregedoria, Atos Normativos, Ouvidoria, Programas de A a Z, Sistemas, e Multimídias.
[6] Conselho Nacional de Justiça. Disponível em <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas>. Acesso em 20/03/2014.
[7] Movimento criado pelo Engenheiro Frederick Winslow Taylor no início do século XX para reduzir custos nas indústrias e elevar a produtividade.
[8] DRUCKER, Peter. The Practice of management. New York: Harper & Brown, 1999.
[9] NEWMAN, William. Administração avançada: conceitos, comportamentos e práticas no processo administrativo. São Paulo: Atlas, 1999.
[10] PASOLD, Cesar Luis. Aspectos estratégicos do desempenho do operador jurídico. Revista Novos Estudos Jurídicos. V. 6. N.12, 2001. Disponível em: acesso em 30/03/014.
[11] CNJ, 2009, p.2.
[12] CLARKE & Newman. Gerencialismo. Disponível em Educação e Realidade. Educ. Real., v. 37, n. 2, Porto Alegre May/Aug. 2012. Acesso em 01/03/2013.
[13] CARAVANTES, Geraldo. Administração, teorias e processo. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.
[14] ANSOFF, H. Igor. Business Strategy: selected readings. London: Penguin Education. 1999.
[15] A teoria estruturalista da administração divide as instituições em três partes: nível estratégico ou cúpula organizacional; nível tático ou gerencial e nível operacional ou executório. O planejamento estratégico é desenvolvido nessas três áreas recebendo de cada uma delas as suas características. No nível operacional o planejamento estratégico é desdobrado em programas para ser executados por profissionais que participam diretamente da atividade fim das organizações. No caso analisado, o nível operacional é considerado os tribunais ou órgãos judicantes que darão provisionamento aos processos.
[16] DAFT, Richard L. Administração. São Paulo: LTC Editora, 2009.
[17] Simon, Herbert A. The New Science of Management Decision, in The Shape of Automation for Men and Management. New York: Harper & Row Pubishers, Inc. 2001.
[18] Ver Clark & Newman, 1999, p.34.
[19] Modelo de gestão que cria um modelo ou bula prescritiva padronizada de ações, de maneira que uniformiza os procedimentos nas instituições.
[20] DELEUZE, Gilles. O anti-edipo: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
[21] LYRA, Edgar. Heidegger e Educação. In: Aprender: cadernos de filosofia e psicologia da educação. Ano VI. n. 10. 2008. Disponível em: <www.uesb.br/editora/publicacoes/aprender/edicoes/aprender10.pdf>. Acesso em 30/03/2014.
[22] SARAMAGO, Lygia. Sobre a serenidade em Heidegger. In: Aprender: cadernos de filosofia e psicologia da educação. Ano VI. n. 10. 2008. Disponível em: <www.uesb.br/editora/publicacoes/aprender>. Acesso em 30/03/2014.
[23] CRUZ, Paulo Márcio. Critério ético e sustentabilidade na sociedade pós-moderna: impactos nas dimensões econômicas, transnacionais e jurídicas. Revista Novos Estudos Jurídicos. Vol. 17, n. 3. 2012, Disponível em: <www.univali.br/periodicos>. Acesso em 30/03/2014.
[24] ANDRADE, Ricardo Jardim. A era da representação ou o sentido do mundo segundo Heidegger. Revista de Filosofia SEAF, Rio de Janeiro, v.8, n.8, p. 66-77, jan. 2009.
[25] BOURDIEU, Pierre. Ontologia política de Martin Heidegger. Campinas: Papirus, 1989.
[26] HEIDEGGER, Martin. A caminho da linguagem. Petrópolis, RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2003.
[27] BEAINI, Thais Curi. A escuta do silencio: um estudo sobre a linguagem no pensamento de Heidegger. São Paulo: Cortez, 1981.
[28] STEINER, George. As ideias de Heidegger. São Paulo: Cultrix, 1982.
[29] STRECK, Lênio. A relação texto e norma e a alografia do direito. Revista Novos Estudos Jurídicos. V. 19. N. 1, 2014. Disponível em: http://siaiweb06.univali.br/seer/index. Acesso: 30/03/2014.