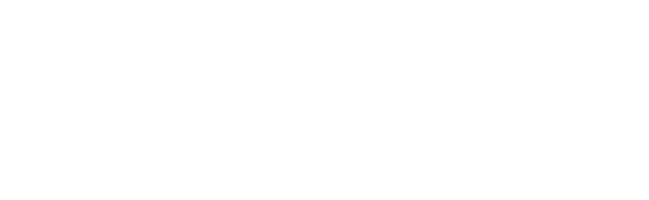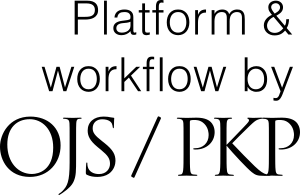O direito à previdência social das pessoas trans sob a lógica do acesso à justiça
The right to social security of trans people from the perspective of access to justice
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.15
Recebido/Received 04/06/2024 – Aprovado/Approved 14/08/2024
Laís Lopes Francelino[1] – https://orcid.org/0009-0003-7796-8554
Miguel Horvath Júnior[2] – https://orcid.org/0000-0001-6827-7135
Resumo
O presente trabalho visa a discutir sobre a efetivação do direito à previdência social das pessoas trans, especialmente, se a judicialização do tema consiste em instrumento de efetivação deste direito. Isso porque, o direito à previdência social, assim como outros direitos fundamentais, não tem alcançado a população trans, seja porque não há regulamentação legal sobre o tema, seja em razão da situação de marginalização enfrentada por esta parcela da população. Neste contexto, adotando-se como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, mediante método dedutivo e pesquisa qualitativa e descritiva, foram abordados aspectos gerais sobre a previdência social, incluindo o sistema binário de gênero adotado no Brasil. Posteriormente, verificou-se que há completa omissão legislativa sobre o tema, fazendo com que as pessoas precisem recorrer ao Poder Judiciário para obter o reconhecimento de seus direitos. Entretanto, constatou-se que a dificuldade de acesso das pessoas trans à previdência social se dá também em razão do contexto de marginalização em que estão inseridas, podendo ser chamado de “sociedade civil incivil”, na qual não há acesso à justiça. Assim, embora o Poder Judiciário seja usado como instrumento de efetivação de direitos, percebeu-se que se socorrer a ele não tem sido suficiente, inclusive porque o próprio Judiciário vem apresentando dificuldades com o tema. Por fim, discutiu-se possíveis maneiras de amenização do problema, evidenciando que a concretização do direito à previdência social na população trans não está pautada em apenas um dos poderes da República, mas sim, demanda esforços multidisciplinares e mútuos, com adoção de políticas públicas de inclusão.
Palavras-chave: Direito à previdência social; Pessoas trans; Omissão legislativa; Acesso à justiça; Poder Judiciário.
Abstract
The present work aims to discuss the realization of the right to social security for transgender individuals, especially whether the Judiciary serves as an instrument for enforcing this right. The right to social security, like other fundamental rights, has not reached the transgender population, either due to a lack of legal regulations on the subject or due to the marginalized situation faced by this segment of the population. In this context, adopting bibliographic research as methodological procedure, with a deductive method and qualitative and descriptive research, general aspects of social security were addressed, including the binary gender system adopted in Brazil. Subsequently, it was found that there is a complete legislative omission on the subject, forcing individuals to resort to the Judiciary to obtain the recognition of their rights. However, it was noted that the difficulty of transgender individuals in accessing social security also arises from the context of marginalization in which they are inserted, which can be referred to as "uncivil civil society," where there is no access to justice. Thus, although the Judiciary is used as an instrument for enforcing rights, it was realized that resorting to it is not sufficient, including because the Judiciary itself presents serious deficiencies. Finally, possible ways to alleviate the problem were discussed, highlighting that the realization of social security rights for transgender population is not based on just one branch of government but rather requires multidisciplinary and mutual efforts, with the adoption of inclusive public policies.
Keywords: Right to social security; Transgender individuals; Legislative omission; Access to justice; Judiciary.
Sumário: 1. Introdução; 2. Previdência Social e Binaridade de Gênero; 2.1 Da Previdência Social; 2.2 Previdência como um direito social e universal; 2.3 Sistema Binário de gênero; 3. A transgeneridade no Direito Previdenciário; 3.1 Conceito e aspectos gerais da transgeneridade; 3.2 Previdência Social: omissão legislativa e necessidade de intervenção do Poder Judiciário; 4. O Poder Judiciário e a (In)Efetividade dos direitos das pessoas trans; 4.1 A atuação do Poder Judiciário na causa trans; Considerações Finais; 4.2 Marginalização da pessoa trans e dificuldade de acesso ao Poder Judiciário; 5. Transgeneridade e acesso à justiça na visão de Boaventura de Souza Santos; 5.1 Direito emancipatório: transgêneros compõem minoria não emancipada; 5.2 Os percalços do Poder Judiciário; 5.3 O acesso à justiça é solução ou utopia? 6. Considerações finais; 7. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo objetiva refletir sobre a efetivação do direito à previdência social para a população trans, com foco no acesso à justiça, questionando se o Poder Judiciário consiste em instrumento concretizador deste direito.
A previdência social, por se tratar de um direito social, deveria ser oportunizada a todos, em igualdade de condições, a fim de proteger a dignidade da pessoa humana. Entretanto, isso nem sempre ocorre na prática, especialmente nas camadas mais vulneráveis da sociedade, como a população trans.
A previdência social no Brasil adota o sistema binário, que consiste na adoção de requisitos distintos entre homens e mulheres para concessão dos benefícios previdenciários (especialmente aposentadorias), gerando dúvidas quando da análise do direito aos benefícios, eis que não há previsões legislativas específicas sobre essa matéria.
A omissão legislativa faz com que as pessoas busquem pelos seus direitos perante o Poder Judiciário. Todavia, o direito de acesso à justiça também não costuma alcançar as pessoas trans, uma vez que estas vivem estigmatizadas, à margem da sociedade, no que Boaventura de Souza Santos denomina “sociedade civil incivil”.
Na verdade, a prevalência e reafirmação da cisheteronormatividade faz com que a população trans permaneça excluída da proteção de direitos básicos, dificultando, por exemplo, o acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, à própria proteção previdenciária, ante a ausência de contribuição para a previdência social.
Ademais, ainda que se consiga acesso ao Poder Judiciário, este também apresenta problemas estruturais e barreiras de acesso à justiça que podem culminar na sua ineficácia. Não há jurisprudência consolidada sobre o tema, o que causa enorme insegurança jurídica, de modo que se valer deste poder, por si só, não consiste em pronta solução para o revés.
Diante deste impasse, o presente trabalho objetiva discutir sobre maneiras de efetivar e direcionar a proteção da previdência social às pessoas trans. Para tanto, através do procedimento metodológico bibliográfico, com método dedutivo e pesquisa qualitativa e descritiva, faz-se necessário analisar as características da previdência no Brasil, esclarecer sobre a realidade vivida pela população trans, bem como debater sobre o Poder Judiciário e o acesso à justiça como forma de encaminhamento de solução para a temática, e não como a única opção para elucidação do problema, eis que apenas se valer do Poder Judiciário não é suficiente para concretização do direito social em discussão.
Por fim, verifica-se que a efetivação do direito à previdência social da população trans pressupõe esforços multidisciplinares e mútuos de todos os poderes e da sociedade, bem como a adoção de políticas públicas que visem incluir este grupo com a observância de suas peculiaridades.
2 PREVIDÊNCIA SOCIAL E BINARIDADE DE GÊNERO
2.1 Da Previdência Social
A previdência social está intimamente ligada à proteção social e consiste em um alicerce imprescindível do Estado Democrático de Direito, exercendo um papel fundamental na sociedade para garantia da dignidade da pessoa humana. Mas, até se chegar ao conceito e estrutura de previdência social atual, um longo caminho foi percorrido.
No Brasil, as primeiras regras de proteção social também eram de índole assistencial e beneficente, sendo que, até o século XX, as disposições no âmbito da previdência eram isoladas e tratavam apenas sobre formas de prevenção de incontingências.
O primeiro marco legal da Previdência Social no país foi a Lei Eloy Chaves (Decreto n° 4.682/1923), responsável pela criação de Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAP) aos ferroviários. Posteriormente, na década de 1930, o sindicalismo se fortaleceu e a gestão da Previdência passou a ser por categoria profissional, com o surgimento dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP).
A partir daí, a Previdência Social passou a contar com previsões constitucionais, ainda que discretas: a Constituição de 1934, por exemplo, trouxe pela primeira vez a tripartição do custeio entre trabalhadores, empregadores e Poder Público. A Constituição de 1937, por sua vez, foi a primeira a empregar a expressão “seguro social”. Já a expressão “previdência social” foi usada pela primeira vez na Constituição de 1946, a qual obrigava os empregadores a garantir seguro de acidentes de trabalho aos empregados.
Paralelamente e posteriormente às previsões constitucionais, outros regramentos de Previdência foram criados, com destaque para a criação da lei 3.807/1960 – Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS); a Emenda Constitucional 11 de 1965, que trouxe o princípio da precedência da fonte de custeio; e a Lei Complementar 11/1971, que garantiu proteção previdenciária aos trabalhadores rurais com a criação do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL).
Mudanças estruturais também ocorreram, promovendo uma verdadeira reorganização administrativa da previdência, como o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em 1967, que unificou os IAP; e a posterior criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), que passou a abrigar várias autarquias, inclusive o próprio INPS.
Tantas alterações acabaram gerando indefinições nos conceitos de previdência, assistência e saúde, além de uma dificuldade fiscal no custeio dos benefícios. A Constituição Federal promulgada em 1988 foi importante para discernir tais conceitos, ao subdividir a seguridade social em saúde, assistência social e previdência social (é o que dispõe o artigo 194 da Carta Magna[3]).
Assim, atualmente, a previdência social é um dos pilares da seguridade social, cujo gestor do Regime Geral de Previdência Social é a autarquia federal, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), criado em 1991 surgindo da cisão entre o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e o Instituto da Administração da Previdência e Assistência Social (IAPAS).
Para Miguel Horvath Júnior[4], o objetivo da Previdência Social é “assegurar a cada um dos integrantes do universo de protegidos o mínimo essencial para a vida”. Conforme previsão do artigo 201, a previdência social é caracterizada por ser de caráter contributivo e de filiação obrigatória, diferenciando-se da saúde e da assistência.
Mas não só isso: enquanto pilar da seguridade social e por meio de suas características (contributividade e obrigatoriedade de filiação), atualmente, a previdência social consiste em um direito social, reflexo da dignidade da pessoa humana, que é o princípio norteador do Estado Democrático de Direito.
2.2 Previdência Como um Direito Social e Universal
O artigo 6º, caput da Constituição Federal traz expressamente a previdência social como direito social[5].
Sabe-se que os direitos sociais devem ser assegurados como maneira de enfrentamento e combate das desigualdades sociais; isto é, tais direitos visam garantir a igualdade social, formando um conteúdo mínimo basilar à dignidade humana. Nas palavras de José Afonso da Silva[6], a dignidade é atributo intrínseco da pessoa humana e se confunde com a própria natureza do ser humano, tendo sido elevada pela Constituição Federal como um valor supremo da ordem jurídica, base de toda a vida nacional.
Logo, em linhas gerais, a previdência social é instrumento de proteção da dignidade da pessoa humana, cuja finalidade específica é ofertar cobertura e proteção em face de riscos e contingências sociais. Tanto é assim que o inciso I, parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal prevê como objetivo da seguridade social a universalidade da cobertura e do atendimento, considerado “princípio motor do sistema”[7].
O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento têm duas facetas: a da cobertura, que busca definir os riscos e contingências que demandam proteção; e o atendimento, que garante a proteção social a todos os titulares do direito[8].
Não obstante, a previdência encontra base na solidariedade social: todos têm participação obrigatória no financiamento da previdência, inclusive aqueles que, por ora, ainda não precisam da proteção, eis que são responsáveis por financiar os benefícios de quem atualmente precisa. É o que se chama de regime de repartição simples.
Neste ínterim, importante destacar também o princípio da equidade na forma de participação no custeio, previsto no inciso V, parágrafo único do artigo 194 da Constituição Federal, intimamente ligado ao princípio da capacidade contributiva, previsto no artigo 145, §1º da CF, do qual se extrai o seguinte raciocínio: quanto maior a capacidade econômica do contribuinte, mais ele deve contribuir.
Deste modo, a previdência funciona como uma política de redistribuição de renda, cuja finalidade é reduzir a desigualdade social e concretizar a justiça social, ao cobrar contribuições mais altas dos mais favorecidos e conceder rendimentos àqueles com baixa renda.
Portanto, a previdência social, no âmbito do regime geral de previdência social, é responsável pela proteção social dos beneficiários (segurados obrigatórios – trabalhadores e segurados facultativos – não trabalhadores), bem como de seus dependentes, sendo compulsória a filiação para os segurados obrigatórios.
Essa proteção se dá, na prática, por meio da concessão de prestações previdenciárias, compostas por benefícios e serviços: “benefícios são valores pagos em dinheiro aos segurados e aos dependentes. Serviços são prestações de assistência e amparo dispensadas pela Previdência Social aos beneficiários em geral”[9].
2.3 Sistema Binário de Gênero
As regras para o acesso aos benefícios previdenciários, especialmente para as aposentadorias, estão no artigo 201, §§7º e 8º da Constituição Federal[10]. Segundo esta disposição legal, o requisito etário das aposentadorias diverge entre homens e mulheres, havendo redução da idade para as mulheres. Tal diferenciação foi mantida pela Reforma da Previdência também no tocante ao tempo de contribuição.
Isso ocorre porque, no Brasil, o Regime Geral de Previdência Social adota um critério binário para concessão dos benefícios (em especial, de aposentadorias), com distinção entre homem e mulher (gênero masculino e feminino).
A adoção do sistema binário de gênero na seara previdenciária tem razões históricas. Isso porque, a binaridade de gênero é uma construção humana cultural, baseada em uma estrutura social e familiar eminentemente patriarcal[11]. Inicialmente, sexo e gênero eram conceitos considerados advindos da biologia, ou seja, eram herdados e imodificáveis, de modo que masculino e feminino compunham uma dicotomia hierarquizada, com a manutenção da relação de poder em favor dos homens.
Deste modo, tradicionalmente, competiam às mulheres o trabalho doméstico, levando ao reconhecimento tardio de muitos dos seus direitos.
Esse pensamento perdurou até final do século XIX e meados de 1950. Posteriormente, entre 1960 e 1990, o determinismo biológico passou a ser criticado, e o conceito de gênero começou a ser aprimorado e a ser observado do ponto de vista social, sem justificativas biológicas.
A partir de 1990, já em meio à sociedade da informação e neoliberalismo, o gênero passa a ser desenvolvido como um conceito fluido e ilimitado (como entende Judith Butler, por exemplo). A binaridade homem-mulher passa a ser questionada diante da emersão novas identidades de gênero[12].
Entretanto, mesmo diante das mudanças na interpretação do conceito de gênero e da maior amplitude na discussão dessa pauta atualmente, os reflexos do machismo estrutural ainda estão perpetuados na sociedade: até hoje as mulheres ainda não ocupam a mesma posição que os homens no mercado de trabalho, e, segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2019, os homens ganharam cerca de 30% a mais que as mulheres[13].
Não obstante, há ainda a dupla jornada realizada pela mulher, composta pelo emprego propriamente dito e pelos afazeres domésticos e criação dos filhos, diferentemente do que acontece com grande parte os homens. Segundo dados também divulgados pelo IBGE, as mulheres passam cerca de 21,3 horas por semana exercendo atividades domésticas, enquanto os homens passam aproximadamente 10,9 horas realizando tais atividades[14].
Levando em consideração esses dados, que refletem a posição histórica da mulher na sociedade, o legislador optou por reduzir a idade mínima e o tempo de contribuição das mulheres para fins de aposentadoria, com fundamento no princípio da isonomia (em seu viés da igualdade material), na tentativa de igualar e equilibrar a relação entre homens e mulheres, muito embora as mulheres tenham expectativa de viver, em média, sete anos a mais que os homens (conforme dados do IBGE de 2022)[15].
Observa-se que, na tentativa de se combater a inferiorização da mulher no âmbito no mercado de trabalho e familiar, a flexibilização das regras de aposentadoria para as mulheres gerou outra desconformidade, diante da sua alta expectativa de vida comparada à do homem.
De qualquer modo, são notórias as críticas ao sistema binário de previdência, por não mais comportar as transformações da sociedade, que já não é mais limitada ao padrão binário de gênero (homem e mulher).
E para além da discussão sobre a distinção dos critérios para aposentadoria entre homens e mulheres, fundamentada no crescimento da participação das mulheres no mercado de trabalho e em uma maior conscientização do homem sobre a dupla jornada (física e emocional) carregada pela mulher, há um grupo minoritário bastante atingido por esse debate: as pessoas trans.
Em que pese os dados supracitados demonstrem ainda existir uma enorme discrepância entre homens e mulheres, que justifica a diferenciação determinada pela legislação previdenciária, alguns estudiosos tendem a criticar o sistema binário de gênero por também não amparar os transgêneros.
Mas antes de abordar os critérios de benefícios aplicáveis para as pessoas trans, convém primeiro entender quem são e qual a realidade dessas pessoas.
3 A TRANSGENERIDADE NO DIREITO PREVIDENCIÁRIO
3.1 Conceito e Aspectos Gerais da Transgeneridade
Primeiramente, importante esclarecer a diferença entre cisgênero e transgênero: o cisgênero é aquela pessoa que se identifica com o sexo atribuído quando do seu nascimento, seguindo o padrão culturalmente estabelecido pela sociedade. Já o transgênero ou transexual ou não-cisgênero é aquele que não se identifica com a designação dada ao nascimento.
Ou seja, pode-se afirmar que a pessoa transexual é aquela que possui uma incompatibilidade entre o sexo biológico e o psíquico, tendo convicção e um desejo irreversível de se adaptar ao sexo oposto àquele advindo do seu nascimento[16].
Neste ponto, visualiza-se a diferença entre o transexual e a travesti: a travesti é aquela que vivencia características do gênero oposto (geralmente feminino), como, por exemplo, a roupagem (não há, obrigatoriamente, a necessidade de viver conforme o gênero que se identifica).
Estudiosos apontam que os primeiros casos relatados de transgeneridade surgiram no século XIX. Todavia, não há muitos estudos ou dados históricos sobre as pessoas trans, pois durante toda a evolução histórica, esse grupo viveu estigmatizado, sendo alvo de perseguições em razão de fatores culturais e religiosos.
A marginalização das pessoas trans ainda persiste na atualidade e gera reflexos imensuráveis na concretização de seus direitos, inviabilizando a concretização de direitos basilares, como o direito à previdência social.
3.2 Previdência Social: Omissão Legislativa e Necessidade de Intervenção do Poder Judiciário
Como já dito, o direito à previdência social é um direito social inserido no âmbito da seguridade social, a qual é pautada pelo princípio da universalidade de cobertura e do atendimento. Trata-se de um princípio programático informador, composto por duas facetas: subjetiva e objetiva.
A faceta objetiva corresponde à universalidade de cobertura dos riscos e contingências sociais: o risco social é o evento futuro e incerto que independe da ação ou vontade humana, capaz de gerar consequências danosas; a contingência social, por sua vez, é o evento capaz de gerar redução ou perda de recursos, ou aumento de gastos para o beneficiário[17].
Já a faceta subjetiva desse princípio corresponde à universalidade de atendimento, e “traduz a possibilidade de todos os integrantes da sociedade brasileira, atendidos os requisitos legais, filiarem-se ao sistema previdenciário. Nesse aspecto desenvolve o princípio da isonomia no âmbito previdenciário”[18].
Observa-se que, pelo princípio da universalidade de cobertura e do atendimento, a previdência social deve ser oportunizada a todos (seja de maneira obrigatória ou facultativa), em igualdade de condições. Entretanto, não é o que se observa quando se trata de alguns grupos minoritários, em especial, das pessoas trans.
Isso porque, em razão da discriminação e marginalização, muitos transgêneros sequer chegam ao mercado de trabalho e, consequentemente, não contribuem para previdência. Ou seja, a proteção previdenciária raramente as alcança.
Para aqueles transgêneros que conseguem transpor essa barreira e contribuem para previdência a ponto de obter uma aposentadoria, ao requerê-la, encontram despreparo no atendimento em razão de uma legislação previdenciária omissa quanto aos segurados transexuais.
A dúvida acerca da aposentadoria das pessoas trans é, especialmente, sobre qual regra deve ser aplicada ao segurado: a regra correspondente ao sexo biológico ou a regra correspondente ao gênero pelo qual a pessoa se identifica?
Há uma multiplicidade de possíveis critérios a serem adotados[19]: um deles seria aplicar a regra de aposentadoria correspondente ao gênero pelo qual o transgênero se identifica e se apresenta diante da sociedade. Uma outra hipótese seria adotar regras diferenciadas, levando em consideração o tempo vivido conforme o gênero biológico e o período vivido de acordo com o gênero pelo qual a pessoa se identifica. É o que defende, por exemplo, Fernando Machado, na sua obra “Aposentadoria da pessoa transexual: aposentadoria por tempo de contribuição e por idade nos casos de mudança de sexo”[20].
Todavia, este segundo critério encontra alguns empecilhos, como a dificuldade de se determinar uma data para constatação da transexualidade, haja vista que não se exige a cirurgia de redesignação sexual para caracterização da transexualidade, conforme já decidiu o STF, no julgamento da ADI 4275[21]. Além disso, a definição do gênero é um processo extenso de caráter subjetivo, sendo difícil a definição de uma data singular.
De qualquer modo, fato é que essa obscuridade tem ferido não apenas o direito à previdência social das pessoas trans, mas também seus direitos da personalidade e o próprio princípio da dignidade da pessoa humana.
Cumpre mencionar o caso de um servidor público trans que deu entrada em seu pedido de aposentadoria perante a São Paulo Previdência (SPPREV), em 2019. Conforme o regramento interno do regime próprio, passados três meses do requerimento da aposentadoria, o servidor poderia aguardar em casa a decisão, contudo, a SPPREV indeferiu temporariamente o pedido de aposentadoria por não saber qual regra se aplicaria ao caso, a dos homens ou das mulheres, fazendo com que ele tivesse que voltar ao trabalho[22].
Neste aspecto, a omissão legislativa acaba se tornando um grande empecilho na efetivação do direito, uma vez que o INSS, e até mesmo outras autarquias previdenciárias da União, Estados ou Municípios, representam a Administração Pública, a qual apenas pode fazer o que a lei determina e autoriza (princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal). Não obstante, a legalidade é uma característica cultural do Brasil, que cresceu nas bases do positivismo e dá extrema importância ao legislado.
Atualmente, o INSS possui sobre o tema apenas uma portaria assegurando o direito de escolha de tratamento nominal, com adoção do nome social (Portaria MPS nº 1.945 de 30 de maio de 2023)[23]. Contudo, tal regulamentação não traz previsões sobre a questão dos benefícios propriamente dita, nem as formas de aplicação e instrumentalização das mudanças quanto ao nome social.
A inexistência de legislação específica sobre o tema faz com que os segurados trans precisem recorrer ao Judiciário para ter seus pleitos atendidos. Entretanto, o próprio Judiciário não tem posicionamento pacífico sobre o assunto. A jurisprudência é escassa, causando ainda mais insegurança jurídica.
4 O PODER JUDICIÁRIO E A (IN)EFETIVIDADE DOS DIREITOS DAS PESSOAS TRANS
4.1 A Atuação do Poder Judiciário na Causa Trans
O Poder Judiciário tem saído em defesa da população LGBTQIAP+ nos últimos anos, havendo decisões relevantes a serem destacadas, como a proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132[24] que reconheceu a união estável homoafetiva e, consequentemente, o direito à pensão por morte advinda dessa união.
Referidos julgados trouxeram verdadeira mudança de paradigma, eis que equipararam a união estável homoafetiva à heteroafetiva, estabelecendo que ambas merecem a mesma proteção legal.
O entendimento firmado reconheceu o direito à intimidade e à liberdade sexual como cláusulas pétreas, prevalecendo o direito à busca pela felicidade e a proibição do preconceito. Além disso, restou esclarecido que o conceito de família não pode ser interpretado de forma reducionista, não se limitando a casais heterossexuais.
Merece destaque também a Resolução 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)[25], que proibiu as autoridades de recusarem a habilitação, celebração de casamento civil ou a conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.
Quanto à transgeneridade propriamente dita, cumpre mencionar o julgamento da ADI 4275/DF e do Tema 761 pelo STF, Leading Case RE 670422, que possibilitou à pessoa trans alterar o gênero no assento de registro civil sem necessidade de cirurgia de redesignação do sexo[26].
Esta decisão representa um enorme avanço e uma conquista para os direitos da população transexual, uma vez que, antes da questão ser decidida, era necessário que as pessoas trans recorressem ao Poder Judiciário para conseguirem alterar o registro civil, enfrentando uma morosa e burocrática batalha judicial.
Posteriormente, em 2019, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26[27], ocasião em que a homofobia e transfobia foram criminalizadas, equiparadas ao crime de racismo (com aplicação da Lei nº 7.716/1989). A decisão do STF buscou tornar efetiva a prevenção e repressão da violência sexual e de gênero, que até então, não tinha amparo legal em razão da inércia injustificável do Poder Público.
Assim, até que sobrevenha lei punindo condutas homofóbicas e transfóbicas, de aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero, tais ações serão equiparadas e punidas como expressões de racismo.
O STF também julgou favoravelmente às pessoas trans ao permitir que presidiárias trans ou travestis optem por cumprir pena em presídio feminino ou masculino[28].
E por último, deve-se mencionar a decisão da 6ª Turma do STJ[29], que aplicou a Lei Maria da Penha a uma mulher trans, concedendo-lhe as medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei 11.340/2006, com base na Recomendação 128 do CNJ[30].
A defesa dos direitos das pessoas trans no Poder Judiciário ganha cada vez mais destaque, haja vista a omissão legislativa existente no país sobre essas pautas. Os avanços jurisprudenciais citados, fruto de uma atuação contra majoritária do Judiciário, têm extrema relevância diante de um Congresso Nacional conservador.
Não é diferente na seara previdenciária: atualmente, diante da omissão legislativa sobre o tema, cabe ao Poder Judiciário solucionar questões relativas aos direitos previdenciários das pessoas trans.
Para exemplificar, vale mencionar o julgado da 11ª Turma Recursal de São Paulo, do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região (Recurso Inominado nº 00040682720174036321), que aplicou a uma mulher trans a regra de aposentadoria da mulher, em consonância com sua identidade de gênero[31].
Tal julgado não tem efeito vinculante, pois não se trata ainda de tema repetitivo e nem foi decidido por um Tribunal Superior. Todavia, muito embora se trate de um caso pontual, este tem grande valia diante do hiato legislativo sobre o assunto, e considerando que não há muitas decisões judiciais específicas sobre o direito das pessoas trans à previdência social em específico como irão exercitar o seu direito à aposentadoria.
A inexistência de grande demanda judicial sobre o tema não ocorre tão somente porque as pessoas trans são uma minoria, ou porque se trata de uma discussão recente, ainda pouco judicializada, mas também se deve ao fato de que as pessoas trans por, muitas vezes, exerceram atividades informais encontram empecilho no ingresso à previdência social e, inclusive, no próprio direito de acesso à justiça.
4.2 Marginalização da Pessoa Trans e Dificuldade de Acesso ao Poder Judiciário
O problema de efetivação dos direitos das pessoas trans tem raízes profundas. Prova disso é que, em plena sociedade pós-moderna os transgêneros ainda têm sua dignidade negada, sendo nulo o tratamento concebido pelo direito previdenciário a esta parcela da população, mesmo diante de tantas propostas legislativas e reformas[32].
Mesmo após a ascensão do tema na sociedade e as importantes decisões judiciais já citadas, a população trans encontra-se invisível aos olhos da sociedade, de modo que as lacunas legislativas, aliadas à elevada discriminação, geram inúmeras barreiras sociais.
O Brasil apresenta dados alarmantes sobre a transfobia: essa violência costuma iniciar dentro do ambiente familiar: de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), componente do Ministério da Saúde, entre 2014 e 2017, 49% das agressões contra mulheres trans e travestis ocorreram na residência das vítimas[33].
Segundo dados da TGEU (Transgender Europe)[34], o Brasil lidera o ranking de assassinato de pessoas trans no mundo. Muito embora tenha ocorrido uma queda em 2022, o número de assassinatos foi 126% maior que o contabilizado em 2008, no início das pesquisas.
De acordo com o Dossiê Assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2022[35], os homicídios têm crescido entre jovens, inclusive menores de idade. “Dentre as pessoas trans assassinadas em 2022, 89% delas tinham entre 15 e 39 anos. A idade média das vítimas foi de 29,2 anos”.
Diante desses dados, tem-se que a expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos[36].
Assim, a realidade enfrentada pelas pessoas trans evidenciam uma vida de violência, discriminação, falta de oportunidades e intensa desigualdade social, inviabilizando a efetivação dos direitos sociais por qualquer via. A maioria dos transgêneros não têm acesso sequer ao mínimo existencial, de modo que a proteção previdenciária e nem mesmo o acesso à justiça não os alcança.
5 TRANSGENERIDADE E ACESSO À JUSTIÇA NA VISÃO DE BOAVENTURA DE SOUZA SANTOS
5.1 Direito Emancipatório: Transgêneros Compõem Minoria Não Emancipada
Diante das alarmantes estatísticas que expõem o panorama das pessoas trans no Brasil, é possível associar esta realidade à teoria de Boaventura de Souza Santos, exposta no artigo “Poderá o direito ser emancipatório?”[37].
Para o professor, vivemos atualmente no que ele chama de “fascismo social”. Não se trata do regime político vivenciado durante a Segunda Guerra Mundial, mas sim, de um regime social capaz de banalizar a democracia em prol do capitalismo. Nas palavras do autor:
(...) o fascismo social é um regime caracterizado por relações sociais e experiências de vida vividos debaixo de relações de poder e de troca extremamente desiguais, que conduzem a formas de exclusão particularmente severas e potencialmente irreversíveis. As formas de exclusão referidas existem tanto no interior das sociedades nacionais (o Sul interior) como nas relações entre países (o Sul global). A qualidade das sociabilidades que as sociedades permitem aos seus membros depende do peso relativo do fascismo social na constelação dos diferentes regimes sociais nelas presentes, o mesmo podendo dizer-se das relações entre países[38].
Segundo Boaventura, a exclusão causada pelo fascismo social faz surgir três tipos de sociedade civil: a íntima, a estranha e a incivil. A sociedade civil íntima é a comunidade dominante com acesso a recursos estatais ou públicos; abarca indivíduos e grupos sociais que possuem uma hiper inclusão social, desfrutando de todos os direitos, político-civis, socioeconômicos e culturais. A sociedade civil estranha, por sua vez, é o grupo intermediário, em que há um misto de inclusão e exclusão social, isto é; há uma baixa ou moderada inclusão social, e uma exclusão atenuada por algumas redes de segurança não irreversíveis. Já a sociedade civil incivil corresponde ao grupo totalmente excluído, composto por pessoas consideradas invisíveis, que não possuem expectativas estabilizadas, nem qualquer direito na prática[39].
Neste ponto, vislumbra-se um crescimento exponencial da “sociedade civil incivil”, uma vez que “os discursos e as práticas político-jurídicas permitidos pela globalização neoliberal revelam-se incapazes de enfrentar o fascismo social”[40].
É exatamente o que acontece com as pessoas trans no Brasil: os transgêneros fazem parte do que Boaventura de Souza Santos denomina de sociedade civil incivil, um grupo invisibilizado que vive à margem da sociedade, uma minoria não emancipada, sem autonomia e, consequentemente, sem direitos.
O discurso de ódio e a violência e a marginalização da população trans também pode ser entendida a partir das ideias de Achille Mbembe, através do que ele denomina de necropolítica, “formas contemporâneas que subjugam a vida ao poder da morte”[41].
Mbembe entende que, na necropolítica, o próprio Estado, com base em sua soberania, possibilita a morte de determinado grupo, na medida em que não direciona a tais grupos a devida proteção, permitindo a violência e discriminação desta minoria.
Ora, se direitos basilares como à saúde, educação, moradia, não conseguem ser implementados ao grupo trans, quiçá o direito à previdência social, cujo sistema exige contributividade, advinda, principalmente, da inclusão no mercado de trabalho.
Não havendo proteção estatal às pessoas trans e estando elas inseridas na “sociedade civil incivil”, a possibilidade de efetivação de seus direitos se torna diminuta, inclusive por meio do Judiciário, não apenas em razão da falta de acesso e conhecimento, mas também devido à problemas estruturais e específicos deste poder. Razão pela qual diante da omissão legislativa deve o Poder Judiciário palmilhar como e com a adoção de quais requisitos deve a pessoa trans exercer o seu direito à aposentadoria.
5.2 Os Percalços do Poder Judiciário
Diante do cenário de marginalização da população trans e da completa ausência de proteção social no âmbito legislativo, não há ao transgênero outra alternativa, senão recorrer ao Poder Judiciário para garantia de seus direitos. Neste momento, inicia-se outra batalha, na medida em que o Poder Judiciário também possui suas incorreções, seja em razão do tempo de duração dos processos, seja em razão da insegurança causada pelo risco de se obter decisões conflituosas.
Muito embora a Constituição Federal consagre os princípios do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, observa-se no Poder Judiciário uma rivalidade de uso, intimamente ligada à limitação de recursos financeiros. Sobre o tema, assevera Luiz Fux:
(...) a questão da rivalidade de uso está intimamente ligada a limitação financeira do Poder Judiciário, que dispõe de recursos finitos que não permitem expandir sua capacidade instalada de forma proporcional ao aumento da demanda por litigância. Isso faz com que o ajuizamento de cada novo processo reduza a capacidade de processamento e julgamento dos órgãos judiciários, tanto dos novos quanto dos antigos em observância ao princípio constitucional da duração razoável, causando, assim, uma perda gradativa da eficiência da prestação jurisdicional, verificável pelo aumento da taxa de congestionamento, índice de periodicidade semestral criado pelo CNJ para medir a efetividade de um tribunal no período[42].
De acordo com as estatísticas do “Justiça em Números 2023”, apresentados pelo CNJ[43], o “Poder Judiciário finalizou o ano de 2022 com 81,4 milhões de processos em tramitação, aguardando alguma solução definitiva”. Destes, mais da metade desses processos (52,3%) estavam na fase de execução.
No tocante ao acesso à justiça, a cada mil habitantes, 127 ingressaram com uma ação judicial no ano de 2022, resultando em um aumento de 7,4% em relação a 2021[44].
Os dados demonstram um alto índice de congestionamento do Judiciário e, consequentemente, uma elevada morosidade, fator que compromete a efetividade e a qualidade da prestação jurisdicional.
Trata-se de um problema de oferta e demanda. A litigiosidade e a morosidade que assolam o Judiciário geram um efeito regressivo ao acesso à justiça, uma vez que cada vez menos pessoas conseguirão dispor de recursos para enfrentar processos judiciais tão longos, beneficiando aqueles litigantes interessados na protelação da decisão judicial, desencorajando quem realmente precisa de uma decisão judicial para solucionar conflitos legítimos[45].
A própria independência decisória dos magistrados pode dificultar a consolidação de jurisprudência e acarretar a sobreutilização do Poder Judiciário, causando ainda mais insegurança jurídica[46].
Assim, conquanto o Poder Judiciário consista, atualmente, em uma ferramenta imprescindível para solução de conflitos envolvendo direitos das pessoas trans (especialmente relacionados à previdência social), seus problemas relacionados a morosidade e insegurança jurídica demonstram que tal poder não supre a necessidade de regulamentação legal do tema, sendo insuficiente para a resolução da questão.
5.3 O Acesso à Justiça é Solução ou Utopia?
Diante do cenário atual, discute-se se há soluções palpáveis para o problema: como fazer que direitos sociais basilares e, principalmente, o direito à previdência social chegue até grupos minoritários, como o da população trans?
A omissão legislativa, fruto da ineficácia do Poder Legislativo, leva a crer que a solução mais tangível é se valer do Poder Judiciário. Ora, é inegável que o Poder Judiciário consiste em importante instrumento de efetivação de direitos, já tendo atuado desta maneira em favor das pessoas trans e podendo, assim, ser usado para assegurar a essas pessoas o direito à previdência social.
Entretanto, os dados do Judiciário apresentados ano a ano demonstram que socorrer-se a ele não é suficiente. O acesso à justiça não é um direito infalível, ao contrário; a justiça tem se tornado intrincada, e demasiadamente morosa, a ponto dos direitos buscados se tornarem ineficazes.
Precipuamente, é inegável a necessidade de se investir em políticas públicas focadas na população trans, visando combater a transfobia e inserir esse grupo de pessoas no mercado de trabalho formal, para que possam ingressar o regime geral de previdência social.
Para que as ações estatais sejam eficazes, imprescindível aprofundar o conhecimento sobre a transexualidade, mediante pesquisas sobre expectativa de vida, índices de alfabetização, empregabilidade, etc.
Tais medidas não refletiriam apenas no direitos das pessoas trans à previdência social, mas também no seu próprio direito de acesso à justiça: a diminuição da violência contra transgêneros, bem como a criação e efetivação de políticas públicas com escopo de levar a eles dignidade, por meio do acolhimento, educação e inserção no mercado de trabalho, levariam à uma maior inclusão dessas pessoas na sociedade e, consequentemente, ao conhecimento de seus próprios direitos e fomento do acesso à justiça.
Assim como diz Boaventura de Souza Santos, o combate à exclusão social deve ser o principal objetivo do Estado. Para atingi-lo, o autor se vale do movimento zapatista e desenvolve sua teoria em defesa de políticas de globalização contra hegemônica e de cosmopolitismo subalterno, para promoção da inclusão social.
Neste ínterim, Boaventura de Souza Santos defende a mobilização política, reivindicações e até mesmo a via da rebelião para o alcance da inclusão social
Mas além disso, também é necessário socorrer-se do Poder Judiciário com um olhar mais abrangente. É necessário que o próprio Judiciário reconheça que o direito está estabelecido com base em uma racionalidade e soberania de poder que divide quais vidas merecem ou não ser vividas, conforme dispõe Achille Mbembe[47].
Ora, o Poder Judiciário atingiu grande protagonismo nos últimos anos, e por se tratar de um dos pilares da democracia, sua análise é de interesse de toda sociedade, merecendo uma abordagem interdisciplinar e abrangente.
Como forma de contenção da litigiosidade e morosidade, algumas medidas já estão sendo adotadas, como, por exemplo, o desenvolvimento dos meios alternativos de solução de conflitos. A exposição dos dados e estatísticas do Poder Judiciário, assim como o controle administrativo e correcional dos Tribunais exercido pelo Conselho Nacional de Justiça auxiliaram na melhora e fomento do Poder Judiciário.
Ademais, também é preciso “maior transparência na elaboração e na apresentação do orçamento à sociedade e melhor controle em sua execução poderiam impor ao Judiciário maior grau de autocontenção”[48].
Destarte, por mais importante que seja o papel exercido pelo Judiciário atualmente, não se pode olvidar que é essencial o implemento dessas e outras medidas para seu crescimento e garantia do acesso à justiça, inclusive para as pessoas trans, as quais também não dispensam a necessidade de atuação estatal e implementação de ações afirmativas de inclusão, o que fomentaria não apenas o direito ao acesso à justiça, mas, principalmente, o próprio direito à previdência social.
Outrossim, a regulamentação legal do tema é imprescindível, até porque a omissão legislativa causa um abalo de confiança por parte dos segurados, favorecendo a informalidade e comprometendo o sistema como um todo. É urgente que a legislação previdenciária traga previsões concretas, desde a retificação do cadastro da pessoa trans nos sistemas governamentais, até as normas para concessão dos benefícios, reconhecendo que o transgênero exerça seus direitos conforme as regras aplicáveis ao gênero pelo qual se identifica.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do presente estudo, evidenciou-se que a previdência social é um direito social e universal, cujo escopo é garantir a dignidade da pessoa humana por meio de benefícios previdenciários.
Entretanto, verifica-se que os regimes previdenciários existentes no país não abarcam nem estão preparados para atender e amparar os trangêneros, já que não existe regulamentação legal específica do tema.
A Portaria MPS nº 1.945 de 30 de maio de 2023 apenas assegura aos transgêneros o direito à escolha de tratamento nominal, podendo eles fazerem a modificação de seu cadastro perante os agentes públicos, mas sem detalhes sobre como se dará a retificação do cadastro. Também não há previsão sobre os benefícios e seus respectivos requisitos, fazendo com que as pessoas trans tenham que procurar o Poder Judiciário para o reconhecimento de seus direitos.
Todavia, o Poder Judiciário, muito embora consista em uma ferramenta de efetivação de direitos, não é solução infalível para o impasse, uma vez que este poder também enfrenta problemas que obstaculizam o acesso à justiça e, consequentemente, o alcance dos direitos fundamentais.
Atualmente, o acesso à justiça tem ficado comprometido diante da exacerbada litigiosidade, tornando as demandas judiciais cada vez mais morosas. Para além, conquanto existam ferramentas de uniformização dos julgados, há ainda o risco de decisões conflitantes e insegurança jurídica, especialmente para matérias que ainda não repercutiram notoriamente nos Tribunais Superiores, como o assunto em tela, cuja legislação previdenciária não oferece qualquer respaldo.
Mas há ainda questões que antecedem as discussões envolvendo os Poderes Legislativo e Judiciário: a discriminação e a transfobia fazem com que os transgêneros vivam, nas palavras de Boaventura de Souza Santos, em uma “sociedade civil incivil”. A marginalização das pessoas trans acaba por distanciá-las do mercado de trabalho e da proteção previdenciária, pois grande parte delas permanecem desempregadas ou na informalidade, o que dificulta o acesso ao regime geral de previdência social, que é contributivo.
Não bastasse isso, muitos transgêneros sequer atingem os requisitos para concessão dos benefícios, como a idade mínima para aposentadorias, em razão da baixa expectativa de vida.
Assim, a concretização do direito à previdência social e de outros direitos fundamentais às pessoas trans é um trabalho complexo. Para diminuição do problema, não basta apenas a proatividade do Poder Legislativo visando regulamentar o assunto, pois, dada conjuntura em que as pessoas trans estão inseridas, é imprescindível uma atuação do conjunta com o Poder Executivo para implementação de ações públicas assertivas.
Tais ações envolvem o combate à transfobia de forma mais resoluta, aliado a programas de inclusão, como, por exemplo, políticas de incentivo a empresas para contratação das pessoas trans e a efetivação de parcerias institucionais, em atendimento ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 17 e, consequentemente, ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 10 (redução das desiguais), ambos da Organização das Nações Unidas (ONU).
Paralelamente a isso, é necessário um olhar mais atento ao Judiciário, tendo em vista os obstáculos na efetivação do acesso à justiça que precisam ser contornados.
Portanto, a efetivação do acesso à justiça e dos direitos sociais básicos das pessoas trans será resultado de um processo longo, cujo êxito dependerá da atuação persistente e conjunta dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário.
7 referências
Balera, Wagner, Sistema de seguridade social, 8. ed., São Paulo, TRr, 2016.
Barros, Alerrandre, “Homens ganharam quase 30% a mais que as mulheres em 2019”, Agência IBGE Notícias, Editoria de Estatísticas Sociais, 2020, Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27598-homens-ganharam-quase-30-a-mais-que-as-mulheres-em-2019>. Acesso em: 26 mai. 2024.
Barroso, Luís Roberto, “A judicialização da vida no Brasil: nem tudo pode ser resolvido nos Tribunais” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1. ed., Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021.
Benevides, Bruna G., Dossiê assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2022, Brasília, ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), 2023.
Boueri, Aline Gatto, “Maioria das agressões contra mulheres trans e travestis se dá em casa”, Carta Capital, Diversidade, 2019, Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/diversidade/maioria-das-agressoes-contra-mulheres-trans-e-travestis-se-da-em-casa/>. Acesso em: 06 abr. 2024.
Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Brasília, Senado Federal, 1988, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 mar. 2024.
Brasil, Portaria MPS nº 1.945, de 30 de maio de 2023, Brasília, Ministério da Previdência Social, 2023, Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mps-n-1.945-de-30-de-maio-de-2023-487207477>. Acesso em: 05 ago. 2024.
Brasil, Resolução 175, de 14 de maio de 2013, “Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo”, Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754>. Acesso em: 20 mar. 2024.
Brasil, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, “Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4275/DF”, Relator: Min. Marco Aurélio, julgada em 01 mar. 2018, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2691371>. Acesso em 20 mar. 2024.
Brasil, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, “Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26”, Relator: Min. Celso de Melo, julgada em 13 jun. de 2019, Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22ADO%2026%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>. Acesso em: 20 mar. 2024.
Brasil, Supremo Tribunal Federal, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132”, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ayres Britto, julgada em 05 mai. 2011, Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: 20 mar. 2024.
Brasil, Supremo Tribunal Federal, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 527”, Tribunal Pleno, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, julgamento suspenso em 15 set. de 2021, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5496473>. Acesso em: 25 mai. 2024.
Brasil, Supremo Tribunal Federal, “Recurso Extraordinário n. 670422”, Tribunal Pleno, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 15 ago. de 2018, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4192182>. Acesso em: 20 mar. 2024.
Bunchaft, Maria Eugenia, “A efetivação dos direitos de transsexuais na jurisprudência do STJ: uma reflexão sobre os desafios da despatologização à luz do diálogo Honneth-Fraser” in streck, Lênio Luiz, rocha, Leonel Severo, engelmann, Wilson, orgs., Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2014.
Castro, Carlos Alberto Pereira de, lazzari, João Batista, Manual de Direito Previdenciário, 25. ed., Rio de Janeiro, Editora Forense, 2022, versão do kindle.
Conselho nacional de justiça (cnj), Justiça em Números 2023, Brasília, CNJ, 2023.
Conselho nacional de justiça (cnj), Recomendação nº 128, de 15 de fevereiro de 2022, “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero”, Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original18063720220217620e8ead8fae2.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2024.
Cruz, Adriana, “Desafios para um Judiciário inclusivo” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1ª ed., Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021.
Folmann, Melissa, “Prefácio” in mauss, Adriano, motta, Marianna, coord., Direito previdenciário e a população LGBTI, Curitiba, Juruá Editora, 2018, pp. 9-11.
Fux, Luiz, “Uma visão otimista da Justiça brasileira, sob a perspectiva econômica” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1. ed., Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021.
Horvath júnior, Miguel, Direito Previdenciário, 13. ed., São Paulo, Rideel, 2022.
Lisboa, Marcos, yeung, Luciana, azevedo, Paulo Furquim de, “Entre intenção e consequência: os efeitos econômicos do Judiciário no Brasil” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1ª ed., Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021.
Machado, Fernando, Aposentadoria da pessoa transexual: aposentadoria por tempo de contribuição e por idade nos casos de mudança de sexo, Curitiba, Juruá, 2019.
Mauss, Adriano, motta, Marianna, coords, Direito previdenciário e a população LGBTI, Curitiba, Juruá Editora, 2018.
Mbembe, Achille, Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte, Trad. Renata Santini, São Paulo, N-1 edições, 2021.
Melo neto, Euvaldo Leal de, souza, Mariana Dias Barreto de, horvath júnior, Miguel, “Direitos previdenciários do RGPS para os transgêneros e transexuais: uma análise da ausência de legislação previdenciária específica frente à mudança de gênero”, Revista Brasileira de Direito Social, vol. 5, n. 2, Belo Horizonte, Editora IEPREV, 2018, pp. 18-32.
Moutinho, Cristiane dos Santos, “Apresentação – Tábuas Completas de Mortalidade 2022”, Agência IBGE Notícias, Editoria de Estatísticas Sociais, 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/d1328b48a4e5ad0e550379cc27b6884a.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2024.
Neto, João, “Mulheres dedicam quase o dobro do tempo dos homens em tarefas domésticas”, Agência IBGE Notícias, Editoria de Estatísticas Sociais, 2019, Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas-domesticas>. Acesso em: 24 mai. 2024.
Pimentel, Silvia, “Direito e gênero” in pimentel, Silvia, coord., pereira, Beatriz, melo, Monica de, orgs., Direito, discriminação de gênero e igualdade, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2017.
Reis, Vivian, “São Paulo suspende 1º pedido de aposentadoria de pessoa trans no estado por ‘dúvidas jurídicas’”, G1 São Paulo, 2020, Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/29/sao-paulo-suspende-1o-pedido-de-aposentadoria-de-pessoa-trans-no-estado-por-duvidas-juridicas.ghtml>. Acesso em: 20 mar. 2024.
Sadek, Maria Tereza et al, coord., O judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil. 1ª ed., Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021.
Santos, Boaventura de Souza, “Poderá o direito ser emancipatório?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 65, 2003, pp. 3-76.
São paulo, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 11ª Turma Recursal, “Recurso Inominado n. 00040682720174036321”, Relator: Juiz Federal Paulo Cezar Neves Junior, julgado em 26 mar. de 2020, Disponível em: <https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/827732394/recurso-inominado-ri-40682720174036321-sp/inteiro-teor-827732651>. Acesso em: 06 abr. 2024.
Secretaria de comunicação social, “Sexta Turma estendeu a proteção da Lei Maria da Penha para mulheres trans”, Superior Tribunal de Justiça, 29 jan. 2023, Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/29012023-Sexta-Turma-estendeu-protecao-da-Lei-Maria-da-Penha-para-mulheres-trans.aspx#:~:text=Sexta%20Turma%20estendeu%20prote%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%20Maria%20da%20Penha%20para%20mulheres%20trans&text=No%20primeiro%20semestre%20de%202022,ou%20familiar%20contra%20mulheres%20transg%C3%AAnero> Acesso em: 20 mar. 2024.
Serau junior, Marco Aurélio, “Direitos previdenciários das pessoas transgênero na perspectiva dos direitos fundamentais” in mauss, Adriano, motta, Marianna, coord., Direito previdenciário e a população LGBTI, Curitiba, Juruá Editora, 2018.
SIlva, José Afonso da, “A dignidade da pessoa humana com valor supremo da democracia”. Revista de Direito Administrativo, vol. 212, 1998, pp. 89–94.
[1] Mestranda em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), CEP 05014-901, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil; bolsista pela CAPES; Especialista em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Minas); Advogada; Professora assistente voluntária no curso de Graduação em Direito da PUC/SP; e-mail laislfrancelino@gmail.com. https://orcid.org/0009-0003-7796-8554
[2] Livre Docente em Direito Previdenciário, Doutor em Direito das Relações Sociais e Mestre em Direito Previdenciário, todos pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), CEP 05014-901, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil; Especialista em Direito Processual Civil pela UniFMU; Professor da PUC-SP; Autor de obras jurídicas; e-mail: miguelhorvathjr@uol.com.br. https://orcid.org/0000-0001-6827-7135
[3] Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Senado Federal, 1988, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 mar. 2024.)
[4] Horvath júnior, Miguel, Direito Previdenciário, 13ª ed., São Paulo, Rideel, 2022, p. 156.
[5] Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Senado Federal, 1988, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[6] Silva, José Afonso da, “A dignidade da pessoa humana com valor supremo da democracia”. Revista de Direito Administrativo, vol. 212, 1998, p. 91.
[7] Balera, Wagner, Sistema de seguridade social, 8ª ed., São Paulo, TRr, 2016, p. 32.
[8] Balera, Wagner, Sistema de seguridade social, 8ª ed., São Paulo, TRr, 2016, p. 33.
[9] Horvath júnior, Miguel, Direito Previdenciário, 13ª ed., São Paulo, Rideel, 2022, p. 154.
[10] Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, Brasília, Senado Federal, 1988, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[11] Serau junior, Marco Aurélio, “Direitos previdenciários das pessoas transgênero na perspectiva dos direitos fundamentais” in mauss, Adriano, motta, Marianna, coord., Direito previdenciário e a população LGBTI, Curitiba, Juruá Editora, 2018, p. 17-36.
[12] Pimentel, Silvia, “Direito e gênero” in pimentel, Silvia, coord., pereira, Beatriz, melo, Monica de, orgs., Direito, discriminação de gênero e igualdade, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2017, p. 10.
[13] Barros, Alerrandre, “Homens ganharam quase 30% a mais que as mulheres em 2019”, Agência IBGE Notícias, Editoria de Estatísticas Sociais, 2020, Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/27598-homens-ganharam-quase-30-a-mais-que-as-mulheres-em-2019>. Acesso em: 26 mai. 2024.
[14] Neto, João, “Mulheres dedicam quase o dobro do tempo dos homens em tarefas domésticas”, Agência IBGE Notícias, Editoria de Estatísticas Sociais, 2019, Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/24267-mulheres-dedicam-quase-o-dobro-do-tempo-dos-homens-em-tarefas-domesticas>. Acesso em: 24 mai. 2024.
[15] Moutinho, Cristiane dos Santos, “Apresentação – Tábuas Completas de Mortalidade 2022”, Agência IBGE Notícias, Editoria de Estatísticas Sociais, 2022. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/d1328b48a4e5ad0e550379cc27b6884a.pdf>. Acesso em: 24 mai. 2024.
[16] Bunchaft, Maria Eugenia, “A efetivação dos direitos de transsexuais na jurisprudência do STJ: uma reflexão sobre os desafios da despatologização à luz do diálogo Honneth-Fraser” in streck, Lênio Luiz, rocha, Leonel Severo, engelmann, Wilson, orgs., Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2014, p. 228.
[17] Horvath júnior, Miguel, Direito Previdenciário, 13ª ed., São Paulo, Rideel, 2022, pp. 74-75.
[18] Horvath júnior, Miguel, Direito Previdenciário, 13ª ed., São Paulo, Rideel, 2022, p. 75.
[19] Melo neto, Euvaldo Leal de, souza, Mariana Dias Barreto de, horvath júnior, Miguel, “Direitos previdenciários do RGPS para os transgêneros e transexuais: uma análise da ausência de legislação previdenciária específica frente à mudança de gênero”, Revista Brasileira de Direito Social, vol. 5, n. 2, Belo Horizonte, Editora IEPREV, 2018, pp. 27-28.
[20] Machado, Fernando, Aposentadoria da pessoa transexual: aposentadoria por tempo de contribuição e por idade nos casos de mudança de sexo, Curitiba, Juruá, 2019.
[21] Brasil, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, “Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4275/DF”, Relator: Min. Marco Aurélio, julgada em 01 mar. 2018, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2691371>. Acesso em 20 mar. 2024.
[22] Reis, Vivian, “São Paulo suspende 1º pedido de aposentadoria de pessoa trans no estado por ‘dúvidas jurídicas’”, G1 São Paulo, 2020, Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/29/sao-paulo-suspende-1o-pedido-de-aposentadoria-de-pessoa-trans-no-estado-por-duvidas-juridicas.ghtml>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[23] Brasil, Portaria MPS nº 1.945, de 30 de maio de 2023, Brasília, Ministério da Previdência Social, 2023, Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mps-n-1.945-de-30-de-maio-de-2023-487207477>. Acesso em: 05 ago. 2024.
[24] Brasil, Supremo Tribunal Federal, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132”, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ayres Britto, julgada em 05 mai. 2011, Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[25] Brasil, Resolução 175, de 14 de maio de 2013, “Dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo”, Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1754>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[26] Brasil, Supremo Tribunal Federal, “Recurso Extraordinário n. 670422”, Tribunal Pleno, Relator: Min. Dias Toffoli, julgado em 15 ago. de 2018, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4192182>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[27] Brasil, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, “Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 26”, Relator: Min. Celso de Melo, julgada em 13 jun. de 2019, Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search?classeNumeroIncidente=%22ADO%2026%22&base=acordaos&sinonimo=true&plural=true&page=1&pageSize=10&sort=_score&sortBy=desc&isAdvanced=true>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[28] Brasil, Supremo Tribunal Federal, “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 527”, Tribunal Pleno, Relator: Min. Luís Roberto Barroso, julgamento suspenso em 15 set. de 2021, Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5496473>. Acesso em: 25 mai. 2024.
[29] Secretaria de comunicação social, “Sexta Turma estendeu a proteção da Lei Maria da Penha para mulheres trans”, Superior Tribunal de Justiça, 29 jan. 2023, Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/29012023-Sexta-Turma-estendeu-protecao-da-Lei-Maria-da-Penha-para-mulheres-trans.aspx#:~:text=Sexta%20Turma%20estendeu%20prote%C3%A7%C3%A3o%20da%20Lei%20Maria%20da%20Penha%20para%20mulheres%20trans&text=No%20primeiro%20semestre%20de%202022,ou%20familiar%20contra%20mulheres%20transg%C3%AAnero> Acesso em: 20 mar. 2024.
[30] Conselho nacional de justiça (cnj), Recomendação nº 128, de 15 de fevereiro de 2022, “Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero”, Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original18063720220217620e8ead8fae2.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2024.
[31] São paulo, Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 11ª Turma Recursal, “Recurso Inominado n. 00040682720174036321”, Relator: Juiz Federal Paulo Cezar Neves Junior, julgado em 26 mar. de 2020, Disponível em: <https://trf-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/827732394/recurso-inominado-ri-40682720174036321-sp/inteiro-teor-827732651>. Acesso em: 06 abr. 2024.
[32] Folmann, Melissa, “Prefácio” in mauss, Adriano, motta, Marianna, coord., Direito previdenciário e a população LGBTI, Curitiba, Juruá Editora, 2018, p. 10.
[33] Boueri, Aline Gatto, “Maioria das agressões contra mulheres trans e travestis se dá em casa”, Carta Capital, Diversidade, 2019, Disponível em: < https://www.cartacapital.com.br/diversidade/maioria-das-agressoes-contra-mulheres-trans-e-travestis-se-da-em-casa/>. Acesso em: 06 abr. 2024.
[34] Benevides, Bruna G., Dossiê assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2022, Brasília, ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), 2023, pp. 27-28.
[35] Benevides, Bruna G., Dossiê assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2022, Brasília, ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), 2023, p. 34.
[36] Benevides, Bruna G., Dossiê assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2022, Brasília, ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), 2023, p. 34.
[37] Santos, Boaventura de Souza, “Poderá o direito ser emancipatório?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 65, 2003.
[38] Santos, Boaventura de Souza, “Poderá o direito ser emancipatório?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 65, 2003, p. 24.
[39] Santos, Boaventura de Souza, “Poderá o direito ser emancipatório?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 65, 2003, p. 25.
[40] Santos, Boaventura de Souza, “Poderá o direito ser emancipatório?”, Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 65, 2003, p. 26.
[41] Mbembe, Achille, Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte, Trad. Renata Santini, São Paulo, N-1 edições, 2021, p. 71.
[42] Fux, Luiz, “Uma visão otimista da Justiça brasileira, sob a perspectiva econômica” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1ª ed., Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021, p. 223.
[43] Conselho nacional de justiça (cnj), Justiça em Números 2023, Brasília, CNJ, 2023, pp. 92-143.
[44] Conselho nacional de justiça (cnj), Justiça em Números 2023, Brasília, CNJ, 2023, p. 102.
[45] Lisboa, Marcos, yeung, Luciana, azevedo, Paulo Furquim de, “Entre intenção e consequência: os efeitos econômicos do Judiciário no Brasil” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1ª ed, Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021, pp. 269-271.
[46] Fux, Luiz, “Uma visão otimista da Justiça brasileira, sob a perspectiva econômica” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1ª ed, Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021, p. 227.
[47] Cruz, Adriana, “Desafios para um Judiciário inclusivo” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1ª ed., Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021, p. 174.
[48] Barroso, Luís Roberto, “A judicialização da vida no Brasil: nem tudo pode ser resolvido nos Tribunais” in sadek, Maria Tereza, bottini, Pierpaolo, khichfy, Raquel, renault, Sergio, orgs., O Judiciário do nosso tempo: grandes nomes escrevem sobre o desafio de fazer justiça no Brasil, 1ª ed, Rio de Janeiro, Globo Livros, 2021, p. 236.