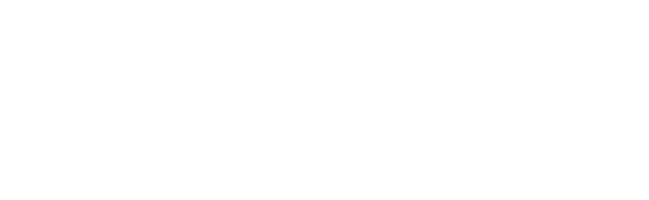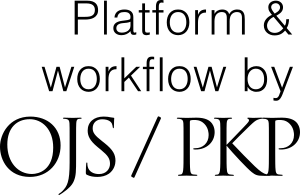A transação tributária como instrumento financeiro para viabilizar a prestação estatal dos direitos sociais
Tax transaction as a financial instrument to enable the state provision of social rights
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.27
Recebido/Received 16/01/2024 – Aprovado/Approved 09/12/2024
Flávio Couto Bernardes[1] – https://orcid.org/0000-0001-8180-0218
Jorge Flávio Santana Cruz[2] – https://orcid.org/0000-0002-7730-5617
Resumo
A transação é um instituto de direito tributário presente no Código Tributário Nacional – CTN desde sua origem, e não vinha sendo utilizada pelos entes políticos como um instrumento hábil de arrecadação e efetivação de políticas públicas. Após a Constituição Federal de 1988, o legislador criou mecanismos legais de controle das finanças e dos orçamentos públicos, mas, com o tempo, esses mecanismos foram enraizados na cultura jurídica de tal forma que engessaram a Administração Pública em lançar mão de meios legais existentes de solução de conflitos. O objetivo deste artigo é abordar a relevância do instituto da transação tributária como instrumento para incrementar a arrecadação pública e efetivar direitos sociais. A hipótese da pesquisa procura provar que a transação tributária não implica em renúncia de receitas e que os entes tributantes editaram suas leis visando ao aumento da arrecadação deixando de considerar a capacidade contributiva. O método de pesquisa é o hipotético-dedutivo centrado na abordagem qualitativa, na pesquisa bibliográfica realizada em livros, periódicos e pesquisas integradas a temática. Este estudo chegou à conclusão de que a União passou a utilizar o instituto com maior frequência, mas que os estados e municípios ainda resistem fundamentados no dogma da renúncia de receitas, prevalece o interesse do ente político na formação das regras e sem preocupação sobre a capacidade contributiva, por isso se torna necessário uma mudança legislativa mais intensa no sentido de aprimorar a utilização da transação tributária.
Palavras-chaves: Transação Tributária; Finanças Públicas; Direitos Sociais.
Abstract
The transaction is an institute of tax law present in the National Tax Code – CTN since its origin, and had not been used by political entities as a skillful instrument for collecting and implementing public policies. After the Federal Constitution of 1988, the legislator created legal mechanisms to control public finances and budgets, but, over time, these mechanisms became rooted in the legal culture in such a way that they constrained the Public Administration from using existing legal means of conflict resolution. The objective of this article is to address the relevance of the tax transaction institute as an instrument to increase public revenue and implement social rights. The research hypothesis seeks to prove that the tax transaction does not imply the renunciation of revenue and that taxing entities enacted their laws with the aim of increasing revenue, failing to consider contributory capacity. The research method is hypothetical-deductive, centered on a qualitative approach, on bibliographical research carried out in books, periodicals and research integrated into the theme. This study came to the conclusion that the Union started to use the institute more frequently, but that the states and municipalities still resist based on the dogma of revenue waiver, the interest of the political entity in the formation of rules prevails and without concern about the capacity contributory, which is why a more intense legislative change is necessary to improve the use of the tax transaction.
Keywords: Tax Transaction; Public Finance; Social Rights.
Sumário: 1. Introdução; 2. Breves comentários à vinculação entre tributação e a previsão orçamentária; 3. Desmistificando os conflitos entre a supremacia do interesse público e o instituto da transação tributária; 4. A transação tributária e a suposta renúncia de receitas; 5. Transação tributária como instrumento para viabilizar a arrecadação; 6. Conclusão; 7. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O avanço da globalização culminou na expansão e na consolidação do sistema capitalista, contribuindo para uma rápida transformação e maior integração mundial. Com o avanço dessas transformações, novas demandas surgiram nas sociedades, de forma acelerada, sendo que os orçamentos públicos não acompanharam o volume de recursos públicos necessários à presente realidade, ensejando déficits fiscais recorrentes e uma série de dificuldades para a efetivação dos direitos sociais.
Os estados precisam incrementar suas receitas para atender às demandas e aos anseios da sociedade. Os efeitos da globalização acabam atingindo os orçamentos das famílias e as atividades produtivas, ou seja, concorrem para aumentar a crise econômica.
Esse cenário em constante mutação exige que os administradores públicos tentem buscar alternativas para sanar o dilema entre a entrega das funções constitucionais sociais e o limite naturalmente existente para a obtenção da receita pública. Este trabalho parte da premissa de que a solução para a problemática vivida pelos administradores públicos pode ser encontrada, em parte, no próprio Direito Tributário.
O instituto da transação, previsto no Código Tributário Nacional – CTN, foi, durante muito tempo, pouco utilizado devido à forte influência da aplicação do princípio da indisponibilidade do interesse público e na crença da renúncia de receitas na cultura jurídica pátria. Após a Constituição de 1988 e a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000)[3], a doutrina enfatizou essas categorias em razão do histórico da gestão das finanças públicas. No entanto, com o passar dos anos, devido a uma maior exigência de se empregar nova dinâmica na geração de receitas, acabou de certa forma engessando a administração pública.
A transação tributária precisa ser desmistificada e apartada de fatores culturais limitadores da arrecadação para ser utilizada, em maior escala, por todos os entes tributantes, pois não colide com o princípio da indisponibilidade do interesse público, como também não implica renúncia de receita como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante dessa problemática, a hipótese da pesquisa procura provar que a transação tributária não implica em renúncia de receitas e que os entes tributantes editaram suas leis visando ao aumento da arrecadação, mas deixando de considerar a capacidade contributiva.
O método de pesquisa é o hipotético-dedutivo, centrado na abordagem qualitativa, na pesquisa bibliográfica realizada em livros, periódicos e pesquisas integradas à temática, no sentido de contribuir com reflexões visando a alteração nas legislações, viabilizando a adoção e a utilização do instituto da transação tributária como meio de incrementar a arrecadação e o desenvolvimento econômico e social do país. O resultado alcançado foi a constatação que a União Federal, após a Pandemia da Covid19, passou a utilizar o instituto com maior frequência, mas os estados e municípios ainda resistem fundamentados no dogma da renúncia de receitas, por isso se torna necessário fazer uma mudança legislativa mais intensa no sentido de ampliar e aprimorar a utilização da transação tributária; além disso, será investigado se os entes tributantes editaram suas leis apenas visando ao aumento da arrecadação deixando de considerar a capacidade contributiva dos contribuintes, em especial, o tratamento diferenciado e favorecido concedido às empresas optante pelo regime de tributação do Simples Nacional.
2 A RELAÇÃO ENTRE INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM O INSTITUITO DA TRANSAÇÃO
A abordagem sobre a transação tributária exige tecer algumas considerações sobre o paradigma da indisponibilidade do crédito tributário que contribuiu para perpetuar uma concepção equivocada e ultrapassada quanto aos critérios norteadores de sua negociação, inibindo a utilização deste instituto jurídico como instrumento moderno e eficaz de aprimoramento da arrecadação e, por conseguinte, possibilitando a destinação de recursos públicos para se efetivar o tão almejado avanço na fruição dos direitos sociais pelos cidadãos.
A tributação tem sido objeto de preocupação dos povos durante a evolução da humanidade. Segundo Becker[4], os tributos historicamente sempre foram manipulados pelos príncipes e assembleias, sem qualquer critério científico, visto que não se tinha conhecimento da Ciência das Finanças Públicas. Somente no início do Século XVIII, tornou-se possível ter noções embrionárias acerca de princípios de Finanças Públicas, porém, de natureza econômica e não jurídica, que só veio ganhar atenção no final do Século XIX.
De acordo com Becker[5], nesse período, grande parte das obras tributárias, que se afirmavam ser jurídicas, conviviam paralelamente com a ciência das finanças. Elas baseavam-se numa reunião de leis fiscais de pouca clareza à base de acórdãos contraditórios e sem consistência científica na argumentação jurídica.
Esse movimento histórico entre tributação e finanças sempre foi objeto de estudo, na academia. Segundo Parisi[6], desde as monarquias reais, parlamentares ou nas repúblicas, a prestação pecuniária teve papel fundamental nas sociedades, pois já se apresentava a consciência do perene dever de contribuir com o todo, o Estado e a coletividade.
Nas sociedades mais rudimentares a manutenção do Estado poderia ser realizada com o fornecimento de gênero alimentícios, parte da produção, ou moeda, mas o fato é que os tributos marcaram todas as formas de governo existentes na história. Logo, entende-se que a exigência de tributos da sociedade é uma medida legítima da Administração Pública no que tange à gestão de bens públicos, haja vista, ao menos em tese ou idealmente, que as receitas provenientes da arrecadação tributária são destinadas ao custeio das atividades do Estado desenvolvidas em prol da sociedade[7].
Para Abraham[8], no decurso do tempo o Estado desfrutou de incontáveis formas e características. Atualmente, pode-se afirmar que a sua estrutura ideal é a do Estado Democrático de Direito, fundado na vontade de todos os seus participantes, por meio do contrato social, subordinado a uma ordem jurídica (Constituição), que objetiva promover o bem de todos.
O Estado Democrático de Direito atual é concebido por um conjunto de regras jurídicas que criam as condições necessárias para a proteção do povo e a realização do bem comum. Existe, portanto, para atender às necessidades públicas de uma sociedade. Para realizar essas tarefas, o Estado depende de recursos financeiros, que advêm tanto do seu próprio patrimônio como da arrecadação decorrente das demais modalidades de receitas públicas[9].
De acordo com Parisi[10], anteriormente o Estado tinha absoluta liberdade para alocar as receitas da forma que lhe fosse mais conveniente, desde que preservasse um mínimo de garantias aos administrados, no entanto, essa realidade foi sendo modificada até atingir o estágio de ser obrigado a destinar parte das receitas públicas para fins específicos.
O constituinte de 1988 preocupou-se em dispor de um roteiro sobre a tributação e a destinação das receitas, encartando regras gerais no Texto Maior. Nesse sentido, Bernardes e Fonseca[11] lecionam que não há dúvida de que a Constituição é a estrutura normativa que, ao mesmo tempo, resulta da autonomia operativa do sistema jurídico, assegurando-lhe o seu fechamento e lhe permitindo filtrar, por meio de critérios próprios, os elementos que, oriundos de sistemas externos, terão validade no interior do Direito apenas mediatamente.
Segundo Bernardes e Fonseca[12]: “A Constituição da República de 1988, situada no ápice do sistema de proposições normativas que é o Direito, é a norma fundamental do sistema jurídico brasileiro em vigor. Além de assegurar o fechamento operativo deste, opera como critério unificador da ordem jurídica”.
Desse modo, o Texto Constitucional passou a delimitar o poder de tributar consolidado e definido nas normas de competências tributárias, a forma com que se opera a arrecadação e, ainda, a destinação das receitas tributárias aos cofres públicos. Em vista disso, as receitas públicas originárias e derivadas passaram a ser controladas na conformidade das disposições das normas do ordenamento jurídico dos países, tendo o seu emprego delimitado nos deveres estatais e finalidades estabelecidas em lei[13].
As crises sempre acompanharam a história do Brasil, mas, a partir da década de 1980 o país foi marcado por grandes desequilíbrios financeiros. Isto porque, sem o controle da atividade financeira e, respectivamente, da inflação, eram recorrentes os aumentos das taxas de juros, cuja instabilidade, consequentemente, acarretava o aumento da dívida externa e a desestabilidade fiscal.
Os recursos financeiros do Estado moderno são limitados e seu governante não pode gastá-los de forma descontrolada. As finanças públicas são regidas por normas que prezam pela justiça na arrecadação, eficiência na aplicação, transparência nas informações e rigor no controle das contas públicas. O Estado, como qualquer pessoa, precisa administrar seus gastos e saber se terá recursos financeiros suficientes para financiá-los, identificando a origem de suas receitas e toda a programação de despesas que irá realizar[14].
Era comum ouvir que no Brasil os recursos públicos sempre foram pessimamente geridos ensejando uma desconfiança com a gestão pública por força de práticas prejudiciais frequentemente efetivadas, em um passado próximo, por governantes e seus subordinados. O volumoso endividamento e a utilização da inflação como meio de financiar as despesas governamentais, com o aumento do custeio, sobretudo as despesas relacionadas com o funcionalismo em momentos eleitoreiros e em fins de mandatos, e a falta de racionalidade, de controle e de transparência na gestão dos recursos do Tesouro demandava uma mudança radical na administração pública no Brasil[15].
Segundo Bernardes[16], o descontrole das contas públicas é apresentado como causa mais ostensiva para que não se consiga atingir o crescimento econômico e, principalmente, a efetivação dos direitos sociais no Brasil. Por isso, é legítima a exigência do emprego das regras constitucionais vigentes e consagradas, como meio de modificar a observação das finanças públicas no Estado brasileiro.
A Lei de Responsabilidade Fiscal – LFR foi instituída para estabelecer um código de conduta aos gestores públicos, pautadas em padrões internacionais de boa governança. Essa Lei passou a determinar as diretrizes da atividade financeira do Estado[17].
A LRF chegou para nortear o administrador público que passou a ser compelido a agir de acordo com as diretrizes traçadas nas normas jurídicas, observando a ética e atendendo a uma gestão responsável (mesmo considerando os comandos dispostos no mesmo sentido na Constituição Federal), visando à preservação da coisa pública. Com a instituição dessa lei surgiu uma nova cultura na administração brasileira, lastreada no planejamento, na transparência, no controle e equilíbrio das contas públicas, com a imposição de limites para determinados gastos e para o endividamento[18].
A partir da LRF, busca-se conferir maior efetividade ao ciclo orçamentário por regular e incorporar novos institutos na Lei Orçamentária Anual – LOA[19] e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO[20], voltadas para o atingimento das metas estabelecidas e no plano plurianual. Foi imposta a cobrança de tributos constitucionalmente atribuídos aos entes federativos para garantir sua autonomia financeira e foram estabelecidas condições na concessão de benefícios, renúncias e desonerações fiscais. Obriga-se a indicar o impacto fiscal e a respectiva fonte de recursos para financiar aumentos de gastos de caráter continuado, especialmente quando se refere a despesas de pessoal. Fixam-se limites para a ampliação do crédito público com vistas ao controle e à redução dos níveis de endividamento. E criam-se sanções de diversas naturezas em caso de descumprimento das normas financeiras[21].
Após essas breves considerações sobre a vinculação entre tributação e a previsão orçamentária, no capítulo seguinte, será abordada a desmistificação dos conflitos entre a supremacia do interesse público e o instituto da transação tributária.
3 DESMISTIFICANDO OS CONFLITOS ENTRE A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E O INSTITUTO DA TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA
Considera-se a atividade financeira como o conjunto de ações do Estado que tem como objetivo a “[...] percepção de receitas e a realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas”[22]. Nesse sentido, é essencial o financiamento dos objetivos políticos e econômicos do Estado para que esses sejam implantados por intermédio da arrecadação de impostos, taxas e contribuições.
A tributação é uma das fontes de sustentação do Estado, mas no Brasil dos dias atuais, os tributos devem ser instituídos e arrecadados sem ferir a harmonia entre os direitos do Estado e os direitos do cidadão. Não é porque o Estado precisa de recursos financeiros para se manter, que os contribuintes podem ter seus direitos afrontados. Constitucionalmente, um tributo não pode ter outra finalidade senão o de aparelhar o Estado a alcançar o bem comum[23].
Para Mello[24], o interesse público deve ser conceituado como aquele resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da sociedade e pelo simples fato de o serem, ou seja, buscou-se firmar que o interesse público é uma faceta dos interesses individuais.
Parisi[25], com base na estrutura normativa referente ao princípio da supremacia do interesse público e tendo em vista as normas já existentes que tratavam sobre as garantias do crédito tributário, floresceu o dogma da indisponibilidade do crédito tributário. Esta compreensão não está encartada, categoricamente, nem de forma implícita, na Constituição da República de 1988, sendo certo que seu suporte constitucional tem apoio, ainda que de forma mediata, no questionável postulado da supremacia do interesse público.
A conexão entre a indisponibilidade do crédito tributário com o chamado interesse público está baseada exclusivamente no fato de a importância das receitas tributárias, como viabilizadoras das políticas públicas, prerrogativas e funções da administração pública. Por isso, tem-se que as receitas tributárias podem ser consideradas indisponíveis na medida em que os entes públicos não podem simplesmente delas abrir mão, vez que são essenciais para a manutenção do Estado e de suas atividades para beneficiar toda a sociedade.
Esta crença da indisponibilidade, contudo, simplesmente conectada com a finalidade dos recursos da arrecadação, não pode ser compreendida de maneira literal, porque o próprio ordenamento jurídico prevê diversas situações em que essas receitas são concebidas como disponíveis para atender a outras determinadas finalidades, igualmente objetivadas pelos princípios constitucionais, inclusive o da supremacia do interesse público. Portanto, é preciso entender que, quando se fala da indisponibilidade do crédito tributário, procura-se defender a sua necessidade como fonte de recursos para o custeio das atividades encarregadas pelo constituinte aos poderes públicos[26].
Diversamente do que se admite, a indisponibilidade do crédito tributário não é absoluta, nem formalmente e nem materialmente. O aspecto formal é de fácil constatação porque não existe previsão normativa na Constituição, considerando o modelo Kelseniano elegido pelo constituinte em que a Constituição Federal é a norma de maior hierarquia e fundamento de validade de todas as normas de hierarquia inferior. Portanto, não há a previsão da referida indisponibilidade[27].
No campo da constitucionalidade reflexa, mediata ou material, ainda que, como afirmado, a pretensa indisponibilidade do crédito tributário possa ser um dos diversos braços da supremacia do interesse público, ela não se sobrepõe a qualquer norma que igualmente resguarde o interesse público supremo. Isso significa dizer que o próprio interesse público, por vezes, é sobrepujado pela salvaguarda de outros direitos públicos ou particulares que, em determinados casos concretos, melhor satisfazem o bem comum e os interesses da coletividade.
Nesse sentido, a vagueza inerente ao vetor axiológico que preconiza a supremacia do interesse público cede espaço para diversas interpretações, a partir das quais poderão ser edificadas diferentes normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto. Sem perder o fio da meada, a flexibilização aduzida, a qual, registre-se, decorre justamente da vagueza ínsita ao referido princípio, não altera o fato de que a indisponibilidade do crédito tributário é instituto desprovido de previsão constitucional ou mesmo legal.
Há outras normas prevendo proteções ao crédito tributário, mas nenhuma delas alude expressamente à sua indisponibilidade. Dessa forma, não há suporte no direito positivo para respaldar o dogma erigido pela doutrina, ou sequer para lastrear decisões judiciais ou administrativas estabelecendo qualquer impedimento para que o crédito tributário seja remido, anistiado (caso das penalidades) ou transacionado[28].
Sendo assim, forçosa é a conclusão de que, conquanto a indisponibilidade do crédito tributário encontre algum suporte na supremacia do interesse público, essa cláusula encerra limites de proteção ao crédito que cedem lugar à prevalência de outras normas positivadas no ordenamento e, não raro, sobrepujam aquelas, justamente para garantir o suprimento dos cofres públicos com receitas tributárias[29].
Os governantes, geralmente, ficam subordinados à equivocada interpretação do princípio da supremacia do interesse público, deixam de observar as demais normas jurídicas e, consequentemente, de utilizar a transação tributária efetivamente.
Para Bernardes[30], a interpretação e a aplicação do Direito, enquanto operações do sistema jurídico, devem ser restritas ao Direito filtrado pelo Direito, isto é, aos processos comunicativos próprios e exclusivos do sistema jurídico, a fim de que este garanta a segurança jurídica aos cidadãos. O ordenamento jurídico é dotado dos atributos de unidade (normas integradas que buscam sua fonte de validade em outras normas), coerência (não há normas antagônicas no conjunto vigente) e completitude (assegura a certeza do direito, não existindo lacunas no todo normativo).
Parisi[31] diz que cabe atentar que o direito, mesmo considerando as delimitações impostas pelo positivismo jurídico, não é rígido ou inalterável, devendo ser auto revitalizado por meio dos processos interpretativos. Nesse contexto, é aceitável que – em uma dada circunstância -, o interesse público de receber as receitas tributárias, mesmo com a concessão de descontos ou facilidades, sobrepõe-se à indisponibilidade do crédito tributário.
Para Torres[32], o Brasil tem presenciado uma volumosa demanda pela melhoria da prestação de serviços públicos, especialmente educação e saúde, e os demais benefícios de assistência social que agravam as despesas públicas. Os governantes, para satisfazer a essas crescentes necessidades, têm três alternativas: aumentar a carga tributária, realocar recursos do orçamento de acordo com as prioridades, ou recuperar os créditos tributários.
Segundo Torres[33] “tributo” e “indisponibilidade” não são conceitos lógicos, mas sim conceitos de direito positivo, categorias que se transformam de acordo com a cultura de cada nação, conforme seus ordenamentos.[34]”. É o princípio da indisponibilidade do patrimônio público que atrai maiores problemas em sua análise por força de seu conteúdo indeterminado. O que vem a ser, precisamente, “indisponibilidade do crédito tributário”? O princípio da indisponibilidade do patrimônio público e do crédito tributário consolidou-se como mandamento quase absoluto do direito de estados ocidentais, indiscutível e absoluto na sua formulação, a tal ponto que sequer a própria legalidade, seu fundamento, poderia dispor em contrário.
É preciso encontrar outra forma de rápido incremento das receitas públicas, possibilitando a melhoria e a celeridade na solução dos conflitos tributários, merecendo reflexão a conciliação judicial, a transação e a mediação em matéria tributária que vem sendo utilizados por diversos países exitosamente visando à redução dos seus passivos tributários, acomodando os princípios de indisponibilidade do patrimônio público e da segurança jurídica dos cidadãos, com aqueles da eficiência e simplificação fiscal[35].
A Constituição Federal estabelece as competências tributárias de cada pessoa política para criar tributos, e, desde que observados os limites por “ela” traçados, e visando atender a interesses coletivos protegidos pelos direitos e garantias fundamentais, a Administração tem a liberdade de solucionar conflitos na relação tributária tomando como premissa a inexistência, no direito, de um tal princípio universal de “indisponibilidade do tributo” para utilizar diferentes métodos a fim de implementar a arrecadação como a conciliação, mediação e a transação tributária[36].
Nesta esteira, no capítulo seguinte será abordado o instituto da transação tributária e a sua relação com a suposta renúncia de receita.
4 A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA E A SUPOSTA RENÚNCIA DE RECEITAS
O legislador tratou da tributação no Título VI, da Constituição Federal de 1988, como todo um conjunto de regras de competência para a instituição de tributos, bem como suas delimitações de poder, além das normas gerais de finanças públicas, incluindo os orçamentos.
Para Abraham[37], a Administração Pública precisa definir por etapas identificando onde se encontra a receita pública, começando com a previsão até chegar no produto da arrecadação, conforme as contas de classificação de cada ente político visando ao controle eficiente da gestão.
Nesse sentido, tem-se que o primeiro estágio da receita pública é a previsão. Trata-se da estimativa de arrecadação para cada uma das espécies de receitas públicas, resultantes de certa metodologia de projeção adotada. Essa projeção de arrecadação é relevante, uma vez que permite a determinação da quantidade de receitas públicas que, possivelmente, será disponibilizada para fazer frente às despesas públicas estatais. A segunda etapa é a arrecadação, que nada mais é do que o recebimento dos recursos devidos pelos contribuintes[38].
Assim que os recursos são arrecadados e classificados pela Administração Pública, mesmo estando na posse do ente público, “eles” não deixam de ser recursos financeiros de toda a sociedade, por isso a lei impõe aos recursos tratamento diferenciado por ser dinheiro público.
A partir dessa conclusão, todos os atos relacionados à criação de receitas públicas, sua arrecadação, cobrança e até mesmo a renúncia de receitas serão regidos pelos princípios constitucionais que parametrizam a atuação da administração pública, como os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (art. 37, CF/1988)[39], bem como os princípios específicos do Direito Financeiro e da responsabilidade fiscal, como os da programação, do equilíbrio e da transparência fiscal. Desse modo, no Estado de Direito moderno não há liberdade para se instituírem receitas públicas de maneira ilimitada ou desarrazoada. Estas, pois, devem ser criadas pela própria sociedade, através de seus representantes eleitos no Poder Legislativo, portanto, deverão fazer parte de um plano da administração pública – orçamento público –, que deverá encaminhá-lo à respectiva casa legislativa para aprovação[40].
Impera, assim, o princípio da legalidade para a criação de tributos e manutenção das receitas públicas. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 expressamente prevê ser vedado a União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça (art. 150, inciso I, CF/1988)[41]. Igual regra se aplica à fiscalização e cobrança das receitas, considerando-se um “poder-dever” da administração pública realizá-las. Nesse contexto, dispõe o Código Tributário Nacional que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo-único, do CTN)[42]. Nesse caso, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000)[43] estabelece que constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação (art. 11) [44].
Portanto, resumidamente, o Estado não pode abrir mão livremente de suas receitas, já que, para fazê-lo, deverá estar autorizado por lei. Nesse sentido, quanto às remissões, a Carta Constitucional dispõe que o projeto de lei orçamentária deverá ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (art. 165, §6°, CF/1988)[45]. No mesmo sentido, afirma o Código Tributário Nacional que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração (art. 176, CTN) [46].
Assim também é disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 14), ao dispor da concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, que deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e, nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias; II – estar acompanhada de medidas de compensação para o período[47].
Segundo Carvalho[48], de acordo com os termos e condições estabelecidos em lei, os sujeitos da obrigação podem celebrar transação, assim entendido o instituto mediante o qual, por concessões mútuas, credor e devedor põe fim ao litígio, extinguindo a relação jurídica. Tal é o alcance do art. 171, da Lei n. 5.172/66 (CTN). A lei autorizadora da transação indicará a autoridade competente para efetivá-la, em cada caso. O princípio da indisponibilidade dos bens públicos impõe seja necessária previsão normativa para que a autoridade competente possa entrar no regime de concessões mútuas, que é da essência da transação. Os sujeitos do vínculo consentem em abrir mão de parcelas de seus direitos, chegando a um denominador comum, teoricamente interessante para as duas partes, e que propicia o desaparecimento simultâneo do direito subjetivo e do dever jurídico correlato. É curioso, porém, verificar que a extinção da obrigação, quando ocorre a figura transacional, não se dá, propriamente, por força das concessões recíprocas, e sim do pagamento.
Para Grillo[49], ao passo que há previsão no sistema jurídico dispondo de forma proibitiva quanto à renúncia de receitas, somente cabendo as hipóteses da norma do artigo 14, §1º, da LRF, sob pena de se impor consequências jurídicas pela sua inobservância. De fato, segundo esse dispositivo da LRF, as hipóteses acima referidas (anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral), sempre e quando resultem na redução do resultado da arrecadação tributária, são situações vedadas do ponto de vista da responsabilidade e solvabilidade das contas públicas[50].
Segundo Grillo[51] torna-se essencial analisar o instituto a partir do disposto pelo artigo 150, §6°, da CF88, que, com base na alteração promovida pela Emenda Constitucional – EC n. 3, de 17 de março de 1993[52], recebeu maior alcance e extensão. De acordo com a disposição constitucional, a isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, dependem sempre de lei própria, específica, não podendo, inclusive, ser canceladas por ato do Poder Executivo, mas unicamente através da edição de nova lei.
No referido dispositivo constitucional, ao contrário do que a interpretação meramente literal possa revelar, não se verifica a hipótese de proibição constitucional em relação aos mecanismos de exoneração que são, em determinadas situações, utilizados pela legislação veiculadora de regras atinentes à transação. O que se extrai do mesmo é a determinação inserida desde 1993, ou seja, a partir da EC nº 3/1993[53], para que as hipóteses enumeradas no referido dispositivo sejam instituídas por meio de lei específica.
Além do caráter de exclusividade da lei tributária para fins de concessão de exonerações, que reduzam ou venham até mesmo a extinguir o crédito tributário, o artigo 150, §6º, da CF88[54], também prescreve a condição de exclusividade dessa mesma legislação específica para vedar certos favores fiscais que possam ser concedidos discriminadamente. A norma é objetiva e suficientemente clara no sentido da impossibilidade de o Poder Legislativo, ou até mesmo o poder constituinte estadual, delegar ao Poder Executivo a competência para tratar, normativamente, acerca da concessão de anistia ou remissão em matéria tributária.
Avista-se da norma constitucional que somente a “lei específica” poderá, além de outras situações, também contemplar mecanismos de transação tributária, desde que respeitando a norma geral estabelecida pelo artigo 14, §1º, da LRF[55], por isso, não há o que falar em hipótese de proibição de exoneração. Deixando de lado a provável questão sobre violação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Maior, por meio de vantagens questionáveis, os motivos extrafiscais do legislador para permitir uma revogação parcial da regra geral pela espacial, também devem observar os princípios constitucionais estruturantes do sistema tributário, segundo os ditames do art. 150, §6º, CF/88[56].
Torres[57], por sua vez, afasta a hipótese prescrita pela LRF em relação à matéria de transação, valendo-se dos princípios da verdade material, eficiência administrativa e economicidade, ao referir que no caso de se utilizar a transação no Brasil, não ocorreria qualquer espécie de renúncia de crédito tributário, longe disso, ajudaria para atingir simultaneamente uma solução rápida do conflito e econômica que evitaria a manutenção de pendências administrativas ou judiciais.
Para Grillo[58], de fato, a transação é confundida com a hipótese de renúncia de receita pública prescrita pela LRF, hipótese que não tem amparo jurídico. Essa afirmação pode ser contatada sob dois fundamentos de ordem interpretativa. Em primeiro lugar deve-se partir de uma interpretação sistemática restritiva, e aplicável à transação, para constatar que, na forma exigida pelo regime jurídico administrativo, não se aplica a vedação do artigo 14, §1º, da LRF[59]. Da simples leitura do dispositivo é possível o intérprete observar que, das hipóteses existentes, não consta menção à transação tributária. Considerando que a transação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, junto com outras modalidades dispostas no rol de normas do artigo 156 do CTN[60], de qualquer modo, no contexto interpretativo não há o que se falar na concretização da hipótese legal da renúncia de receita.
Grillo[61] diz que existe um segundo aspecto inquestionável quanto à inaplicabilidade desse dispositivo como proibitivo da utilização da transação em matéria tributária. O significado de renúncia de receita pública encartado na norma legal acima transcrita não tem pertinência com o conceito e a natureza jurídica do instituo da transação. Seguramente, como consequência lógica da característica da bilateralidade da transação (concessões mútuas), materializada pela declaração de vontade das partes da relação jurídica, conforme requisitos legais. Não se configura a transação sem que haja reciprocidade, ou seja, quando uma das partes renuncia em favor da outra, pois inexiste a concessão mútua.
Alecrim e Nagib[62] ensina que a autocomposição em conflitos tributários confere maior efetividade na recuperação dos créditos tributários, com consequente diminuição dos custos de arrecadação e aumento da eficiência da Administração Tributária.
Conforme exposto acima, os entes tributantes podem resolver os conflitos com os contribuintes através da transação tributária sem que haja renúncia de receitas. Isto posto, no tópico seguinte, será abordado a utilização da transação como instrumento para viabilizar a arrecadação.
5 A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO INSTRUMENTO PARA VIABILIZAR A ARRECADAÇÃO
Nos capítulos anteriores foi investigado que a utilização da transação tributária não implica a renúncia de receitas e que o instituto contém intrinsecamente o requisito de que é um negócio jurídico bilateral no qual as partes devem apresentar manifestação de concessões recíprocas, sob pena de ocorrer a sua descaracterização.
Nesse contexto, sob as premissas apresentadas acima acerca da transação tributária, será investigada a seguir a legislação de regência editada pela União Federal, ressaltando que foge do escopo do presente trabalho analisar todas as legislações editadas pelos demais entes políticos (estados e municípios) o que seria impraticável para um artigo científico, ficando o estudo restrito aos editais (legislação) sobre transação instituídos pela União, que passou a utilizar com maior frequência como forma de recuperar os créditos tributários após a crise sanitária vivenciada pela Pandemia da Covid19.
Não será estudado, neste trabalho, qual é a natureza jurídica da transação, considerando que o Código Tributário Nacional[63] trata a transação como modalidade de extinção do crédito tributário, todavia, diante da edição da Medida Provisória – MP, n. 899/2019, convertida na Lei n. 13.988/2020[64], emergiram dúvidas quanto à natureza jurídica da transação prevista em seu texto, visto que o parcelamento e a moratória dos débitos submetidos ao crivo do Fisco Federal são modalidades de suspensão e não extinção do crédito tributário.
Segundo Corrêa[65], a lei da transação foi aprovada por unanimidade pelo Senado, regulamentando este instituto jurídico (acordos para pagamento de dívidas mediante concessão de benefícios, se necessário) previsto no CTN para os casos de cobrança da Dívida Ativa da União e do contencioso tributário. Inicialmente, para a aprovação da lei foi considerado dados sobre a dívida tributária existente, e a expectativa do Governo seria a de regularizar aproximadamente 1,9 milhão de contribuintes, que devem cerca de R$ 1,4 trilhão. O Governo, ao apresentar a Medida Provisória, justificou que um dos objetivos era acabar com a edição periódica de parcelamentos especiais com concessão de prazos e descontos excessivos a todos aqueles que se enquadravam na norma.
Com a aprovação do texto, a partir de agora, a concessão de benefícios fiscais por meio da transação somente poderá ocorrer em caso de comprovada necessidade e mediante avaliação da capacidade contributiva de cada contribuinte, além de precisar atender às demais condições e limites previstos em lei. Todos os termos celebrados terão de ser divulgados em meio eletrônico.
A MP previa desconto de até 70% para pessoas físicas, pequenas e microempresas, santas casas e instituições de ensino, além de organizações não governamentais que estejam listadas na Lei n. 13.019/2014[66], e estabeleçam parcerias com o Poder Público. Nesses casos, o prazo de parcelamento das dívidas foi estendido de 84 para 145 meses[67]. Entretanto, para débitos envolvendo a contribuição previdenciária do empregado e do empregador, o prazo máximo será de 60 meses[68].
O Governo Federal, desde o ano de 2020, editou diversas leis para regulamentar a transação tributária, ultimando com a Lei nº 14.740 de 29 de novembro de 2023[69]. Da análise dessas legislações é possível constatar que, inicialmente, a primeira preocupação foi apenas estimular a regularização de débitos fiscais e a resolução de conflitos entre contribuintes e a União, ou seja, reduzir o contencioso tributário (administrativo e judicial), visando à primazia do interesse público com a captação de recursos, mas sem qualquer menção à capacidade contributiva dos contribuintes. É evidente que a Medida Provisória 899/2019, convertida na Lei n. 13.988/2020[70], não só ajudou a reforçar o caixa do Governo, mas viabilizou o enfrentamento da crise pelos empreendedores e a manutenção dos empregos.
Os editais de transação encartam regras dispondo sobre a adesão e as concessões dos benefícios, tratam sobre quais são os tributos que poderão ser inseridos, as faixas de descontos nas multas e nos juros de mora com o correspondente número de meses em que a dívida poderá ser paga. Nas legislações não houve abertura para contemplar o requisito da transação de “concessões mútuas” materializada pela declaração de vontade das partes da relação jurídica, o que se avista são benefícios concedidos unilateralmente pela Fazenda Nacional.
As empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) puderam aderir à transação através de legislação própria editadas separadamente das demais empresas.
Em 2024, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN lançaram editais de transação tributária divididos nas seguintes categorias: dívidas de pequeno valor, débitos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, capacidade de pagamento, inscrições garantidas por seguro garantia ou carta fiança e microempreendedores individuais. Segundo a PGFN, o governo espera recuperar cerca de R$ 24 bilhões com as Transações por Adesão[71].
A Portaria nº 6.757/2022 estabeleceu diretrizes para a análise da capacidade de pagamento, a partir da análise da situação econômica do contribuinte, a qual é calculada por estimativa para saber se o sujeito passivo possui condições de efetuar o pagamento integral dos débitos, no prazo de cinco anos sem descontos. Entretanto, quando a capacidade de pagamento não for suficiente para a liquidação de todo o passivo fiscal, os prazos e os descontos serão graduados de acordo com a possibilidade de adimplemento dos débitos. Verifica-se que a análise da capacidade é unilateral, só havendo a participação do contribuinte, apenas no pedido de revisão[72].
Segundo Ferraz[73], em termos gerais: “[...] não há igualdade ou equilíbrio entre as partes que estão transacionando (PGFN e contribuintes), e isso fica bem claro nas propostas de transação na modalidade individual”. De acordo com o disposto nas Portarias da Procuradoria da Fazenda Nacional é exigido do contribuinte a apresentação de uma volumosa documentação, o que leva à constatação de que o Órgão Fazendário tem total poder de decisão para a concessão da transação.
Da análise da legislação acima, ficou demonstrado que o legislador, ao dispor sobre a transação tributária, estabeleceu requisitos legais de concessões que visam atender ao interesse público, no caso priorizando a arrecadação tributária, mas que não há participação do contribuinte na formação das regras para a adesão, e que a capacidade econômica é analisada de forma unilateral e parametrizada pela União.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo evidenciar que o instituo da transação tributária, embora tenha sido plasmado no texto original do CTN, ainda vem sendo pouco utilizado pelos entes tributantes, em razão de uma interpretação equivocada do princípio da indisponibilidade do interesse público e o dogma da renúncia de receitas. Essas categorias tiveram sua importância ressaltada posteriormente à Constituição Federal de 1988 e a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A proposta foi destacar que num primeiro momento a transação tributária foi utilizada para resolver a necessidade de aumentar a arrecadação, sem uma associação direta que poderia implementar os direitos sociais. O instituto está no próprio ordenamento jurídico, ou seja, dentro da legalidade, os administradores públicos poderão utilizar esse instrumento em maior escala para atender aos fins do Estado.
A União Federal, a partir de 2020, após a Pandemia mundial instalada pelo Coronavírus Covid-19, visando aumentar as receitas públicas, começou a utilizar o instituto da transação com maior intensidade, entretanto, os demais entes (estados e municípios), por questões culturais, ainda utilizam métodos mais tradicionais como os programas de parcelamento, em razão da cultura jurídica da indisponibilidade do interesse público e da proibição à renúncia de receitas. Considerando que as crises econômicas alcançam toda a sociedade, a transação tributária tem se mostrado como instrumento legal e eficiente para a solução de conflitos, propiciando, de um lado, o rápido aumento da arrecadação e, de outro, que o contribuinte inadimplente possa liquidar a obrigação tributária de forma mais justa. Ficou comprovado que as legislações ainda não visam atender ao princípio da capacidade contribuitiva e que o sujeito passivo não tem margem para flexibilizar as regras para adesão à transação. Entende-se, contudo, que é fundamental o aprimoramento para a implantação deste instituto jurídico por todos os entes da Federação como forma de se atender ao princípio constitucional da eficiência da gestão e da atividade financeira do Estado.
7 REFERÊNCIAS
Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2021.
Alecrim, E. R., Nagib, L. (2022), “Transação Tributária Ante os Impactos na Crise Econômica”, Revista Internacional Consinter De Direito, 8 (14), 399–414. Disponível em: <https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00014.18>. Acesso em: 08 jan. 2024.
Alves, Vinícius Augustus de Vasconcelos, Transação Tributária Federal à Luz da Igualdade: análise do modelo inaugurado pela Lei n. 13.988/2020, 2021, 2021, 339p., dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.
Becker, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1972, pp. 5.
Bernardes, Flávio Couto, O Aspecto Procedimental como Elemento da Norma Jurídica Tributária e seus Reflexos na Formação do Título Executivo, 2006, 461 p. Tese (Doutorado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-96ZKBJ>. Acesso em 07 jul. 2023.
Bernardes, Flávio Couto, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Gestão da Administração Pública, Belo Horizonte, Educação Científica Editores, 2008.
Bernardes, Flávio Couto, Direito Tributário Moçambicano, 2ª ed., Belo Horizonte, Mandamentos Editora, 2009.
Bernardes, Flávio Couto, Fonseca, Vinícius Simões Borges Espinheira, “O sistema tributário nacional e a Lei nº 13.655/2018”: A contradição entre a exigência de segurança jurídica e a introdução do consequencialismo econômico na aplicação do direito tributário. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 64, n. 3, set.-dez. 2019, p. 193-212. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/66896/40431>. Acesso em: 28 jun. 2023.
Brasil, Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 – Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, Brasília, DF, 1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/l4320.htm>. Acesso em: 29 jun. 2023.
Brasil, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, Brasília, DF, 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado .htm>. Acesso em 29 jun. 2023.
Brasil [Constituição Federal (1988)], Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição compilado.htm>. Acesso em: 29 ago. 2023.
Brasil, Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, Brasília, DF, 2000. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/leis/ lcp/ lcp101.htm>. Acesso em: 18 nov. 2023.
Brasil [Constituição (1988)] Emenda Constitucional – EC n. 3, de 17 de março de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da Constituição Federal. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm>. Acesso em: 26 fev. 2024.
Brasil, Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de – Código Civil de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em: 27 ago. 2023.
Brasil. Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). Brasília, DF, 2015. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/ l13019.htm>. Acesso em: 26 fev. 2024.
Brasil, Lei n. 13.988 de 14 de abril de 2020, dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nos 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002, Brasília, DF, 2002. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm#:~:text=1%20%C2%BA%20Esta%20Lei%20estabelece,natureza%20tribut%C3%A1ria%20ou%20n%C3%A3o%20tribut%C3%A1ria>. Acesso em 26 fev. 2024.
Brasil, Portaria PGFN nº 6757, de 29 de julho de 2022, Regulamenta a Transação na Cobrança de Créditos da União e do FGTS. Disponível em: <http://normas.receita. fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=125274>. Acesso em: 15 dez. 2023.
Brasil, Lei n. 14.470. de 29 de novembro de 2023, dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, DF, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14740.htm>. Acesso em: 15 dez. 2023.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias>. Acesso em: 25 fev. 2024.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Lei Orçamentária Anual para 2024. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa>. Acesso em: 25 fev. 2024.
Carrazza, Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário, 21ª ed., São Paulo, Malheiros, 2005.
Carvalho, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17ª ed., São Paulo, Saraiva, 2005.
Corrêa, André, “Lei que regulamenta negociação de dívida tributária com a União é sancionada”, Agência Senado. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/lei-que-regulamenta-negociacao-de-divida-tributaria-com-a-uniao-e-sancionada>. Acesso em: 12 jul. 2023.
Ferraz, Freitas, “Transação tributária: qual o tamanho deste benefício?”, in Freitas Ferraz – Academy. Disponível em: <https://www.freitasferraz.com.br/freitasferraz-academy/transacao-tributaria/>. Acesso em: 15 dez. 2023.
Grillo, Fabio Artigas, Transação e Justiça Tributária, 2012. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/28525?show=full>. Acesso em: 08 jan. 2024, pp. 194.
Máximo, Walter, Nova renegociação dará desconto de até 70% para dívida ativa Prazo de adesão vai até 30 de abril no sistema Regularize, da PGFN. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-01/nova-renegociacao-dara-desconto-de-ate-70-para-divida-a>. Acesso em: 15 jan. 2024.
Mello, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 14ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001.
Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP.
Torres, Heleno Taveira, “Princípios da segurança jurídica e transação em matéria tributária”, os limites da revisão administrativa dos acordos tributários.” in Saraiva Filho, Oswaldo Othon de Pontes; Guimarães, Vasco Branco, orgs. Transação e Arbitragem no Âmbito Tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso, Belo Horizonte, Fórum, 2008.
Torres, Heleno Taveira, Direito Constitucional Financeiro: Teoria da Constituição Financeira, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014.
Torres, Heleno Taveira, “Novas Medidas de Recuperação de Dívidas Tributárias”, in Brigagão, Gustavo, Torres, Heleno Taveira, Santiago, Igor Mauler, Estrada, Roberto Duque, org., Consultor Tributário: Estudos Jurídicos, 1ª ed., Rio de Janeiro, Topbooks, 2015.
[1] Doutor (2006), Mestre (2000) e Bacharel (1994) em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, Membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e da Universidade Federal de Minas Gerais, Procurador do Município, Advogado, Belo Horizonte, Brasil, código postal 30130-180, e-mail flavio.bernardes@bernardesadvogados.adv.br, https://orcid.org/0000-0001-8180-0218.
[2] Doutorando em Direito pela PUC Minas, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Sergipe, Membro titular do Conselho de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, Advogado, Aracaju, Brasil, código postal 30535-901, e-mail jorgeflavio@carvalhocruz.adv.br, https://orcid.org/0000-0002-7730-5617.
[3] Brasil, Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, Brasília, DF, 2000. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 18 nov. 2023.
[4] Becker, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, 2. ed., São Paulo, Saraiva, 1972, p. 4.
[5] Becker, Alfredo Augusto, Teoria Geral do Direito Tributário, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1972, pp. 5.
[6] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 19.
[7] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 19.
[8] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, Rio de Janeiro, Editora Forense, 6ª ed., 2021, pp. 4.
[9] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, Rio de Janeiro, Editora Forense, 6ª ed., 2021, pp. 5.
[10] Parisi, Fernanda Drummond, Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 21.
[11] Bernardes, Flávio Couto, Fonseca, Vinícius Simões Borges Espinheira, “O sistema tributário nacional e a Lei nº 13.655/2018”: A contradição entre a exigência de segurança jurídica e a introdução do consequencialismo econômico na aplicação do direito tributário. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 64, n. 3, set.-dez. 2019, p. 193-212. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/66896/40431>. Acesso em: 28 jun. 2023, pp. 199.
[12] Bernardes, Flávio Couto, Fonseca, Vinícius Simões Borges Espinheira, “O sistema tributário nacional e a Lei nº 13.655/2018”: A contradição entre a exigência de segurança jurídica e a introdução do consequencialismo econômico na aplicação do direito tributário. Revista da Faculdade de Direito – UFPR, Curitiba, v. 64, n. 3, set.-dez. 2019, p. 193-212. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/direito/article/view/66896/40431>.Acesso em: 28 jun. 2023, pp. 199.
[13] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 22.
[14] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, Rio de Janeiro, Editora Forense, 6ª ed., 2021, pp. 295.
[15] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, Rio de Janeiro, Editora Forense, 6ª ed., 2021, pp. 403.
[16] Bernardes, Flávio Couto, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Gestão da Administração Pública, Belo Horizonte, Educação Científica Editores, 2008, pp. 16.
[17] Bernardes, Flávio Couto, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Gestão da Administração Pública, Belo Horizonte, Educação Científica Editores, 2008, pp. 16.
[18] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, Rio de Janeiro, Forense, 6ª ed., 2021, pp. 403.
[19] Será aplicado em cada área e de onde virão os recursos. Entre outros itens, a LOA: Projeta parâmetros macroeconômicos, como o terno Bruto (PIB), a inflação e a taxa de juros; prevê a arrecadação do governo com tributos e outras fontes de recursos; define metas para a política fiscal – medidas que o governo toma para equilibrar suas despesas e receitas; define os valores que a União poderá usar para investimentos e financiamentos, por área;- define despesas determinadas por sentenças judiciais, chamadas precatórios; lista as obras e serviços com indícios de irregularidades graves. (Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Lei Orçamentária Anual para 2024. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa. Acesso em: 25 fev. 2024).
[20] Estabelece as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do ano seguinte. Entre outros itens, a LDO: determina o nível de equilíbrio geral entre receitas e despesas; traça regras para as despesas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; autoriza o aumento de despesas com pessoal; disciplina o repasse de verbas da União para estados, municípios e entidades privadas; indica prioridades de financiamento pelos bancos públicos. (Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias. Acesso em: 25 fev. 2024).
[21] Bernardes, Flávio Couto, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Gestão da Administração Pública, Belo Horizonte, Educação Científica Editores, 2008, pp. 16.
[22] Bernardes, Flávio Couto, Direito Tributário Moçambicano, Belo Horizonte, Mandamentos Editora, 2ª ed., 2009, pp. 32.
[23] Carrazza, Roque Antônio, Curso de Direito Constitucional Tributário, 21ª ed., São Paulo, Malheiros, 2005, pp. 75.
[24] Mello, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, 14ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 71.
[25] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 29.
[26] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 30.
[27] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 33.
[28] Alves, Vinícius Augustus de Vasconcelos, Transação Tributária Federal à Luz da Igualdade: análise do modelo inaugurado pela Lei n. 13.988/2020, 2021, Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 339p, 2021, pp. 36-38.
[29] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 34-35.
[30] Bernardes, Flávio Couto, O Aspecto Procedimental como Elemento da Norma Jurídica Tributária e seus Reflexos na Formação do Título Executivo, 2006, 461 p. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2006, Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-96ZKBJ. Acesso em: 07 jul. 2023, pp. 28.
[31] Parisi, Fernanda Drummond, Transação Tributária no Brasil: supremacia do interesse público e a satisfação do crédito tributário, 11/03/2016, Tese. (Doutorado em Direito), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, Biblioteca Depositária, PUC-SP, pp. 35.
[32] Torres, Heleno Taveira, “Novas Medidas de Recuperação de Dívidas Tributárias”, in Brigagão, Gustavo, Torres, Heleno Taveira, Santiago, Igor Mauler, Estrada, Roberto Duque, org., Consultor Tributário: Estudos Jurídicos, 1ª ed., Rio de Janeiro, Topbooks, 2015, p. 232-243.
[33] Torres, Heleno Taveira, “Novas Medidas de Recuperação de Dívidas Tributárias”, in Brigagão, Gustavo, Torres, Heleno Taveira, Santiago, Igor Mauler, Estrada, Roberto Duque, org., Consultor Tributário: Estudos Jurídicos, 1ª ed., Rio de Janeiro, Topbooks, 2015, p. 232-243.
[34] Torres, Heleno Taveira, Direito Constitucional Financeiro: Teoria da Constituição Financeira, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, pp. 211.
[35] Torres, Heleno Taveira, “Novas Medidas de Recuperação de Dívidas Tributárias”, in Brigagão, Gustavo, Torres, Heleno Taveira, Santiago, Igor Mauler, Estrada, Roberto Duque, org., Consultor Tributário: Estudos Jurídicos, 1ª ed., Rio de Janeiro, Topbooks, 2015, p. 232-243.
[36] Torres, Heleno Taveira, “Novas Medidas de Recuperação de Dívidas Tributárias”, in Brigagão, Gustavo, Torres, Heleno Taveira, Santiago, Igor Mauler, Estrada, Roberto Duque, org., Consultor Tributário: Estudos Jurídicos, 1ª ed., Rio de Janeiro, Topbooks, 2015, p. 232-243.
[37] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2021, pp. 144.
[38] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2021, pp. 144.
[39] Brasil [Constituição Federal (1988)], Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em 29 ago. 2023.
[40] Bernardes, Flávio Couto, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Gestão da Administração Pública, Belo Horizonte, 2008.
[41] Brasil [Constituição Federal (1988)], Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 29 ago. 2023.
[42] Brasil, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, Brasília, DF, 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 29 jun. 2023.
[43] Brasil, Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, Brasília, DF, 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 18 nov. 2023.
[44] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2021, pp. 145.
[45] Brasil [Constituição Federal (1988)], Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 29 ago. 2023.
[46] Abraham, Marcus, Curso de Direito Financeiro Brasileiro, 6ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2021, pp. 146.
[47] Brasil, Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, Brasília, DF, 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em 18 nov. 2023.
[48] Carvalho, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17ª ed., São Paulo, Saraiva, 2005, pp. 465.
[49] Grillo, Fabio Artigas, Transação e Justiça Tributária, 2012. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/28525?show=full>. Acesso em: 08 jul. 2023, pp. 194.
[50] Grillo, Fabio Artigas, Transação e Justiça Tributária, 2012. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/28525?show=full>. Acesso em: 08 jul. 2023, pp. 194.
[51] Grillo, Fabio Artigas, Transação e Justiça Tributária, 2012. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/28525?show=full>. Acesso em: 08 jul. 2023, pp. 194.
[52] Brasil [Constituição (1988)] Emenda Constitucional – EC n. 3, de 17 de março de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da Constituição Federal. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm>. Acesso em: 26 fev. 2024.
[53] Brasil [Constituição (1988)] Emenda Constitucional – EC n. 3, de 17 de março de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 167 da Constituição Federal. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm>. Acesso em: 26 fev. 2024.
[54] Brasil [Constituição Federal (1988)], Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Brasília, DF, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicaocompilado.htm. Acesso em: 29 ago. 2023.
[55] Brasil, Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, estabelece normas de finanças públicas volta a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, Brasília, DF, 2000. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm. Acesso em: 18 nov. 2023.
[56] Brasil [Constituição Federal (1988)], Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Brasília, DF, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ constituicaocompilado.htm. Acesso em: 29 ago. 2023.
[57] Torres, Heleno Taveira, “Princípios da segurança jurídica e transação em matéria tributária”, os limites da revisão administrativa dos acordos tributários.” in Saraiva Filho, Oswaldo Othon de Pontes; Guimarães, Vasco Branco, orgs. Transação e Arbitragem no Âmbito Tributário: homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva Velloso, Belo Horizonte, Fórum, 2008, pp. 308.
[58] Grillo, Fabio Artigas, Transação e Justiça Tributária, 2012. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/28525?show=full>. Acesso em 08 jul. 2023, pp. 198.
[59] Brasil, Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, Brasília, DF, 2000. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm>. Acesso em: 18 nov. 2023.
[60] Brasil, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, Brasília, DF, 1966. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm.> Acesso em: 29 jun. 2023.
[61] Grillo, Fabio Artigas, Transação e Justiça Tributária, 2012. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/28525?show=full. Acesso em 08 jul. 2023, pp. 199.
[62] Alecrim, E. R., & Nagib, L. (2022), “Transação Tributária Ante os Impactos na Crise Econômica”, Revista Internacional Consinter De Direito, 8 (14), 399–414. Disponível em: <https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00014.18>. Acesso em: 08 jan. 2024.
[63] Código Tributário Nacional – Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I – moratória; II – o depósito do seu montante integral; III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001); VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).
Art. 156 – Extinguem o crédito tributário: (...) III – a transação;
Art. 171 – A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário. Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso. (Brasil, 1966).
[64] Brasil, Lei n. 13.988 de 14 de abril de 2020, dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nos 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002, Brasília, DF, 2002. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13988.htm#:~: text= 1%20% C2%BA%20 Esta%20Lei%20estabelece, natureza%20tribut%C3%A1ria% 20ou%20n% C3% A 3o%20tribut%C3%A1ria>. Acesso em 26 fev. 2024.
[65] Corrêa, André, “Lei que regulamenta negociação de dívida tributária com a União é sancionada”, Agência Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/lei-que-regulamenta-negociacao-de-divida-tributaria-com-a-uniao-e-sancionada. Acesso em: 12 ago. 2023, pp. 01.
[66] Brasil. Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). Brasília, DF, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/ 2014/ lei/ l13019. htm. Acesso em: 26 fev. 2024.
[67] Art. 11 – (...) §2º – É vedada a transação que: III – conceda prazo de quitação dos créditos superior a 84 (oitenta e quatro) meses; §3º – Na hipótese de transação que envolva pessoa natural, microempresa ou empresa de pequeno porte, a redução máxima de que trata o inciso II do §2º deste artigo será de até 70% (setenta por cento), ampliando-se o prazo máximo de quitação para até 145 (cento e quarenta e cinco) meses, respeitado o disposto no §11 do art. 195 da Constituição Federal. (Brasil ,2014)
[68] Corrêa, André, “Lei que regulamenta negociação de dívida tributária com a União é sancionada”, Agência Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/15/lei-que-regulamenta-negociacao-de-divida-tributaria-com-a-uniao-e-sancionada. Acesso em 12 ago. 2023, pp. 02.
[69] Brasil, Lei n. 14.470. de 29 de novembro de 2023, dispõe sobre a autorregularização incentivada de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, DF, Brasília, DF, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/l14740.htm. Acesso em: 15 dez. 2023.
[70] Brasil, Lei n. 13.988 de 14 de abril de 2020, Dispõe sobre a transação nas hipóteses que especifica; e altera as Leis nos 13.464, de 10 de julho de 2017, e 10.522, de 19 de julho de 2002, Brasília, DF, 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-022/2020/lei/l13988.htm#:~:t ext=1% 20% C2%BA% 20Esta% 20 Lei%20estabelece, natureza%20tribut%C3% A1ria%20ou%20n% C3%A3o% 20tribut%C3%A1ria>. Acesso em: 26 fev. 2024.
[71] Máximo, Walter, Nova renegociação dará desconto de até 70% para dívida ativa Prazo de adesão vai até 30 de abril no sistema Regularize, da PGFN. Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2024-01/nova-renegociacao-dara-desconto-de-ate-70-para-divida-a>. Acesso em: 15 jan. 2024.
[72] Brasil, Portaria PGFN nº 6757, de 29 de julho de 2022, Regulamenta a Transação na Cobrança de Créditos da União e do FGTS. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/ link.action?idAto=125274>. Acesso em: 15 dez. 2023.
[73] Ferraz, Freitas, “Transação tributária: qual o tamanho deste benefício?”, in Freitas Ferraz – Academy. Disponível em: <https://www.freitasferraz.com.br/freitasferraz-academy/transacao-tributaria/>. Acesso em: 15 dez. 2023, p. 03.