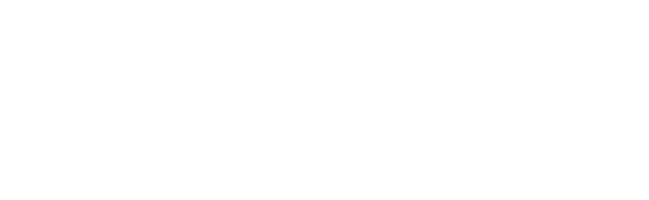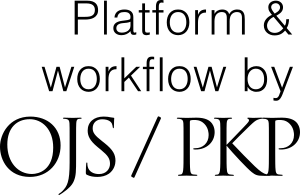Teoria do Risco Ambiental Integral e Ideologia
José Adércio Leite Sampaio[1]
Resumo: A objetivação da responsabilidade civil foi produto do ganho de complexidade das relações intersubjetivas no âmbito da sociedade de massa e consumo. Não tardou a superar os espaços de interações meramente privatistas para adentrar nos domínios do direito ambiental. O presente artigo, em revisão bibiliográfica e da jurisprudência, analisa a evolução e recepção desse processo no direito positivo brasileiro. As teses que se foram desenvolvendo, inicialmente, na afirmação da responsabilidade civil do Estado se foram projetando para a constituição de um dever objetivo de reparar o dano ao meio ambiente a seu responsável ou causador. Se a Constituição, leis e jurispruência passaram a reconhecer a responsabilidade civil objetiva, há ainda discussões se ela se dá com a exigência de um nexo causal (teoria do risco criado) ou como uma reparabilidade sem escusas ou excludentes (teoria do risco integral). Em grande medida, essas diferentes interpretações têm inspiração ideológica. A teoria do risco integral é ideológica e teleologicamente mais adequada para superar a lógica da apropriação inesgotável da natureza, garantindo a efetividade do direito ao meio ambiente sadio para as presentes e futuras gerações.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil Ambiental; Teoria do Risco; Teoria da Interpretação.
Abstract: The objectification of civil liability has been the product of the gain of complexity of intersubjective relationship within the mass and consumption society. It has been soon passed from the merely privatist spaces interactions to enter the areas of environmental law. This article, in bibliographical and case law review, analyzes the evolution and reception of this process in Brazilian law. The theses which were developed initially in the assertion of state liability were designing for the establishment of an objective duty to repair the damage to the environment. If the Constitution, laws and courts have been recognizing the objective liability, there are still discussions whether it is with the requirement of a causal connection (theory of created risk) or as a repairability without any exclusion clause (theory of integral risk). To a large extent, these different interpretations have ideological inspiration. The theory of integral risk is ideological and telelogically better suited to overcome the logic of endless appropriation of nature, ensuring the effectiveness of the right to a healthy environment for the presents and future generations.
Keywords: Environmental Liability; Risk theory; Theory of Interpretation
1 INTRODUÇÃO
A questão ambiental tem desafiado o direito como epistemologia e como sistema de normas. A sua interdisciplinariedade conduz para dentro do sistema de conhecimento e de normatividade jurídico uma complexidade que a ele custa operar. Embora histórica e ideologicamente orientado por e para um discurso de justiça, o direito, desde a Alta Modernidade, especializou-se, exatamente, em reduzir complexidades, por meio de sua autoinstituição procedimental de seletividade da licitude dos comportamentos (LUHMANN, 2004). Essa especialização, se não obteve êxito inteiramente, passou a ser comprometida com as demandas ambientais. Como estabelecer um processo de previsibilidade num domínio fortemente marcado pela incerteza e pelo imprevisível?
Do ponto de vista epistemológico, o arsenal de conceitos e institutos, lapidados, notadamente, nos setecentos e oitocentos, que, já a duras penas, enfrentava os desafios da Baixa Modernidade, passou a parecer obsoleto diante das especificidades de um mundo, embora ontologicamente velho, novo, todavia, como objeto de estudo e proteção: o meio ambiente. As demandas de proteção desde então feitas ao sistema jurídico passaram a exigir ou a substituição ou a remodelagem daqueles conceitos e institutos. Algumas daquelas demandas continuam desatendidas ou sem a plena decodificação pelo direito. Outras se apropriam dos instrumentos existentes para tentar dar a melhor resposta possível (TALLACCHINI, 2005; PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, 2011).
O dever de reparação do dano ambiental é uma dessas demandas de oportunidade. A responsabilidade civil, que, desde os romanos, já passava por mudanças progressivas, foi requisitada como resposta aos déficits de proteção preventiva ou acautelatória do meio ambiente. Ela que, para acompanhar as transformações da sociedade de massa, já tinha perdido muito de seu rosto original, moldado sobre o pressuposto da culpa e de um rígido nexo de causalidade, viu-se ainda mais sobrecarregada pela procura ambiental de radicalização do processo transformador.
O presente trabalho procura, por meio de uma revisão bibliográfica e contributos jurisprudenciais, discutir como se operou a modificação da responsabilidade civil com culpa à objetiva, no direito brasileiro inclusivamente. Essa reconstrução evolutiva deixará questões não totalmente resolvidas, como, por exemplo, os fundamentos da responsabilização isenta de culpa e a extensão de sua incidência, a depender do fundamento empregado. No avanço desse processo, encontrará as exigências de reparação do dano ambiental, repleto de especificidade.
As exigências de radicalização que, no caso, importam a adoção de uma responsabilidade quase sem nexo causal se deparam com a força da tradição a postular – pretextar – equilíbrio e segurança. As incertezas do novo e radical, de uma responsabilidade civil pelo risco absoluto ou total, cedem parcialmente à segurança do conhecido, de uma teoria do risco mitigada, criado, como é o termo, impondo uma provisória solução de compromisso, que não deixa de ter suas indefinições.
Ao fim, é proposta uma leitura ideológica do fenômeno ambiental que requer o partido da radicalização como forma de melhor garantir a integridade do ambiente e, com ela, as possibilidades de uma vida, se não virtuosa, ao menos de qualidade.
2 A OBJETIVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL
Nos estudos clássicos, lê-se que a finalidade precípua da responsabilidade civil é sempre ressarcir o lesado por ação dolosa ou culposa de terceiro (CESAREO-CONSOLO, 1908; DIAS, 2007; VINEY, 2008). Essa finalidade, todavia, não pode ser inteiramente realizada, dado o crescente ganho de complexidade das relações da vida social e dos interesses envolvidos. Opera-se, por exemplo, um corte de relevância do dano a ser reparado. Na linha clássica, apenas aquele que for definido como ilícito e que não esteja justificado por uma causa exculpante ou de exclusão do dever de indenizar. Atribuía-se um equilíbrio entre a atuação e sua consequência, ator e vítima, compulsado o sistema jurídico abstrata e normativamente em seu todo (normas de causas e efeitos, normas de exclusão, premissa de coerência etc.) em busca da única solução correta.
No credo liberal, esse quadro já mostrava suas contradições. Se o patrimônio e a integridade dos indivíduos deveriam ocupar ambiente de relevo, sob regras neutras de prevenção e solução de conflitos, a existência de cláusula de imunidade comprometia o axioma de “neminem laedere”. Certo que se poderia cogitar de exclusões fundadas em razões superiores e relacionadas à própria existência da vida em sociedade ou ao seu progresso. Uma leitura econômica das justificações poderia fornecer a argamassa necessária às paredes das exceções, notadamente sobre essa cara ideia (e promessa) de progresso (DECOSTE, 1993).
Depois, poder-se-ia recorrer ao projeto de um Estado neutro, mas não cego às iniciativas de ampliar as riquezas na certeza de que sociedades mais ricas tendem a ser mais livres. O cálculo utilitarista concorre, porém, com uma perspectiva moral, de viés kantiano, no sentido de que o ser humano é fim e nunca meio, não sendo de admitir a ressurreição das “raisons d’État” sobre outro nome (TUCK, 1999; HEINZ, 2013; SAMPAIO, 2013). Ou bem todos respondiam em lugar do causador ou esse teria de continuar vinculado à obrigação ressarcitória.
Essa querela liberal sofreu influxo dos ideários socialistas que reposicionavam a teleologia social para a vida comunitária justa, mediante instrumentos que subordinavam a autonomia privada a interesses de todos. A culpa ou o dolo, recheios do bolo jusnaturalista e liberal da responsabilidade, herdado dos romanos[2], passaram a ceder espaços à objetivação do dever de indenizar. Sinais desse enfraquecimento já eram notados no final do século XIX, com os apelos de “justiça”, “equidade” e “oportunidade” de imputar a responsabilidade sem culpa, fora das poucas exceções admitidas, mas se tornaram mais visíveis com o desenvolvimento da sociedade de massa e do risco (ALPA, 2010; DEGL’INNOCENTI, 2013). Essa derradeira palavra, risco, virou a chave do comutador teórico: dever-se-ia imputar o dever de indenizar ao sujeito que empreendera um risco relacionado ao dano, não se cogitando o elemento psicológico do dolo ou culpa, a menos que o nexo de causalidade fosse rompido por caso fortuito ou força maior.
Essa exclusão ainda passaria por um desgaste, dentro da mesma lógica de arrefecimento dos aspectos subjetivos da culpa em sentido amplo, para a não incidênia das exclusões residuais da imprevisibilidade: avançava-se, assim, da chamada responsabilidade objetiva relativa, aquela que admitia a exclusão do imponderável, à responsabilidade objetiva absoluta, em que o fortuito não era causa de infirmar o dever indenizatório. Os ganhos de complexidade social, ampliados pelos discursos de um mundo integrado pelas asas das borboletas e pelas possibilidades de cataclismos ecológicos, parecem apontar para uma tendência unidirecional e irreversível: da responsabilidade da culpa à responsabilidade do fato (CASTELLS, 1996; ALPA, 2010, p. 172).
Claro que existem críticas sérias a essa espécie de “securitização” da responsabilidade civil. O desestímulo ao empreendedorismo, às iniciativas e inovações seria uma delas; assim como, alguns creem, paradoxalmente, na criação de incentivos à prática de atividades danosas (FLEMING JR; DICKISON, 1950). Estar-se-ia caminhando para um desenho jurídico da estagnação social ou, ao menos, ampliando os custos de transação, que, ao fim, seriam repassados às camadas economicamente mais vulneráveis da sociedade. A internalização dos custos pela empresa seria, em seguida, externalizada por meio dos preços, comprometendo a saúde fiscal e monetária do Estado, bem como o poder de compra do público (CALABRESI, 1970). Como se nota, há um ambiente apocalíptico nos dois horizontes apresentados: dos defensores e dos críticos da “responsabilidade civil como seguro social”.
A distribuição social das perdas, base da objetivação da responsabilidade, parece mesmo um caminho sem volta, mesmo para os pensadores que põem um olho no direito e outro, o direito, na economia. Certo que naquelas situações em que se justifique adequadamente, segundo um cálculo de custo e benefício, a substituição da culpa pelo fato. Imagina-se, com eles, que a atuação racional dos agentes no mercado, se não produzirem um quadro de pareto à perfeição, procurará uma alocação de recursos que previna situações de danos e mesmo de risco, segundo as regras do mercado. Pouco importa, nessa situação, cogitar sobre a culpa, sendo objetivada a responsabilidade para um cálculo econômico do melhor retorno (de estabilidade do mercado, ganhos, segurança) entre reparar o dano ou deixá-lo sem reparação (CALABRESI, 1970; POSNER, 1972; 1975; CASTELLS, 1996).
A objetivação da responsabilidade parece um caminho sem volta, mas é preciso cuidar para que a justiça não seja comprometida, a menos que, feito Posner (1975), conclua-se pela avaliação de seu custo antes de qualquer compromisso. Certamente a economia tem a ensinar ao direito, mas está (ou deveria estar) longe de o direito buscar na lógica econômica sua própria lógica. Argumentos morais têm um relevo que não se deve abandonar em troca de promessas monetárias. Como destaca Fleming (1984), a responsabilidade sem culpa complementa e não exclui a responsabilidade subjetiva. Uma serve a determinadas atividades, dada a transcendência do evento danoso e da atividade envolvida; outra se presta a situações mais corriqueiras.
3 A RESPONSABILIDADE CIVIL NO DIREITO POSITIVO DO BRASIL
A história da responsabilidade civil no Brasil apresenta os traços gerais delineados há pouco: uma predominância quase absoluta da exigência de culpa, seguida por uma progressiva ampliação da responsabilidade objetiva. O Código Civil de 1916 estabelecia, embora prevesse hipóteses de responsabilização sem culpa, admitidas outras previsões legais. Era o caso, por exemplo, da Lei das Estradas de Ferro, Decreto 2.681/1912, que presumia a culpa e, portanto, a responsabilidade das estradas de ferro pela perda total ou parcial, furto ou avaria das mercadorias transportadas. O próprio Decreto admitia exclusão dessa responsabilidade pelos fatos que elencava, dentre os quais, o caso fortuito ou força maior (art. 1ª (1ª)).
E seguiu-se assim até a aprovação do Código Civil atual que prevê, para além de uma regra geral de responsabilidade subjetiva, outra, também geral, da responsabilidade sem culpa. De acordo com o caput do artigo 927, “[a] quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Mas o parágrafo único prevê que haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Lei ou atividade de risco são as senhas da dispensa da culpa.
No direito público, as discussões sobre a responsabilidade do Estado ganharam latitude a partir da previsão constitucional de 1946, ao dispor que as “pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos danos que os seus funcionários, nessa qualidade, causem a terceiros” (art. 194). A redação foi mantida quase intacta nos documentos constitucionais que se seguiram (art. 104, Carta de 1967; art. 109, EC 1/1969), inclusive o atual: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros” (art. 37, § 6º).
Mas quais seriam os fundamentos e alcance dessa responsabilidade sem culpa? Tanto nos extratos civilistas, quanto nos debates do direito público, passou-se a divisar preferencialmente a teoria do risco como fonte da obrigação de indenizar, embora se desenhasse uma alternativa, dita “garantia”. Por essa última, todos, independentemente de culpa, devem responder pelo dano causado à vítima. O objetivo, portanto, está na reparação que se faz a título de garantia (RACCAH, 1979; CARBONIER, 2000). Pelo risco, quem quer que exerça uma atividade causadora de perigos especiais deve responder pelos danos que acarretar. Longe de ter uma concepção unitária, várias foram as doutrinas sobre as modalidades de risco que surgiram: risco integral (o dano causado a terceiro por atividade ou profissão perigosa ou de risco, sem exceção), risco profissional (o dano é decorrência da atividade ou profissão do lesado), risco excepcional (o dano é resultado de um risco excepcional, fora da atividade normal da vítima, mesmo que alheio ao trabalho que exerça), risco proveito (responsável é quem tira proveito da atividade danosa – ubi emolumentum, ibi onus), risco criado (o dano causado a terceiro por atividade ou profissão perigosa ou de risco, salvo prova de ter adotado as medidas aptas a evitá-lo) (JOURDAIN, 1994).
No Brasil, como em outros domínios, os debates se polarizaram em torno do primeiro e do último, risco integral e risco criado, orbitando a distinção basicamente na inadmissibilidade ou não das excludentes de caso fortuito, força maior, fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima, com preferência à última sobre a primeira (PEREIRA, 1993).
No direito público, o risco também foi o mote da responsabilidade do Estado, agora dividido entre o administrativo e, outra vez, o integral. A distinção tinha paralelo com aquela das polaridades civilistas: o risco mitigado (ou administrativo) acolhia exclusões da responsabilidade; o integral, não. Pedro Lessa (1914), Francisco Campos (1934), Castro Nunes (1935)[3], Alcindo de Paula Salazar (1942), Filadelfo Azevedo (1943) e Themístocles Cavalcanti (1959) mostravam simpatia à doutrina, embora divergissem exatamente quanto à exclusão da ideia de causalidade (CAVALCANTI, 1959, p. 188)[4]. As Constituições de 1824 e de 1891 previam apenas a responsabilidade estrita dos empregados públicos pelos abusos praticados no exercício de suas funções (arts. 179(29) e 82), embora o entendimento majoritário, corroborado pela existência de alguns dispositivos legais e jurisprudência, reconhecesse a solidariedade entre Estado e seu empregado. Pimenta Bueno, por exemplo, afirmava, quase ao nascedouro do Império, que “a responsabilidade dos agentes do poder constitui […] uma das condições e necessidades essenciais da ordem e liberdade pública, uma das garantias indispensáveis dos governos constitucionais” (BUENO, 1857, p. 437-438)[5]. Esse entendimento já convencia a maioria dos autores brasileiros, mesmo antes do Código Civil de 1916. Eventos danosos produzidos pela inobservância dos deveres funcionais ou de culpa dos agentes públicos, mesmo em caso de movimentos armados, deveriam ser reparados pelo Estado, a menos que houvesse prova de que foram adotadas todas as providências necessárias para evitá-los (BARBOSA, 1934, p. 442 e ss.). Pedro Lessa (1914, p. 170) antevia a falha de serviço como causa indenizatória já no início do século XX. O Estado, por exemplo, poderia não responder patrimonialmente perante a pessoa que fora vítima de um furto, pois era patente a ausência do vínculo direto entre o dano (decorrente do furto) e o ato do poder público; mas seria obrigado a indenizar a vítima, se fosse comunicada a possibilidade de agressão à pessoa ou o atentado à coisa, consumado o dano em face da inércia da polícia.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também antes do Código Civil de 1916, já se havia firmado a favor da responsabilidade do Estado, embora com certa vacilação entre a culpa e o dolo, ato de gestão e atos de império, admitindo-a quando se estava diante dos dois primeiros elementos do binômio (ato de gestão e culpa), mas não dos outros dois [6]. Pedro Lessa conseguiu, em 28 de dezembro de 1918, na Apelaça~o Ci´vel 2.403, reverter temporariamente a distinção. Não havia motivo para a sua existência. Os argumentos foram mais bem expostos por ele, agora derrotado, nos embargos daquela decisão, julgados em 31 de julho de 1920. Começa-se a criticar a diferença entre ato de gestão e império:
Como bem doutrina Clo´vis Bevila´qua (comenta´rio ao artigo 15 do Co´digo Civil, p. 281, v. 1o), distinguir entre atos de gesta~o e atos de impe´rio, para excluir estes da responsabilidade civil, e´ ignorar que o fundamento dessa responsabilidade e´ o princi´pio juri´dico em virtude do qual toda lesa~o de direito deve ser reparada, e que o Estado, tendo por funça~o principal realizar o direito, na~o pode chamar a si o privilégio de contrariar, no seu interesse, esse princi´pio de Justiça. (HORBACH, 2007, p. 130)
A interpretação, de base hoje dita principiológica, remetia-se ao que considerava mais atualizado. A concisão do texto constitucional de 1891 não estava fechada a colher uma inteligência que emanava da melhor doutrina e da previsão da responsabilidade civil do Estado pelo artigo 131 da Constituiça~o de Weimar, “uma Constituiça~o adiantadi´ssima e votada por um povo de excepcional cultura juri´dica”, dizia ele, combatendo também a orientação de que culpa, não o dolo, obrigava o Estado a indenizar o dano:
Distinguir entre atos praticados pelo funciona´rio culposamente, por negligência ou ignorância, e atos praticados de ma´-fe´, criminosamente, e´ exceder os limites do erro. Em Otto Mayer, Le Droit Administratiff Allemand, tomo 4o, p. 231, da ediça~o francesa de 1906, bem claramente se mostra que a responsabilidade do Estado na~o depende de ser o ato do funciona´rio culposo ou criminoso. Da´-se sempre, podendo e devendo o Estado por seu turno indenizar, cobrando judicialmente o prejui´zo do funciona´rio, culposo ou criminoso. Supor que o Estado responde pelo prejui´zo causado ao particular, quando o causador e´ um funciona´rio culposo, e na~o responde, quando o funciona´rio e´ delinqüente; ou que e´ nenhuma a responsabilidade do Estado, quando nomeia um funciona´rio criminoso, e completa, quando nomeia um funciona´rio culposo, e´ um verdadeiro contra-senso. (HORBACH, 2007, p. 130)
O entendimento do Supremo Tribunal no período fundava-se na doutrina da culpa, admitindo a exclusão no caso fortuito ou força maior. Somente haveria direito à indenização o dano que fosse provocado pelo Estado e seus agentes, nessa condição, operando em falta de prudência, com imperícia ou negligentemente. Em diversas ocasiões conturbadas da história constitucional do País, afastou-se a culpa em vista da força maior dos levantes e insurreições. Foi assim com os prejuízos decorrentes da revolta dos marinheiros da esquadra em 1910[7], do bombardeio a Manaus naquele mesmo ano (a maioria dos julgados), da revolta do Forte de Copacabana de 1922, bem como dos levantes paulistas em 1924 de tropas estaduais e federais com ocupação e bombardeio da cidade, e da Revoluça~o de 1930, embora neste caso, os tribunais locais, excetuado o do Rio de Janeiro, tenham tendido a reconhecer o direito (AZEVEDO, 1943).
A indenização era devida se o poder público, de algum modo, insuflasse os revoltosos como no bombardeio da Bahia em 1912 e no Ceará. A ambiguidade marcou algumas decisões, talvez menos pela coerência doutrinal e mais pelo ambiente político. Reconheceu-se o direito de alguns comerciantes alemães a recompor os danos causados por distúrbios ocorridos em várias cidades do País contra eles em 1918, embora para outros, esse direito tenha sido negado. Tampouco houve reparação à companhia jusforana que sofrera ataques de grupos populares, insuflados pelo Comissariado de Alimentação, diante do aumento dos preços (AZEVEDO, 1943).
Em 1934, estabeleceu-se expressamente a responsabilidade solidária do Estado, sempre atrelada à culpa de seus funcionários (art. 171), repetindo-se a previsão em 1937 (art. 158). Com a Constituição de 1946, passou-se à responsabilidade estatal pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causassem a terceiros. Já não se falava em solidariedade, agora se adotava o princípio da responsabilidade em ação regressiva contra o funcionário; tampouco se mencionava a atuação culposa. Essa referência à culpa do funcionário para a ação regressiva levou alguns autores, em minoria, a defender a manutenção da responsabilidade subjetiva (MAXIMILIANO, 1954, p. 260-261); todavia, como realça Pontes de Miranda (1967, p. 523-524), dela não se tratava.
Os intérpretes, atentos à literalidade do dispositivo constitucional que imputava à Administração a responsabilidade apenas pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causassem a terceiros, refutavam a admissibilidade da teoria do risco integral, defendida, dentre outros, por Pedro Lessa e Amaro Cavalcanti. Pontes de Miranda (1967) chegara a ser ácido a seus defensores, notadamente a Lessa, por criticar a teoria subjetiva e a do risco mitigado como “vetusta e inqualifável teoria civilística, antiqualha”, cujos préstimos eram apenas de mostrar “como nossos antepassados eram atrasados na matéria”. Injusta acoimação, dizia Pontes de Miranda: “os nossos antepassados, alguns sábios ou profundos conhecedores, não se deixavam levar pelo primeiro livro francês que, en passant, compravam nas livrarias” (p. 524).
Intrigas acadêmicas à parte, a tese da objetividade mitigada ou, como passou a ser chamada, a teoria do risco administrativo ganhou a preferência de juristas e da jurisprudência. As primeiras expressões de realce dessa nova orientação surgiram no repertório do Supremo Tribunal Federal após 1945. Aliás, nesse mesmo ano, proferira decisão em que cravava a falha ou falta do serviço estatal como razão de indenizar mesmo diante de evento multitudinário. Dispôs: “responde o Estado pelos danos verificados no movimento revolucionário de 1930 pela falta de garantia e assistência policial aos particulares” (BRASIL, 1945). Era uma guinada na orientação que adotava a exigir prova da culpa do Estado. Dois anos antes, o Tribunal havia concluído que, em não havendo prova de culpa do Estado, por ato ou omissão no cumprimento de seus deveres, não se poderia fazê-lo responsável pelos danos causados por uma “malta sediosa” (BRASIL, 1943).
O movimento de que fala o acórdão fora um levante militar em 1935 que provocara danos a algumas pessoas no Rio Grande do Norte, sob intervenção federal. Em 1949, o Tribunal, em embargos, reformou a própria decisão, agora, afirmando, pela voz de Orozimbo Nonato, que a responsabilidade em causa era objetiva e não a da culpa, embora se ativesse à ideia de que a obrigação de indenizar surgira da falha do serviço, vale dizer, omissão ilícita: “O mau exercício da função militar pelos membros das Fôrças Armadas acarreta a responsabilidade da Fazenda Nacional no dano causado a terceiros” (BRASIL, 1949).
Pouco antes, em 1947, num caso em que também discutia a possibilidade de responsabilização do Estado por danos causados em motins, distúrbios, revoltas ou outras perturbações da ordem pública, comprometera-se com a doutrina. Embora tenha exigido a prova da culpa, o que parece ainda eco do passado[8], deixou as linhas escritas de que a obrigação do Estado de indenizar o dano, mesmo sem cogitar-se a culpa, limitava-se a atos praticados pelos funcionários públicos no exercício da função. A tese se havia firmado, a ponto de o Tribunal afirmar, de modo peremptório: “responde o Estado pelos danos decorrentes da negligência ou do mau aparelhamento do serviço público” (BRASIL, 1958). Caio Tácito (1959, p. 262) brindava o entendimento, adotado pelo Tribunal, de que a culpa administrativa, fundada na falta impessoal do serviço, era a doutrina mais progressista, reservando-se o risco para as hipóteses excepcionais tipificadas em lei. A acolhida do risco integral, entendido com responsabilidade sem exclusão, converteria o Estado numa espécie de segurador universal de prejuízos sofridos por alguém, mesmo que provocados por culpa da vítima (BACELLAR FILHO, 2000; MEIRELLES, 1998).
A distinção entre risco integral e administrativo, na verdade, ficava mais nas primeiras palavras dos textos ou na confusão entre elas, pois, ao fim e, às vezes, em nota de pé de página, os objetivistas radicais acabavam admitindo, em algum grau, a exclusão da responsabilidade, não fosse o caso fortuito ou a força maior, poderia ser a culpa exclusiva da vítima (FALCÃO, 1970; CAHALI, 1982; DIAS, 1997; AGUIAR JUNIOR, 1993)[9]. Havia, como há, a preocupação de distinguir hipóteses em que se infirmava o nexo causal e, portanto, a responsabilidade (como a ocorrência de força maior ou fato da natureza imprevisível e irresistível, a culpa exclusiva da vi´tima ou de terceiro) daqueles em que há o nexo, embora possa ou não sofrer atenuação a responsabilidade (como no caso fortuito, entendido como atos e fatos humanos danosos, todavia, imprevisíveis e internos ou relacionados à atividade do Estado, e a culpa concorrente da vítima) (BACELLAR FILHO, 2000)[10]. Assim também se poderiam identificar situações em que o dano, por não ser especial, particular ou anormal, não poderia ser reparável como seria aquele produzido em estado de guerra, sítio ou calamidade pública, além de outras hipóteses semelhantes de estado de necessidade. Nesses casos, a coletividade e não o indivíduo ou um pequeno grupo sofreria o prejuízo, a dor, o dano (CAVALCANTI, 1955; AGUIAR JUNIOR, 1993).
O debate em torno da previsão constitucional de 1988 reflete ainda as causas que excluem ou não a responsabilidade estatal, ao contrapor, como se tem feito a partir de 1946, a exclusividade da reponsabilidade objetiva (FAGUNDES, 1957; DIAS, 1997; BACELLAR FILHO, 2000) à possibilidade de, em certos casos, dar-se a responsabilidade pela faute du service ou omissão estatal ilícita. Chuvas que provocam enchentes e deslizamentos de terra que destroem casas ou vidas, por exemplo, não inibem a responsabilidade civil do Estado, se ficar demonstrada a falta de limpeza dos rios, bueiros e galerias pluviais; tanto quanto pelos prejuízos decorrentes de ações de delinquentes ou de multidão propiciadas pela omissão do Estado (DI PIETRO, 1995, p. 415; BANDEIRA DE MELLO, 2009, p. 1002 e ss.).
4 A RESPONSABILIDE CIVIL AMBIENTAL NO DIREITO BRASILEIRO
É firme o entendimento doutrinal sobre a natureza objetiva da responsabilidade civil ambiental, pela inteligência que é dispensada à Constituição Federal brasileira e às normas infraconstitucionais, notadamente o artigo 14, § 1º, da Lei 6928/81, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente. O tratamento legislativo não deixa dúvidas, pela literalidade: cuida-se de responsabilidade sem culpa. O artigo 225 da Constituição não é expresso a respeito como o é, por exemplo, o texto constitucional em relação à atividade nuclear: a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa (art. 21, XXIII, “d”). A interpretação dos dois dispositivos, associada ao argumento a contrario, levaria a um caminho oposto: responsabilidade subjetiva. É uma contradição, haurida da superficialidade. Em primeiro lugar, o caput do artigo 225 eleva o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao status fundamental de caráter difuso, intergeracional e essencial à sadia qualidade de vida. Não é pouco.
Depois, a Constituição reforça o dever de reparar em diversas passagens de seu texto. Lembre-se, por exemplo, da obrigação imposta, a quem explorar os recursos minerais, de recuperar o meio ambiente degradado, seguindo a solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei (art. 225, § 2º). Assim também a obrigação de todos a reparar os danos causados ao meio ambiente, notável reconhecimento do princípio do poluidor ou usuário pagador (art. 225, § 3º). A recuperação e a reparação do meio ambiente são deveres incontornáveis dos que danificam o ambiente, por qualquer meio, forma ou atividade, licita ou ilícita, sofrendo ainda os infratores, nesse derradeiro caso, sanções penais e administrativas. A responsabilidade sem culpa é consequência lógica (e doutrinal) do dever de reparar e do princípio do poluidor-pagador (FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 121). Se a reparação ambiental dependesse da prova da culpa, poucos seriam os casos de incidência do dever, o que revela a impropriedade entre o sistema de proteção jusambiental e o instituto da responsabilidade civil subjetiva[11].
A legislação infraconstitucional, por isso mesmo, institui um quadro normativo da responsabilidade civil ambiental objetiva. A Lei 6.928/81 a define como princípio geral da política nacional do meio ambiente, ao prescrever que “é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade” (art. 14, § 1º). Esse dispositivo teve o reforço do artigo 927, parágrafo único, Código Civil de 2002, que estabeleceu a cláusula geral da responsabilidade sem culpa (reparação de dano), nos casos especificados em lei (princípio da tipicidade da responsabilidade objetiva), ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (teoria do risco da atividade).
Embora referido parágrafo não seja uma sobrenorma ou norma-parâmetro da responsabilidade civil, que viesse a exigir um juízo de constitucionalidade (ou de legalidade) de norma subposta ou de conflito de leis no tempo, em face precisamente da Lei 6.928/81, pode bem ser enxergado como um elemento sistêmico que aprofunda a coerência normativa em torno do dever de reparação do dano ambiental, porquanto a responsabilidade objetiva ambiental cumpre não apenas uma, mas as duas exigências por ele prescritas. O requisito da tipicidade é atendido pela Lei de 1981; enquanto o risco, inerente à atuação interventiva sobre a natureza, preenche a segunda hipótese (a exigência do risco). Na jurisprudência, o tema é pacificado. Vejam-se, dentre tantos exemplos, a afirmação da dispensa da culpa na responsabilização civil tanto na Primeira (REsp. 214714/PR – j. em 17.08.1999; REsp. 218120/PR – j. em 24.08.1999; REsp-AgRg-EDcl 255170/SP – j. em 01.04.2003; REsp. 927979/MG – j. em 15.05.2007), quanto na 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 282781/PR – j. em 16.04.2002; REsp. 195274/PR – j. em 07.04.2005; REsp. 948921/SP – j. em 23.10.2007; REsp. 1069155/SC – j. em 07.12.2010).
Dúvidas surgem quanto à teoria que fundamenta essa responsabilidade e as consequências que daí se extraem para as hipóteses de sua incidência. No direito ambiental brasileiro, certamente, influenciado pelos debates havidos no direito administrativo e, em parte, entre os civilistas, as correntes se dividem entre os que adotam a teoria do risco criado, por vezes identificado como risco proveito, e os que se filiam ao risco integral. Essa última estaria assimilada à teoria de mesmo nome em direito administrativo, sem muita controvérsia sobre a inaplicabilidade das excludentes como caso fortuito e força maior; enquanto aquela, risco criado, está próxima do risco administrativo, por, em regra, admitir as excludentes.
A maioria da doutrina brasileira afirma que, somente com a adoção da teoria do risco integral, o meio ambiente será efetivamente protegido. Em se cuidando de um direito difuso e intergeracional, a sua violação importaria ofensa à coletividade e às gerações vindouras. A justiça e a equidade não se compaginam com a transferência, para a coletividade do presente e do futuro, do dever de reparar o dano provocado ou de com ele conviver. Em se tratando de um dano de difícil prova do nexo causal, por envolver a complexidade de relações ecológicas, cujas alterações, envoltas em incertezas, nem sempre se fazem sentir de imediato, admitir a existência de cláusulas de exclusão da responsabilidade seria, na prática, chancelar a irreparabilidade de um grande número de eventos, inclusive os mais graves. Descaberia, assim, a invocação do caso fortuito ou da força maior (CAVALIERI FILHO, 2012, p. 154), ou da licitude ou licença da intervenção, ou empreendimento (COSTA NETO, 2003; MIRRA, 2005) para isentar-se do dever de reparar. Essa opinião é bastante difundida entre os autores como Nelson Nery Jr. e Rosa Nery (1993), Cláudia Santos, José Eduardo Dias e Maria Alexandra Aragão (1997), Celso Fiorillo e Abelha Rodrigues (1997), Herman Benjamin (1998), Édis Milaré (2000), José Rubens Morato Leite (2000), dentre tantos[12].
Há quem advogue a presunção da não incidência de exceções à responsabilidade como o caso fortuito, a força maior ou fato de terceiro. É um caso da adoção da teoria do risco integral sob reserva, chame-se assim, embora, como se verá, lembre a faute du service. Pois então, imagine-se o dano provocado por um terremoto que atinja uma usina nuclear. Terremoto é fato externo à atividade, um fato necessário da natureza a teor do artigo 393 do Código Civil. Pelo risco integral, não abala a responsabilidade. A questão está em saber se era previsível, pois nem tudo que é previsível é evitável e vice-versa. A aferição da previsibilidade é feita por estudos prévios sobre a viabilidade locacional da usina, inclusive a possibilidade de passar por abalos sísmicos. Assim também se deveriam apurar as medidas, porventura, adotadas para impedir ou minorar, de acordo com as disponibilidades tecnológicas existentes, os danos e vazamentos radioativos. Em se apurando que nada ou pouco fora feito, responsabiliza-se. Do contrário, não, argumentando-se que a prova cabe ao empreendedor (MACHADO, 2015).
Muitos autores cerram fileiras à visão absolutista da responsabilidade objetiva ambiental. Uns entendem que o raciocínio aplicado ao Estado deve ser empregado ao poluidor, exigindo-se o nexo causal entre o dano e a atividade por ele exercida. Não se pode falar em responsabilidade se houver a ação de terceiros na causa do dano ambiental, vítima ou não, nem por caso fortuito e a força maior (LIMA, 1998; MUKAI, 2002). Também se poderia argumentar que responsabilidade objetiva desigualaria a relação processual entre as partes, em vista da análise tão somente do fato e do nexo para que se venha a estabelecer a obrigação de reparar o dano. Chama-se atenção para o fato de a responsabilidade por risco integral não se confundir com a responsabilidade derivada da existência da atividade. Um empreendimento, por exemplo, que tenha sido vitimado por fato de terceiro não pode responder por danos causados por esse terceiro, como se lhes houvesse dado causa. Responsabilidade por risco integral não pode ser confundida com responsabilidade por fato de terceiro, que somente teria acolhida no direito pátrio quando expressamente prevista em lei (ANTUNES, 2002).
Imagine-se, ainda, que um empreendedor tenha obtido a devida licença ambiental, em que foram analisados os aspectos técnicos de viabilidade socioam biental, segundo as normas vigentes, iniciando a operação. Ocorre que foram constatadas, durante um certo tempo, consequências ambientais negativas não esperadas como a mortandade de peixes. Pelo risco integral, a indenização é devida. Seria injusto e desmedido responsabilizar o empreendedor, além de atentatório à segurança e à boa-fé, dizem alguns (KRELL, 1998; BARACHO JR., 1999).
5 O RISCO INTEGRAL NA RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – UMA INTERPRETAÇÃO POLÍTICA
Por que o risco absoluto ou integral deve ser preferido às outras teorias da responsabilidade civil para o dano ambiental? Pelo objeto e direito envolvidos; pela necessidade de minimizar os efeitos da ideologia hegemônica da apropriação inesgotável[13]. Em sendo um bem transindividual, coletivo ou, na dicção constitucional, “de uso comum do povo”, que integra o patrimônio indiviso das atuais e futuras gerações, sendo pressuposto, fonte e matriz da vida, nenhum dano que sofra poderá ficar sem reparação.
Esse dever absoluto de reparar, oriundo da natureza e importância do objeto protegido, pode ser obstado, todavia, pela quase sempre dificuldade de precisar-se o nexo causal de um dano difuso no espaço (a superar fronteiras, divisas, geografias) e no tempo (os efeitos se podem produzir muito tempo depois do evento), com impactos subjetivos indeterminados (as vítimas humanas, ou não, respondem muitas vezes de modo diverso), e submetido a testes de incerteza pelos estudos científicos, encomendados ou não, que ou se mostram divergentes ou incertos.
Se é possível pensar que um empreendedor precatado não pode ser penalizado por algo que estaria fora de sua previsão, não é diferente imaginar que o risco, base da atuação e eventual responsabilidade, é sempre um elemento no horizonte. O risco impossível não é risco; tampouco o risco certo, que é sinistro. O “risco possível” é sempre um evento futuro e incerto situado dentro do campo de uma previsibilidade objetiva, e não sobre parâmetros decisionistas de “homem médio” ou de um “standard of care”, que existem na cabeça indivisa de cada intérprete. Ou se aposta numa loteria forense[14] com zaps marcados a favor da economia, ou se apela a uma séria doutrina da responsabilidade civil que contrarie as pré-compreensões “econófilas” do intérprete.
Essa é a orientação inspirada no objeto e no direito protegidos, e na necessidade de dar-lhe efetividade, pois se está a tratar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e da pretensão subjetiva jusfundamental a ele correlacionada. A integridade dinâmica do ambiente é preciosidade que se aquilata pela infungibilidade relativa dos processos ecológicos e na própria relevância à saúde e vida humanas. Um espaço vital, todavia, caracterizado por uma ideologia de apropriação inesgotável que atravessa os diversos âmbitos da vida humana, desde as triviais ações dos indivíduos a seus fazeres coletivos. Essa ideologia da apropriação contagia os juízos morais e enfarda os processos decisórios, operando, como toda ideologia, às vezes, de modo ostensivo; mas, na maioria dos casos, silenciosamente (BEETHAM, 1991; RICOEUR, 1967)[15]; o que vale para a responsabilidade tanto por culpa como sem ela (CONAGHAN; MANSELL, 1992).
Os reclames de proteção, hauridos em antecipações do que pode suceder com a intervenção desenfreada no ambiente, são vistos com profundo desdém, a ponto de sofrerem um processo de desqualificação moral, como se fossem oráculos de veros megatérios do desenvolvimento, e técnica, com estudos encomendados que desafiam os prognósticos feitos. Diante de sinais de deterioração dos espaços de vivência, esses reclames são incorporados em normas com finalidade apenas semântica e simbólica[16]. Essa teleologia da inação tanto é resultado de um projeto deliberado dos atores políticos e econômicos, com a introdução de disposições normativas enredadas ou demasiadamente abertas, quanto de atuação inconsciente da ideologia sobre esses mesmos atores e, em sequência, sobre os agentes encarregados de aplicá-las (EDELMAN, 1992).
A efetividade plena das normas, para além do atendimento simbólico dos reclames, esbarra, portanto, na ideologia entranhada numa cultura de naturalização do drama da natureza de que todos são, ao mesmo tempo, partes e espectadores. Agem como partes do processo, mas o analisam e interpretam como se não fossem atingidos pelas consequências daquele mesmo drama (KENNEDY, 1992)[17]. A relação dentro/fora, promovida pelo alheamento da ideologia, conduz à fantasia de que a legislação é, per si, bastante como Zollen.
Se essa interpretação for correta, como é, haverá uma propensão de o intérprete considerar como prudentes, segundo os “standards of care”, atuações que se façam acompanhar de medidas de prevenção tecnicamente determinadas, ainda que notoriamente produtoras de alto grau de impacto ambiental, em face de um excessivo regime de chuvas que levem as barragens de rejeito junto com a prudência, vidas e ambiente à jusante. A “anormalidade” do clima não é um mero desvio do padrão, mas uma variável existente no horizonte de possibilidades.
Os benefícios gerados em ciclos de normalidade justificam o ônus a ser suportado em seus desvios dentro da previsibilidade objetiva, como reminiscência da premissa romana “commoda ubi, incommoda ibi”. A adoção do risco absoluto ou integral é, portanto, uma estratégia hermenêutica contraideológica e uma derivação do princípio in dubio pro natura, uma política da interpretação (transformadora), em última análise (WEST, 1990; KAIRYS, 1992).
6 CONCLUSÕES
A objetivação da responsabilidade civil foi uma resposta dada pelo direito no contexto de sociedade e demandas massificadas. O pressuposto da culpa pelo dano causado deu lugar à necessidade de um mero nexo de causalidade entre um ato ou omissão e o dano. Esse processo não se operou por sucessão, expressando-se mais como um fenômeno de especialização e complementaridade. Para certas condutas, a responsabilidade da culpa se ajusta melhor, enquanto para outras, a objetivação é o melhor remédio.
Várias foram as teorias que procuraram fundamentar a responsabilidade objetiva. Duas entre elas se destacaram: o risco criado e o risco integral. Embora as distinções ainda se embaralhem de doutrina a doutrina, a maior diferença entre eles está no reconhecimento de excludentes de responsabilização como o caso fortuito, a força maior e a conduta exclusiva da vítima. O zelo pela conclusão, mesmo sob o risco de não contemplar todas as variações existentes, permite afirmar que o risco integral não as admite, enquanto o risco criado as acolhe.
No Brasil, o processo de objetivação da responsabilidade civil tem registro, pelo menos, desde a República Velha. É certo que, durante o Império, houve leis que estabeleciam a responsabilização por danos, na tradição de punir o descumprimento do brocardo de neminem laedere, assim como se antecipou a países centrais na atribuição do dever de indenizar algumas instrumentalidades estatais, mas foi mesmo nos ares republicanos que o instituto se firmou, e foi nele que se conheceu mais propriamente a responsabilidade sem culpa. Enquanto o Código Civil de 1916 previa uma única forma de responsabilidade, a subjetiva, leis esparsas e, principalmente, a jurisprudência foram desenhando aquele instituto, notadamente em face de atos do poder público.
Com o seu reconhecimento para indenização de danos praticados por agentes públicos, agindo nessa condição, pelo texto constitucional de 1946, os debates se encaminharam mais para saber se era devida a adoção de uma responsabilidade plena, sem admitir causas de exclusão do nexo causal, na linha do risco total, ou se o caminho deveria ser aquele apontado pelo risco mitigado, relativo ou, como passou a ser chamado, administrativo, que as admitia.
A responsabilidade objetiva encontrou no direito ambiental um campo próprio para também desenvolver-se. As leis se anteciparam à Constituição para reconhecê-la (v.g., Lei 6.453/77 sobre a responsabilidade civil nuclear, e Lei 6.938/81 sobre a política nacional do meio ambiente). O texto constitucional de 1988 a previu expressamente para a atividade nuclear e implicitamente para toda atuação que provocasse dano ao meio ambiente. Outra vez polarizaram-se a doutrina do risco integral e a doutrina do risco criado, nome mais bem aceito no ramo, refutando a primeira e aceitando a segunda as excludentes de responsabilidade. Embora seja ainda cedo, a jurisprudência, pelo menos, aquela capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, parece adotar a primeira delas.
E com razão. O dano ambiental tem particularidades que exigem um tratamento diferenciado e mais racial: é disperso, difuso, indeterminado muitas vezes; incerto outras; silencioso e invisível em muitos casos, sendo percebido só depois de muito tempo. Um dano assim dificulta encontrar o rastro de quem o provocou. Um dano assim que lida com a matéria-prima da vida, objeto de um direito que se confunde com a condição de possibilidade do próprio direito: a existência tão digna que é sadia e garantida, com a apólice do direito, para o futuro, as futuras gerações.
Um dano que, se forem aceitas as excludentes, dificilmente será reparado pela percepção, induzida por uma ideologia da apropriação inesgotável da natureza, de se tratar de um efeito colateral do progresso. Um dano que, se deixar, torna-se naturalizado, feito natureza das coisas humanas, contra, na verdade, a natureza em que estão as coisas humanas e a própria vida. Admitir a possibilidade de escusa é abrir um corredor quase infinito por onde escorregarão as possibilidades de restauração, deixando apenas os riscos de um amanhã imprevisível.
REFERÊNCIAS
AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado. A Responsabilidade Civil do Estado pelo Exerci´cio da Funça~o Jurisdicional no Brasil. AJURIS, v. 20, n. 59, nov. 1993. Disponi´vel em: <http://bit.ly/1eLACJn>. Acesso em: 30 jul. 2015.
AGUIAR, Roberto Armando Ramos de. Direito, Poder e Opressa~o. Sa~o Paulo: Alfa-Ômega, 1982.
ALPA, Guido. La responsabilità Civile. Parte Generale. Torino: UTET, 2010.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6. ed. ampl. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
AZEVEDO, Filadelfo. Voto. In: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Apelação Cível 7264. p. 565-576 – j. em 12.04.1943. Disponível em: <http://bit.ly/1E36Er7>. Acesso em: 30 jul. 2015.
AZEVEDO, Plauco F. Direito, Justiça Social e Neoliberalismo. Sa~o Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
BACELLAR FILHO, Romeu F. Responsabilidade Civil Extracontratual das Pessoas Juri´dicas de Direito Privado Prestadoras de Serviço Pu´blico. Revista Interesse Pu´blico, n. 6, p. 11-47, 2000.
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 26. ed. rev. e atual. Sa~o Paulo: Malheiros, 2009.
BARACHO JR. José Alfredo O. Responsabilidade Civil por Dano ao Meio Ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 1999.
BARBOSA, Ruy. Commentários à Constituição Federal Brasileira. Arts. 63 a 72. Colligidos e Ordenados por Homero Pires. São Paulo: Saraiva, 1934. v. 5.
BEETHAM, David. The Legitimation of power. London: Macmillan, 1991.
BENJAMIN, Antonio Herman V. A Responsabilidade Civil pelo Dano Ambiental. Revista de Direito Administrativo, v. 9, n. 5, p. 75-136, jan./mar. 1998.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Apelaça~o Ci´vel 7225 – j. em 03.05.1945. Disponível em: <http://bit.ly/1STx993>. Acesso em 30 jul. 2015.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Apelação Cível 7264 – j. em 12.04.1943. Disponível em: <http://bit.ly/1E36Er7>. Acesso em 30 jul. 2015.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pleno. Apelação Cível (ED) 7264 – j. em 07.04.1949. Disponível em: <http://bit.ly/1IyhTc3>. Acesso em 30 jul. 2015.
BRASIL Supremo Tribunal Federal. RE 20372 – j. em 25.04.1958. Disponível em: <http://bit.ly/1SxOSbv>. Acesso em: 22 jul. 2015.
BUENO, José Antônio Pimenta. Direito Público Brazileiro e Analyse da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Typographia Imp. e Const. de J. Villeneuve & C., 1857.
CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade Civil do Estado. Sa~o Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.
CALABRESI. The Costs of Accidents. New Haven: Yale University Press, 1970.
CAMPOS, Francisco. Pareceres. Rio de Janeiro: [s.e.], 1934. v. 1.
CARBONIER, Jean. Droit Civil. Tome IV. Les Obligations. 22eme. éd. Paris: PUF, 2000.
CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. V. II (A Era da Informaça~o: Economia, Sociedade e Cultura). 2. ed. Tradução de Klaus Brandini Gerhardt. Sa~o Paulo: Paz e Terra, 1996.
CAVALCANTI, Amaro. A Responsabilidade Civil do Estado. Atualizado por J. A. Dias. Rio de Janeiro: Borsoi, 1957. t. II.
CAVALCANTI, Themístolces Brandão. A Constituição Federal Comentada. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: José Konfino, 1959. v. IV.
CAVALCANTI, Themistocles Branda~o. Tratado de Direito Administrativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1955. v. I.
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
CESAREO-CONSOLO, Giovanni. Trattato sul Risarcimento del Danno. Torino: UTET, 1908.
CONAGHAN, Joanne; MANSELL, Wade. Tort Law. In: GRIGG-SPALL, Ian; IRELAND, Paddy (Eds.). Critical Lawyers Handbook. London: Pluto Press, 1992. p. 61-64.
COSTA NETO, Nicolao Dino C. Proteção Jurídica do Meio Ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
CRETELLA JUNIOR, Jose´. Tratado de Direito Administrativo. Responsabilidade em Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970. v. VIII.
DECOSTE, Ted. Taking Tort Progressively. In: COOPER-STEPHENSON, Kenneth (Ed.). Tort Theory. North York: Captus Press, 1993. p. 240-275.
DEGL’INNOCENTI, Francesca. Rischio di Impresa e Responsabilità Civile: La Tutela dell’Ambiente tra Prevenzione e Riparazione dei Danni. Firenze: Firenze University Press, 2013.
DIAS, Jose´ de Aguiar. Da responsabilidade Civil. 11. ed. Sa~o Paulo: Renovar, 2007.
DI PIETRO, Maria Silvia Zanella. Direito Administrativo. 5. ed. Sa~o Paulo: Atlas, 1995.
EAGLETON, Terry. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991.
EDELMAN, Lauren. Legal Ambiguity and Symbolic Structures: Organizational Mediation of Civil Rights Law. American Journal of Sociology, v. 97, n. 6, p. 1531-1576, 1992.
FAGUNDES, Miguel Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1957.
FAIRCLOUGH, Norman. Language and Power. Longman: London, 1989.
FALCÃO, Alcindo P. Responsabilidade Patrimonial das Pessoas Juri´dicas de Direito Pu´blico em Especial frente ao Artigo 107 da Carta Politica de 1969. Revista de Direito Administrativo, v. 9, n. 22, p. 15-49, 1970.
FIORILLO, Celso Antonio P.; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Ambiental e Legislação Aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1997.
FLEMING, John G. Is There a Future for Tort? Lousiana Law Review, v. 44, n. 5, p. 1195-1212, 1984. Disponível em: <http://bit.ly/1KHegah>. Acesso em 23 jul. 2015.
FLEMING JR., James; DICKINSON, John J. Accidents Proneness and Accident Law. Harvard Law Review, v. 63, p. 769-795, 1950. Disponível em: < http://bit.ly/1hclAOJ>. Acesso em 29 jul. 2015.
FRASER, Nancy. The Uses and Abuses of French Discourse Theories for Feminist Politics. In WEXLER, Philip (ed.). Critical Theory Now. London: Falmer Press, p. 98-117, 1991.
GARAPON, Antoine. Forme Symbolique et Forme Linguistique du Droit. International Journal for the Semiotics of Law, v. I, n. 2, p. 161-176, 1988.
GEPHART, Werner. Law as Culture. Tradução de J. Manz. Frankfurt am Main: Vittorio Kostermann; Käte Hamburger Centre for Advanced Study “Law as Culture”, 2010. Disponível em: <http://bit.ly/1ICz9kW>. Acesso em: 31 jul. 2015.
GRAMSCI, Antonio. Selections from the Prison Notebooks. Tradução de Quintin Hoare; Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers, 1971.
GUSFIELD, Joseph R. Moral Passage: The Symbolic Process in Public Designations of Deviance. Social Problems, v. 15, p. 175-188, 1967. Disponível em: <http://bit.ly/1gyYWQF>. Acesso em: 31 jul. 2015.
HEINZ, Eric. The Concept of Injustice. London: Routledge, 2013.
HORBACH, Carlos B. Memória Jurisprudencial: Ministro Pedro Lessa. Brasi´lia: Supremo Tribunal Federal, 2007.
ISON, Terence G. The Forensic Lottery: A Critique on Tort Liability as a System of Personal Injury Compensation. London: Staple Press, 1967.
JOURDAIN, Patrice. Les Principes de la Responsabilité Civile. 2. éd. Paris: Dalloz, 1994.
KAIRYS, David. The Politics of Law: A Progressive Critique. In: GRIGG-SPALL, Ian; IRELAND, Paddy (Eds.). Critical Lawyers Handbook. London: Pluto Press, p. 14-16, 1992.
KENNEDY, Duncan. Legal Education as Training for Hierarchy. In: GRIGG-SPALL, Ian; IRELAND, Paddy (Eds.). Critical Lawyers Handbook. London: Pluto Press, p. 39-45, 1992.
KRELL, Andreas J. Concretização do Dano Ambiental: Algumas Objeções à Teoria do “Risco Integral”. Revista de Informação Legislativa, n. 139, jul./set. 1998.
LEITE, José Rubens M. Dano Ambiental: Do Individual ao Coletivo Exrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
LESSA, Pedro. Do Poder Judicia´rio, (Fac-Símile). Brasi´lia: Senado Federal, 2003 [1914].
LIMA, Alvino. Culpa e Risco. 2. ed. atual. por Ovídio R. B. Sandoval. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
LUHMANN, Niklas. Law as a Social System. Tradução de Klaus A. Ziegert. Oxford: Oxford University Press, 2004.
MACHADO, Paulo Affonso L. Direito Ambiental Brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2015.
MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira. 5. ed.(atual.). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1954. v. III.
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32. ed. Sa~o Paulo: Malheiros, 1998.
MILARÉ, Édis. Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
MIRRA, Álvaro Luiz V. Responsabilidade Civil Ambiental e Cessação da Atividade Lesiva ao Meio Ambiente. In: KISHI, Sandra Akemi Shimada; SILVA, Solange Teles da; SOARES, Inês Virgínia Prado (Org.). Desafios do Direito Ambiental no Século XXI – Estudos em Homenagem a Paulo Afonso Leme Machado. São Paulo: Malheiros, 2005.
MUKAI, Toshio. Responsabilidade Civil Objetiva por Dano Ambiental com Base no Risco Criado. Revista de Direito Administrativo, v. 229, p. 253-257, jul./set. 2002.
NÉRY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria. Responsabilidade Civil, Meio-Ambiente e Ação Coletiva Ambiental. In: BENJAMIN, Antonio Herman V. (Coord.). Dano Ambiental: Prevenção, Reparação e Repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.
NUNES, Jose de Castro. Do Mandado de Segurança e suas Theses Fundamentaes. Archivo Judiciario, suplemento, v. 35, p. 181-196, jul./set. 1935.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993.
PHILIPPOPOULOS-MIHALOPOULOS, Andreas (Ed.). Law and Ecology: New Environmental Foundations. New York: Routledge, 2011.
PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Comentários à Constituição de 1967. (Arts. 34-112). São Paulo: Revista dos Tribunais, 1967. t. III.
POSNER, Richard A. A Theory of Negligence. Journal of Legal Studies, v. 1, p. 29-96, 1972. . Disponível em: <http://bit.ly/1VTFAWn>. Acesso em 29 jul. 2015.
POSNER, Richard A. Observation: The Economic Approach. Texas Law Review, v 53, p. 757-782, 1975. Disponível em < http://bit.ly/1IR5Z3q>. Acesso em: 01 ago. 2015.
RACCAH, Pierre-Yves. Les Informations d’une Ambiguïté. Essai d’Analyse de la Responsabilité Civile, v. 12, n. 53, p. 87-102, 1979.
RICOEUR, Paul. The Symbolism of Evil. Tradução de Emerson Buchanan. Boston: Beacon Press, 1967.
SALAZAR, Alcindo de Paula. Responsabilidade Civil: A Teoria do Risco Criado. Revista de Jurisprudência Brasileira, v. 56, n. 168, p. 233-242, set. 1942.
SAMPAIO, José Adércio L. Teoria da Constituição e dos Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2013.
SANTOS, Cláudia Maria C.; DIAS, José Eduardo de O.F.; ARAGÃO, Maria Alexandra S. In: CANOTILHO, J.J. Gomes (Coord.). Introdução ao Direito Ambiental. Lisboa: Universidade Aberta, 1997.
TÁCITO, Caio. Tendências Atuais sobre a Responsabilidade Civil do Estado (Comentário ao Acórdão do Recurso Extraordinário n. 20.372, do STF). Revista de Direito Administrativo, v. 55, p. 262-271, jan./mar. 1959.
TALLACCHINI, Mariachiara. Before and Beyond the Precautionary Principle: Epistemology of Uncertainty in Science andL. Toxicology and Applied Pharmacology, v. 207, n. 2, p. 645-651, 2005.
TUCK, Richard. The Right of War and Piece: Political Thought and the International Order from Grotius to Kant. Oxford: Oxford University Press, 1999.
VINEY, Geneviéve. Introduction a la Responsabilité Civile. Paris: LGDF, 2008.
WEST, Cornel. The Role of Law in Progressive Politics. Vanderbilt Law Review, v. 43, n. 6, p. 1797-1806, 1990.
Notas de Rodapé
[1] Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor de Graduação e Pós-Graduação da PUC-MG e ESDHC. Coordenador do Programa de Pós-Graduação da ESDHC. Procurador da República.
[2] Na verdade, as Instituições de Justiniano já previam, como quasi delicti, alguns tipos de responsabilidade pelo fato de outrem, fato da natureza ou de animal.
[3] Embora o STF tenha refutado a tese, acolhendo a doutrina da culpa, em 1943 (BRASIL, 1943).
[4] A doutrina publicística, após vencer a tese da irresponsabilidade, vacilou na fundamentação, inicialmente, da responsabilidade subjetiva: a) por ato de gestão e não por ato de império; b) por culpa civil, notadamente a culpa in eligendo e culpa in vigilando; c) por culpa administrativa (faute de service), a meio mastro da responsabilidade objetiva, a imputar responsabilidade sempre que, obrigado a prestar o serviço, não o fizesse, fizesse mal ou a destempo (CRETELLA JUNIOR, 1970).
[5] Havia diversos instrumentos normativos prescrevendo a responsabilidade culposa sob 1824 (Decreto 2.930/1857 sobre danos em estrada de ferro). Assim também sob 1891 (Decretos 1.663/1894, art. 552, e 4.053/1891, art. 538 sobre danos na instalação de linhas telegráficas; Lei 221/1894 sobre o Poder Judiciário; Decretos 1692A, art. 8o, e 2.230/1896, art. 6o, a tratarem de danos pelos serviços dos correios; Decreto 2.681/1912 sobre dano também em estrada de ferro). E, enfim, o Código Civil de 1916 (a prever uma cláusula geral da responsabilidade por culpa: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano” – art. 159; inclusive o Estado: “As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos dos seus representantes que nessa qualidade causem danos a terceiros, procedendo de modo contrário ao direito ou faltando a dever prescrito por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores do dano” – art. 15). Tanto que se pode dizer que nunca houve irresponsabilidade do Estado no direito brasileiro (CAVALCANTI, 1957, p. 617). De se notar que a tese da irresponsabilidade civil do Estado na França só foi refutada em 1873 no “Caso Blanco”, em decisão do Tribunal de Conflito.
[6] Vejam-se, dentre outros, os acórdãos do Supremo Tribunal Federal 2047/1912, 1923/1914, 2081/1915, 2765/1916, mencionados por Maximiliano (1954, p. 261, n. 2 e 3).
[7] Salvo quanto aos danos decorrentes de ocupação, por artilharia, do convento ereto no morro de São Bento (AZEVEDO, 1943).
[8] Aliás, não era incomum a troca de palavras ou conceitos. Em acórdão publicado no DJ em 02.02.1943, discutindo o dano provocado a mercadorias pela demora no desembaraço aduaneiro, o Ministro Valdemar Falcão perquiria a culpa civil dos empregados, embora a ela se referisse como culpa administrativa, ao que reparara Orozimbo Nonato, com afirmação da doutrina da faute du service (DIAS, 2007).
[9] Tome-se a tese de Cretella Jr., para quem haveria apenas o risco integral, embora recheada com as excludentes (CRETELLA JUNIOR, 1970, p. 98 e ss.).
[10] Para Helly Lopes Meirelles, danos causados por fatos da natureza não são indenizados pelo Estado: a responsabilidade é por ato de seus agentes (1998).
[11] Há quem, ainda, acrescente um argumento terminológico, de cunho doutrinal, sobretudo, para aferir a tese de que, quando a Constituição quis impor a responsabilidade objetiva, disse-o expressamente: a responsabilidade civil seria um termo impróprio para definir o dever de indenizar o dano sem cogitar-se de culpa. O termo adequado seria “reparar o dano”. Essa é a tese, por exemplo, de Aguiar Dias (2007). Partindo dessa distinção, chega-se à conclusão de que o constituinte claramente optou pelo sistema da reparação e não da responsabilidade civil; um a exigir o nexo causal; outra, também a culpa. Acrescenta-se que o art 37, § 6º, reconhecidamente, atributivo da responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, usa genericamente o termo “responderão”, sem referência expressa à responsabilide civil (BENJAMIN, 1998). Parece mais plausível usar-se o argumento a contrario contra o argumento a contrario dos subjetivistas: pelo fato de o artigo 225, § 3º, não fazer qualquer menção à culpa, dentro da lógica da proteção ambiental, é de se presumir a desnecessidade do elemento anímico ou subjetivo para impor-se o dever de reparar (FIORILLO; RODRIGUES, 1997, p. 125).
[12] Pouco importa se é confundida a doutrina do risco integral com a do risco proveito. Veja-se, por exemplo, SANTOS; DIAS; ARAGÃO (1997) e COSTA NETO (2003).
[13] Ideologia, como se sabe, é uma palavra de muitos sentidos, sem nenhum que angarie consenso. Aqui se emprega como um sistema de ideias que, intrincadas com a prática incorporada numa entidade impessoal (como Estado, sistema, organização), procuram explicar (e justificar) o mundo, as instituições e os objetivos coletivos a serem alcançados. Nela, está presente um elemento acadêmico e formal, que lhe confere status intelectual; social, de concepção, articulação e desenvolvimento das relações humanas e institucionais; política, de postulação do poder ou sua manutenção como instrumento de justiça; individual, pelo atendimento de conformação a uma dada ordem justa existente ou perseguida; e jurídica, pelo ser e relação de institutos, categorias e conceitos com a proclamação ideológica (EAGLETON, 1991). A ideologia está ligada ao poder, pois, sem ele, não passa de um conjunto de crenças ou de um tratado sociológico ou de filosofia. A hegemonia é o instrumento da ideologia de domínio da consciência dos agentes sociais, a ponto de remodelar e hierarquizar as necessidades humanas e sociais, bem como a agenda política, de modo a manter as relações de domínio existentes (GRAMSCI, 1971; FRASER, 1991).
[14] Para tomar de empréstimo a metáfora de Ison (1967).
[15] É o velho modo de dar sentido ao cultural como “um dado”, às relações e assimetrias como naturalização; às ideias como senso comum, marcando as respostas individuais e sociais como um produto automatizado dessas crenças internalizadas (GRAMSCI, 1971). A hegemonia pode ser vista, como salienta Fairclough (1989), como “[Institutional practices which people draw upon without thinking often embody assumptions which directly or indirectly legitimize existing power relations. Practices can often be shown to originate in the dominant class or the dominant bloc, and to have become naturalized” (p. 33). Em Ricoeur, está o enraizamento social da construção do bem e do mal nos discursos escatológicos.
[16] O “simbolismo jurídico” é identificado geralmente como a forma com que as classes hegemônicas incorporam suas preferências nas leis e decisões judiciais, reforçadas por ritos e processos, sinalizando o comportamento que deve ser seguido ou copiado pelas outras classes (GUSFIELD, 1967; GARAPON, 1988); mas também pode indicar um movimento estratégico de satisfazer as demandas ideológicas de grupos de pressão, notamente em defesa daqueles em situação de vulnerabilidade, por meio da positivação de direitos ou vedação de práticas discriminatórias ou opressivas, sem o propósito de dar efetividade aos seus comandos (EDELMAN, 1992; GEPHART, 2010). É nesse sentido que se utiliza o termo no texto.
[17] O alheamento produzido pela ideologia “convence” o intérprete de que não se deve considerar o quadro socioambiental em que ele mesmo se insere (AGUIAR, 1982; AZEVEDO, 1999).