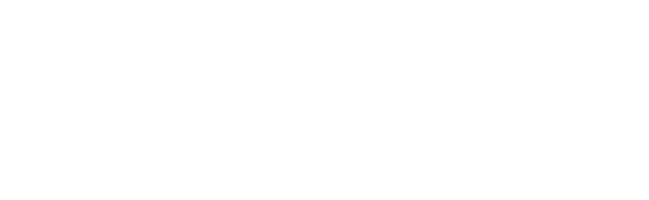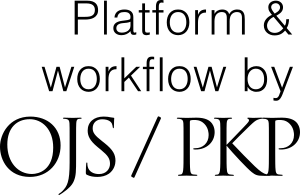Protagonismo Infantojuvenil: uma Necessária Dimensão da Dignidade da Criança e do Adolescente
DOI: 10.19135/revista.consinter.00005.24
Bruno Rezende Ferreira da Silva[1]
Maria Carolina Rodrigues Freitas[2]
Rafael Mario Iorio Filho[3]
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo questionar a efetivação de todas as dimensões da dignidade da criança e do adolescente em face das práticas sociais moduladoras do princípio do melhor interesse dos menores. Abordaremos o modo como a criança e o adolescente são percebidos em nossa sociedade, a constituição destes agentes sociais enquanto sujeitos de direito e, portanto, detentores de uma dignidade que deve ser respeitada pelos demais agentes sociais. Outrossim, apresentaremos as dimensões da dignidade, a definição de melhor interesse das crianças e adolescente e o uso deste principio para, em razão da nossa percepção destes agentes sociais, não garantir a plenitude da dignidade para estes sujeitos. Concluiu-se através de nossa pesquisa que o princípio do melhor interesse das crianças e adolescentes é mitigado pela compreensão adultocêntrica sobre a criança e sua participação, o que impede a plena garantia de sua dignidade.
Palavras-chave: Direito da criança e adolescente. Dignidade. Participação.
Abstract: The objective of this study is to question the effectiveness of all dimensions of the dignity of children and adolescents facing social practices wich modulates the principle of the best interests of minors. We will approach how the child and the adolescent are perceived in our society, the constitution of these social agents as subjects of law and, therefore, holders of a dignity that must be respected by other social agents. We will also present the dimensions of dignity, the definition of the best interests of children and adolescence and how the use of this principle, due to our perception of these social agents, do not guarantee the fullness of dignity for these subjects. It was concluded through our research that the principle of the best interest of children and adolescents is mitigated by adult-centric understanding of the child and participation, which prevents full guarantee of their dignity.
Keywords: Children and adolescents right’s. Dignity. Participation.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho é fruto de pesquisas empíricas e questionamentos levantados na tentativa de questionar a adequação de categorias e práticas sociais aos institutos jurídicos.
É neste impulso que nos debruçaremos sobre a questão da dignidade da criança e do adolescente, enquanto sujeito de direito, em face da teoria do melhor interesse da criança em confronto com uma brevíssima análise dos discursos que negam a condição de pessoa às figuras sociais pertencentes a esta categoria.
Ao desnudar este desajuste entre o discurso jurídico e as práticas sociais, estaremos colaborando para o desvendamento do espaço ocupado pelas crianças e adolescentes nas celeumas envolvendo o direito de família, posto que nos fará pensar se a lógica disruptiva das nossa prática sociais silenciam e aviltam os menores no exercício de seus plenos direitos nas diversas relações que estabelecem no curso da sua vida em sociedade.
2 A CONSTRUÇÃO DA NOSSA INFÂNCIA E JUVENTUDE
A primeira e mais importante diligência daqueles que querem adentrar no universo dos direitos das crianças e adolescentes é o reconhecimento de que estamos lidando com as categorias sociais infância e juventude. Enquanto grupos destacados na estrutura de uma sociedade, estes sujeitos merecem ser reconhecidos, respeitados como atores sociais e compreendidos não mais como coadjuvantes ou cidadãos de segunda hierarquia[4].
A infância e a juventude são categorias[5] na estrutura social, ou seja, representações simbólicas dos comportamentos e atributos característicos do grupo que a sociedade considera infantojuvenil. Todos transitamos por um período de nossas vidas nesta categoria, que por sua vez recebe continuamente as gerações. Enquanto categorias, embora perenes, estão sujeitas a mudanças em seus valores e configurações.
Em sendo assim, devemos partir da premissa de que infância e juventude são conceitos historicamente construídos, influenciados por experiências culturais, políticas e econômicas de uma dada sociedade e em uma determinada época.
De outra via, os sujeitos criança e adolescente são manifestações individuais, transitórias e heterogêneas. Ainda que sejam múltiplas as suas experiências individuais, estes sujeitos serão sempre impactados pelos valores que as categorias infância e juventude possuem como parâmetros[6].
É muito sedutor empreendermos um caminho oposto e nos esquecermos destas premissas, reproduzindo a falsa compreensão de que criança é um conceito universal e atemporal. Porém, uma breve mirada para as sociedades ao nosso lado e para o nosso passado nos libertam deste preconceito.
Ao abraçar esta proposição haverá condição de analisarmos os conceitos aplicados em nossa realidade e relativizarmos suas definições, proporcionando uma compreensão contextualizada e profunda dos valores e paradigmas que estruturam a vida destas pequenas pessoas.
Aliás, a qualidade de pessoa é empregada de forma escassa em nossa sociedade quando nos referirmos a menores de idade, especialmente para aqueles pré-púberes. Que seja exatamente este o nosso ponto de partida para uma reflexão.
Para o Direito pessoa é todo o ser titular de direitos e deveres. A pessoa é então um ser genérico com aptidão para adquirir direitos e deveres, sinônimo de sujeito de direitos. Em sendo assim, esta concepção de pessoa é excludente, posto que um ser só é alavancado à categoria de pessoa quando o ordenamento jurídico lhe reconhece direitos e obrigações, especialmente os direitos da personalidade ligados à sua integridade física, moral e intelectual.
Embora hoje no nosso ordenamento pátrio as crianças e adolescentes sejam considerados pessoas, conforme expressamente previsto no art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, esta nem sempre foi a realidade.
A grande virada no status jurídico do menor se deu com a redemocratização. Com a Constituição de 1988 as garantias de proteção e direitos das crianças e adolescentes passam a ser de responsabilidade do Estado, da sociedade e da família solidariamente. Os menores tutelados pela nova constituição não se limitam aos infratores e abandonados, mas todas as crianças e adolescentes. Assim, a nova Constituição para além de um leque mais abrangente de direitos, alcança toda a amplitude da categoria dos sujeitos infantojuvenis.
Inaugura-se com esta carta constitucional a Doutrina da Proteção Integral[7], prevendo o tratamento jurídico de todas as crianças e adolescentes como pessoas, portadoras de direitos fundamentais tais quais os adultos e merecedores de especial tutela por parte de todos os elementos da sociedade, como um dever social. O menor deixa de ser, ao menos no universo jurídico, uma tábula rasa na qual o mundo adulto irá imprimir características e comportamentos, passando a se constituir como um sujeito autônomo e individualizado em face de sua família, sociedade e Estado.
Em 1990 entra em vigência o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) alterando as políticas públicas de proteção aos menores que até então tinham como foco o controle e a repressão. O Estado, a sociedade e a família passam a promovedores dos potenciais que os futuros adultos guardavam em si, respeitando e protegendo a condição física e psicológica que os pequenos cidadãos ostentam.
O código civil de 2002 veio eliminar em definitivo a figura jurídica do pátrio poder definida no capítulo VI do livro V do código civil de 1916 que conferia autoridade superior ao marido na criação dos filhos, substituindo-a pelo poder familiar. Com estas mudanças os genitores, em conjunto, têm o direito-dever de criar os filhos. Mais do que distribuir o poder de educar e cuidar do menor entre os genitores, o poder familiar deixa de ser uma simples expressão de um direito dos pais, manifestando-se como um poder que deve ser exercido no interesse do menor.
Com estas proposições, a Constituição de 1988 e a legislação que dela decorre sobre a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, levanta-se a cortina do pátrio poder e a subordinação dos interesses dos menores aos de seus pais que ela ocultava. As relações intrafamiliares entre adultos e menores passam a ser questão de direito público, devendo Estado e Sociedade assistirem todos e em qualquer condição, com a primazia de seus interesses em relação aos de seus pais ou tutores.
Importante considerarmos que embora o menor seja sujeito de direitos tal qual um adulto, ele não possui a mesma amplitude de direitos que um adulto ostenta. Contudo tal limitação não o qualifica como um sujeito numa condição jurídica ou posição moral inferior. Nos socorrendo da filosofia moral podemos identificar três teses[8] sobre as quais se assentam o tratamento diferenciado que é dispensado ao menor como sujeito moral e que serviram de base para a Doutrina da Proteção Integral.
A primeira tese afirma que crianças devem ser consideradas como agentes morais e suas reivindicações não devem ser desconsideradas somente porque são crianças. Isso não significa que tenham os mesmo direitos e deveres do adulto, mas que merecem consideração independente da questão etária, porque são pessoas tal qual um adulto. Em sendo assim, os seus direitos fundamentais emanam da sua condição moral de pessoa e esta não pode ser negada ou restringida.
Já a segunda tese se assenta no fato de que quando nos tornamos adultos validamos retroativamente a noção de que crianças não podem fazer tudo que adultos fazem por uma questão de limitação física, psicológica e por um equilíbrio na organização social. Ao acumularmos experiências e nos assentarmos nas relações sociais reconhecemos como legítimos os limites e o tratamento diferenciado que dispensamos ao menor e que os impede de praticar atos que são restritos aos adultos.
Estas duas primeiras teses se compatibilizam se o tratamento desigual não incidir sobre os direitos que são agregados ao menor em razão de sua condição de pessoa, ou seja, os direitos humanos. Restrições a outros direitos que são agregados à pessoa em razão de qualidades e condições que ela vá apresentando ao longo da vida não são vistas como uma violação à igualdade de tratamento, posto que nas características que o menor compartilha com o adulto tem seus direitos igualmente tutelados. A tese do tratamento desigual permite a negativa de direito à categoria infantojuvenil não pela simples questão etária, mas por não possuir determinada condição que a torna titular de um direito civil.
O reconhecimento da limitada capacidade cognitiva e escasso acúmulo de experiências do menor é a fonte da terceira tese que reconhece como legítimo, porém limitado, o poder discricionário dos pais sobre os filhos. A criança deve ser protegida de realizar equívocos e deve ser assistida para satisfazer suas necessidades, cabendo aos pais dirigirem seus interesses desde tarefa diárias até decisões importantes.
Contudo este poder deve ser administrado em favor dos filhos, na medida em que os pais e tutores têm o dever de não violar os direitos fundamentais dos filhos, de prevenir que terceiros os violem e de atuar na promoção dos interesses destes menores. Portanto a discricionariedade dos pais se limita a como promover o interesse do menor.
Diante de todo o exposto é possível afirmar que crianças e adolescentes, embora não possuam a mesma amplitude de direitos de um adulto, não tem seus atributos jurídicos à mercê de seus pais e tutores. Justamente por lhes ser reconhecida a condição de sujeito de direitos, as relações familiaries são hoje mais públicas do que nunca, sendo permitido ao Estado e à sociedade se envolver na vida privada de uma família se de alguma forma o interesse de um menor estiver sendo prejudicado. O menor ganhou a cena na nossa sociedade e sua relação com o adulto não é mais pautada na subordinação, mas no respeito mútuo entre pessoas.
3 ACHANDO QUE É GENTE
A Doutrina da Proteção Integral da criança e do adolescente representou um importante marco no reconhecimento, ao menos jurídico, destes sujeitos como pessoas, seres autônomos, com interesses e direitos individuais que merecem atenção e proteção de toda a sociedade e do Estado.
A sua caracterização como sujeito de direito passa pela garantia de direitos ligados à proteção, provisão e participação. A primeira categoria refere-se aqueles que visam protegê-los da discriminação, exploração, abuso sexual e físico, do conflito e garantir-lhes nome e nacionalidade. A segunda abrange a saúde, assistência social, educação, alimentação, habitação, lazer e cultura, entre outros direitos sociais. Por fim, a última categoria traz à baila a questão da sua participação nas decisões que afetam a sua vida, bem como sua atuação na comunidade em que está inserido.
A nossa dignidade passa pela garantia destas instâncias[9]. O homem deve estar protegido contra a arbitrariedade e os impulsos predatórios de outros homens, deve ser provido ou ter meios para prover sua subsistência e deve ter a possibilidade de expressar a singularidade de suas vontades e assim se reconhecer, numa construção relacional com outros homens, enquanto pessoa.
A dignidade da pessoa humana tem uma dimensão intersubjetiva e relacional de tal modo que sua garantia depende do reconhecimento pelos outros desta condição. A sociedade e o Estado reconhecem os sujeitos sociais como iguais em dignidade e direitos fundamentais, instituindo uma ordem jurídica que se assenta na obrigação primordial de respeito pela e entre as pessoas.
Seguindo a matriz filosófica kantiana[10], sendo o homem um fim em si mesmo, a dimensão da sua dignidade passa pela vedação da utilização de outra pessoa para concretizar sua exclusiva pretensão. Logo, em razão da sua dignidade o sujeito social está protegido de sua coisificação, sendo-lhe resguardado o direito de se autodeterminar, ainda que concretamente não possua aptidão para agir autonomamente[11].
É esta compreensão da dignidade que empresta sentido à afirmação de que a criança e o adolescente só são pessoas na medida em que libertados da vontade dos adultos. É nesta medida que devemos reconhecê-los como atores sociais, com perspectivas e uma cultura própria[12], interagindo em igual condição com os adultos na construção da realidade.
Portanto ao menor, na condição de pessoa, devem ser garantidas aquelas três esferas de direito (proteção, provisão e participação), sob pena de ao não viabilizá-las se estar negando a plenitude destes sujeitos como indivíduos e sua dignidade.
As crianças desenvolvem perspectivas próprias sobre o mundo e dinâmicas de interação com os adultos e outras crianças que são tão significativas e importantes quanto os paradigmas morais herdados dos adultos. Em sendo assim, dentro das limitações inatas a esta fase da vida, o menor tem condições de manifestar racionalmente opinião e competência para influenciar a construção de significados do mundo onde vive[13].
A percepção da realidade pela criança é criada num universo adulto, mas com um filtro formado pelos conceitos e abstrações próprios do mundo da criança. Logo, a forma como a criança se posiciona e interage é reflexo da sua apropriação da experiência através de categoria não só próprias como também aquelas apropriadas do mundo adulto e reinterpretadas[14]. Descobrir estas categorias e estes processos de interação nos permite compreender como o menor vê seu mundo, o que é relevante para compreendermos quais são seus interesses.
Do contrário, não enxergar as suas experiências sociais sob seus particulares pontos de vista e o papel que desempenham na sociedade, é negar-lhes a condição de sujeitos ativos, objetificando-os com uma cultura adultocêntrica[15] que não reconhece a autonomia e a particularidade da cultura infantil, negando assim sua condição de pessoas, sua dignidade e a sua função na sociedade.
O nosso ordenamento pátrio reconhece o menor como sujeito de direitos, colocando-o como protagonista na relação com o mundo adulto. Contudo, é questionável até que ponto o Direito foi capaz de influenciar o modo como nossa sociedade compreende e interage com a categoria infantojuvenil. Há trabalhos da sociologia da infância[16] que se debruçam sobre a real percepção que nossa sociedade tem sobre esta categoria. Não se trata de desvendar o que a pedagogia, a psicologia e o direito falam a respeito da infância e da adolescência, mas sim investigarmos o quê desta fala teórica é refletido nas práticas sociais.
Em pesquisa empírica realizada pela professora Aparecida Fonseca Moraes[17] na cidade do Rio de Janeiro, restou demonstrado que o ECA é apontado pelos entrevistados como válido, fundamental e necessário para a promoção de igualdade e cuidados com os menores. Tal perspectiva é lastreada num senso de solidariedade e altruísmo com o público infantojuvenil, caracterizado como vulnerável.
Esta consideração sobre a vulnerabilidade do menor faz com que prevaleça o pensamento de que as crianças precisam de proteção porque são racionalmente incapazes de agir de modo a superar os problemas e desafios que o mundo nefário lhe impõe. Em sendo assim, o papel da família e do Estado é o de garantir-lhes a proteção e a provisão, devendo os adultos protegerem as crianças de sua própria incapacidade[18], impedindo escolhas erradas e escamoteando as chances do desenvolvimento de uma autonomia e da participação infantojuvenil.
É inegável que os menores possuem uma vulnerabilidade inerente, decorrente da sua imaturidade física e inexperiência que causam dependência ao adulto. Entretanto devemos avaliar se nossa preocupação com a vulnerabilidade nos faz cegos à figura dos menores como atores sociais e sujeito de direitos.
Esta ênfase na vulnerabilidade e na incapacidade do menor proporciona uma apropriação do ECA que exclui a dimensão da participação infantojuvenil na construção da realidade. Se eles não têm seus pontos de vista respeitados e sequer considerados, uma das dimensões de sua dignidade é violada. Ao preterir o protagonismo infantojuvenil em relação aos direitos de proteção e provisão, a sociedade reduz a individualidade do menor e lhe retira a condição de pessoa plena, colocando como um sujeito inexoravelmente dependente de alguém simbolicamente superior.
Portanto há uma contradição entre as perspectivas que se tem sobre a lei e as práticas encontradas na sociedade em relação aos menores. Embora o ECA seja considerado um marco legal relevante, os mandamentos do ECA não representam uma necessária referência para a conduta dos indivíduos, que relativizam e negociam com as normas, ainda que consideradas válidas, de acordo com as circunstâncias da vida cotidiana.
Nesta vereda, o Estatuto da Criança e Adolescente é apropriado mais como um aparato retórico de garantias à proteção, provisão e participação do que propriamente um elemento promovedor destas três categorias. Com isto vem à tona uma realidade insofismável, o Direito nem sempre é capaz de mudar práticas culturais.
Após mais de duas décadas de vigência do ECA nossa sociedade ainda experimenta zonas cinzentas na sua realização. Os seus valores, embora presentes na mentalidade compartilhada por nossa sociedade, enfrentam problemas no processo de efetiva implementação.
É politicamente correto a defesa dos preceitos estampados no Estatuto, mas não é uma tarefa fácil vivenciá-los nas nossas ações cotidianas de relações com sujeitos sociais da categoria infantojuvenil. Nossos modos de estabelecer relações com estes sujeitos são culturalmente marcados por uma relação de poder e subordinação que não é tão simples abandonar.
Os adultos sabem que não podem achacar física e psicologicamente uma criança, mas nem por isso deixam de assim proceder. Os índices de violência e homicídio contra estes sujeitos podem ser tomados como um reflexo da sua objetificação. O Brasil ocupava em 2012 o 4º lugar no ranking de homicídios de crianças e adolescentes. A UNICEF alertou para o aumento da violência e do número de mortes violentas de menores. Se verificarmos o Mapa da violência contra crianças e adolescentes do Brasil de 2012[19] o cenário tampouco é promissor. No ano de 2011 dos 39.281 atendimentos registrados no SUS de pessoas entre 0 e 19 anos, 40% foram notificados como lesões decorrentes de violência. Em 63,1% dos casos notificados, a violência ocorreu na casa da vítima e em 39,1% os agressores foram os pais.
Estas estatísticas nos permitem enxergar que o menor ainda é um alvo fácil para a violência intrafamiliar e social, e isto, para além das fragilidades inerentes à idade, também se explica pelo arraigado traço cultural em nossa sociedade de ainda não encará-lo como merecedor de um tratamento igualitário ao do adulto.
Este esboço sobre a violência contra menores serve para pintar com tintas mais fortes a hipótese aqui ventilada de que na nossa sociedade, embora se fale em pedagogia da autonomia, em famílias democráticas e ostentemos um código de proteção à criança e ao adolescente, a criança ainda não é plenamente uma pessoa.
Temos um padrão dúplice no tratamento de nossas crianças e adolescentes com a existência de espaços de resistência aos valores semeados pela Constituição e pelo ECA. Um pai pode perfeitamente defender valores como o protagonismo infantojuvenil e o pleno respeito, mas ter dificuldades em educar e compreender como estabelecer a relação pai/filho dentro deste novo paradigma.
Embora os direitos elencados no ECA sejam bem recepcionados por nossa sociedade, às nossas crianças e adolescentes, àqueles que fomos, a nossos filhos, a nossos sobrinhos, vizinhos, ou seja, aos indivíduos desta categoria que transitam na nossa realidade pessoal, quanto a estes, muitos de nós ainda têm dificuldade de enxergá-los como pessoas e não como um pequeno incapaz, receptáculo de nossas expectativas e esperanças, relativizando assim seus direitos de igualdade, dignidade e liberdade.
A nossa realidade social, com a sobrevivência dos ecos do paradigma de família tradicional e da educação autoritária, perpetua o preconceito à personificação das crianças, ainda que disfarçado sobre o manto da zombaria, estigmatizando esta categoria.
Lembremos da expressão “desde que me entendo por gente”, muito utilizada quando nos referimos a um comportamento que nos é característico. Em uma breve pesquisa foram entrevistadas 115 pessoas, entre 20 e 70 anos, e questioná-las qual é seu marco quando utilizam a expressão “desde que me entendo por gente”.
O termo gente é aqui tomado como sinônimo de pessoa. O objetivo com a pergunta é identificar o marco de autorreferenciamento dos entrevistados como gente, ou seja, em que momento de suas vidas os entrevistados passaram a se entender como pessoas e assim comprovar que a noção de pertencimento à esta categoria não guarda sintonia com a compreensão jurídica sobre pessoa.
Já com a primeira dezena de entrevistados pudemos identificar um padrão que se repetiu. Os entrevistados apontaram três referenciais. As porcentagens de respostas foram desprezadas, pois o objetivo não é determinar uma estatística, mas sim identificar estes marcos.
O primeiro referencial foi a memória, uma parte dos entrevistados se entende como gente a partir das primeiras memórias, o que varia entre 3 e 5 anos. Em sendo assim, eles se compreendem como pessoa a partir de um referencial interno, qual seja, a capacidade de armazenar e recordar suas próprias experiências.
O segundo marco foi o início da autonomia e de uma maior comunicação com os adultos, apontando que isto ocorria entre 10 e 12 anos. Neste grupo já notamos a necessidade de uma interação relacional para o pertencimento à categoria pessoa. Ele alcança a condição de gente quando começa a se libertar dos adultos e argumentar com eles, negociando comportamentos e opções nas relações sociais. Alguns entrevistados que apontaram esse marco disseram que se consideravam gente quando começaram a fazer “malcriações” e iniciar confrontos com seus pais, dando ênfase ao comportamento da voz ativa contra o adulto, ainda que sua opinião não prosperasse.
E por último, um pequeno grupo indicou como marco a plena autonomia e a responsabilidade, o que ocorria entre 18 e 21 anos. Para esta parcela de entrevistados, eles só se compreenderam como pessoas quando se libertaram completamente da subordinação, se transportando para a categoria social do adulto, com a possibilidade de seu sustentar e decidir autonomamente. Este grupo repete aquele padrão relacional do segundo para o estabelecimento do marco. Contudo, enquanto no segundo grupo a autonomia era de opinião, neste a autonomia é da gerência de suas vidas.
Interessante notarmos que este último grupo foi formado exclusivamente por sujeitos com mais de 50 anos. Os dois primeiros marcos foram indicados por vários grupos etários, sem vinculação de um padrão.
Destas entrevistas podemos identificar que memória, autonomia e responsabilidade estão ligados à condição de pessoa. Uma segunda conclusão é a de que para todos os entrevistados seu autorreferenciamento como “gente” exclui em algum grau uma fase da sua vida infantojuvenil.
Se em algum momento de nossas vidas não nos enxergamos como gente, permitimos que haja também uma gradação dos nossos direitos que estão atrelados à ideia de pessoa. Por uma questão humanitária e até mesmo por razões biológicas, direitos ligados à perpetuação da nossa espécie, tal como direito à vida e à saúde, nos acompanham, independente da compreensão sobre pessoa, desde o nosso nascimento. Todavia, outros dois direitos igualmente fundamentais, que são a liberdade e a igualdade, estes só pertencem àqueles que percebemos como pessoas. Se em algum momento nos excluímos desta condição, então permitimos que excluam também a plena proteção a estes direitos.
Outra expressão vulgar na nossa cultura e que faz transparecer uma compreensão de criança que tentamos racionalmente ocultar é a “achando que é gente”, muito utilizada para despersonificar um sujeito em dinâmicas preconceituosas sobre grupos. A expressão é empregada em atitudes de repreensão ou subordinação de menores aos adultos ou a outros menores com idade superior.
São pequenas manifestações como estas que nos levam a crer que, embora o direito garanta aos menores a condição de pessoas, de sujeitos ativos e autônomos, a nossa cultura ainda não reflete essa realidade, pelo menos não para os menores em todas as suas fases da vida, modulando seus direitos.
Em sendo assim, a par da fala teórica sobre a construção da categoria social infantojuvenil, a nossa cultura ainda não assimila a criança como um ser pleno em sua especificidade, compreendendo a realidade infantojuvenil através de um habitus[20] excludente no qual a infância é uma fase preparatória e a criança é um meio, um vir a ser, um coadjuvante na vida dos adultos, um sujeito sem voz e subordinado.
4 DESCOBRINDO A VOZ DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
Como já afirmado, em razão da visão humanitária sobre o ECA e da ênfase na vulnerabilidade dos menores, dentre os fundamentos de proteção, provisão e participação que regem o referido Estatuto, nossa cultura jurídica tem se esforçado em garantir os dois primeiros, mas ainda ignora a participação dos menores, não promovendo quiçá espaços para a manifestação da voz dos menores, o que dizer então de inseri-los nos processos decisórios.
Infelizmente no Brasil em várias instituições em que o menor transita sequer prestam informações adequadas sobre as circunstâncias que envolvem este sujeito, o que dirá sobre a abertura de espaços para sua manifestação de opinião. A família é um palco para exemplificar esta situação. Em situações que envolvem, por exemplo, questões financeiras ou o divórcio dos pais, os menores habitualmente não são informados sobre as decisões e, diante da desinformação, lhes é negada a chance de compreender e manifestar sua percepção sobre o que está ocorrendo em sua realidade.
A participação é uma dimensão fundamental dos direitos da criança e do adolescente, posto que é o reconhecimento destes sujeitos como agentes sociais autônomos e influentes. Logo dar voz à criança e ao adolescente é condição para promover a efetividade de seus direitos nas práticas sociais[21].
Ao não promover espaços de fala para os menores ignoramos suas compreensões sobre a realidade e interferimos nela de acordo com os nossos interesses, desconsiderando a compreensão daqueles que serão submetidos às decisões. Este processo aliena o sujeito infantojuvenil, empodera ainda mais o adulto e dificulta a assimilação da decisão pela criança, posto que ao se desconhecer os fatores envolvidos, o processo de aceitação se dá por subordinação e não por compreensão[22]. E assim cria-se um círculo vicioso de subordinação do menor que não consegue se enxergar como pessoa, sujeito ativo nas relações com a sociedade e com a família.
Chamo especial atenção para a questão da alienação do menor, como ele não se enxerga como sujeito ativo nas relações em razão da negação habitual do seu protagonismo, forma-se uma barreira endógena, qual seja, os sentimentos de vergonha e apreensão manifestados por estes sujeitos nas ocasiões em que são instados a participar. A falta de hábito de atuar como protagonista nas relações gera o sentimento de vergonha, e a dúvida sobre a autorização para se manifestarem, obstando sua participação pelo temor de estar violando alguma regra ou criando um prejuízo[23]. Portanto, a falta de oportunidade para se manifestar faz com que estes sujeitos não enxerguem legitimidade ou capacidade operacional para assim atuar, reforçando aquele quadro já descrito de que nós mesmos negamos a nossa condição de pessoa em alguma fase de nossa vida.
Portanto o protagonismo deve ser uma condição do seu desenvolvimento, auxiliando na instrução de cidadãos participativos e autônomos. Por esta perspectiva a participação seria uma dimensão da proteção, na medida em que ao se desenvolver autonomias, se previne abusos que relações de dominação podem promover.
O desvendamento da criança protagonista passa pela transformação da sua definição pelo que lhe é específico e não pelo que lhe falta, e fomentar seu protagonismo é manifestar respeito pelas suas competências[24]. Ao reconhecermos o protagonismo aos menores e tomarmos a experiência infantojuvenil de sua própria perspectiva podemos verificar que os menores são atores sociais, seu papel na sociedade não é passivo e tal qual os adultos merecem tratamento que lhe garanta a dignidade inerente a todo ser humano.
Logo, o protagonismo infantojuvenil, para além da superação de pré-conceitos, depende igualmente da disponibilização de espaços de fala para esta categoria social que respeitem o seu grau de competência para o discurso. Como a autoridade para disponibilizar estes meios e estes espaços é do adulto, a participação depende do mundo adulto querer ouvir e dispor de um modo para conseguir ouvir a voz da infância.
Embora os menores de 16 anos sejam absolutamente incapazes de exercer pessoalmente atos da vida civil, de acordo compreensão inaugurada pela Constituição de 1988 estes sujeitos são cidadãos e titulares de direitos fundamentais. Portanto, enquanto titulares de direito à liberdade e à dignidade, podem, independente da capacidade civil, participar ativamente de todas as questões que lhes são pertinentes.
O protagonismo infantojuvenil vem estampado no ECA, no Projeto do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013) nos dispositivos que ora se transcreve:
Art. 15 do ECA – A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. (grifo nosso)
Art. 16 do ECA – O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: II – opinião e expressão; (grifo nosso)
Diretriz 06 do Plano Decenal – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, nacionalidade e opção política. (grifo nosso)
Objetivo Estratégico 6.1 do Plano Decenal – Promover o protagonismo e a participação de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. (grifo nosso)
Objetivo Estratégico 6.2 do Plano Decenal – Promover oportunidades de escuta de crianças e adolescentes nos serviços de atenção e em todo processo judicial e administrativo que os envolva. (grifo nosso)
Art. 12 da Convenção Internacional – Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade. Para este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja através de representante ou de organismo adequado, segundo as modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional. (grifo nosso)
Art. 3º do Estatuto da Juventude – Os agentes públicos ou privados envolvidos com políticas públicas de juventude devem observar as seguintes diretrizes: III – ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços decisórios;
Art. 4º do Estatuto da Juventude – O jovem tem direito à participação social e política e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude.
Subvertendo a ideia de que crianças e adolescentes não possuem aptidão para compreender e manifestar opinião sobre seus direitos num cenário familiar e social, estas normas estampam uma nova perspectiva sobre a figura do menor, que passa a ser encarado como um sujeito de direitos que deve ser inserido no processo de decisão e execução das ações que influem em suas vidas. Estes dispositivos pretendem integrar o menor na comunidade em temas que são do seu interesse, reconhecendo seu papel ativo nas relações sociais.
Embora haja garantia de sua participação no processo decisório ainda rondam muitas dúvidas sobre a capacidade dos menores se expressarem e sobre a autonomia volitiva. Diante da insuficiência de suporte teórico e técnico, quando não ignoram a opinião dos menores, os atores sociais acabam sendo levados a compreenderem o comportamento e as expressões das crianças através de suas próprias experiências e aspirações.
Contudo, é importante destacarmos que ao se falar em participação infantil não se pretende que a criança seja a voz definidora dos seus rumos, déspotas nas relações com adulto, mas que seja mais uma voz num processo decisório interativo de todos os envolvidos, estabelecendo relações mais simétricas entre as categorias infantojuvenil e adulta[25].
Portanto, participar significa tomar parte de em um processo decisório, influindo no seu resultado. Entretanto esta participação do menor depende do seu nível de desenvolvimento, da sua habilidade para se comunicar, sua competência emocional, sua maturidade para entender o que está sendo decidido e a disposição do sujeito com que se relaciona em considerar sua perspectiva[26]. Diante destas condições, ao se promover a participação infantojuvenil, devemos questionar de que modo é apropriado considerar sua manifestação e o peso que devemos dar a ela[27].
A questão da limitação fisiológica dos menores é habitualmente utilizada como um fundamento para afastar a sua participação[28]. Diversas pesquisas biomédicas que se debruçam sobre a neurobiologia de crianças e adolescentes apontam que o cérebro destes sujeitos não possui plena competência mental para um processo de tomada de decisões. De acordo com o médico e pesquisador Jay N. Giedd, referência no estudo sobre o tema, o córtex pré-frontal é o responsável por inibir impulsos e por planejar e organizar o comportamento. Esta estrutura morfológica só alcançaria a maturidade por volta dos 25 anos. Segundo estas pesquisas, a imaturidade fisiológica geraria uma imaturidade no processo decisório destes sujeitos. A American Medical Association, em sua participação como amicus curiae no julgamento Roper v. Simmons (2005), manifestou a compreensão de que “scientists can now demonstrate that adolescents are immature not only to the observer’s naked eye, but in the very fibers of their brains”[29].
Todavia, afastar a participação com esteio neste argumento é desconsiderar que as competências individuais são formadas também por processos culturais. A maturidade é relativa e não está atrelada à idade do sujeito[30]. As crianças produzem percepções sobre sua realidade e possuem aptidões tão subjetivas que a questão biológica não pode ser um determinante para sua participação, mas tão somente uma referência.
O menor possui formas e competências diversas para se expressar, a variar com sua idade, não sendo sua imaturidade um fato impeditivo para que possa construir percepções individuais e distintas das demais partes da relação. Negar a participação com base neste pré-conceito que vincula infância com imaturidade é suprimir um direito básico do menor com fundamento em considerações que outros saberes já falsearam.
Na literatura internacional há inúmeros estudos sobre a competência do menor para participar no processo decisório, especialmente nas decisões sobre tratamentos médicos e sobre a designação da guarda em divórcios litigiosos[31]. Estes trabalhos incentivam a participação das crianças apontando que menores pré-púberes já possuem competência para expressar uma decisão e seus motivos, tudo a depender de critérios individuais de maturidade. Os trabalhos empíricos demonstram que as crianças querem saber o que está ocorrendo e querem ser ouvidas, sendo que sua participação no processo de decisão lhes auxilia a aceitar o resultado, ainda que não fosse o pretendido pelo menor.
Superada esta questão da capacidade, a participação dos menores pode se dar em diversas escalas. Um modelo que considero adequado para compreender estes níveis de participação é o formulado por Harry Shier[32], tendo como referência a disposição da instituição com que o menor interage em considerar a sua voz ativa, as oportunidades que são ofertadas e as exigências de promovê-las.
O Autor identifica cinco níveis, no primeiro as crianças são simplesmente ouvidas se desejarem manifestar-se, no segundo as crianças são estimuladas a manifestarem suas opiniões, no terceiro as perspectivas destes sujeitos são consideradas no processo decisório, no quarto as crianças se envolvem diretamente no processo decisório e no último nível os menores tem poder de decisão tal qual os adultos.
Para verificar qual o nível de participação é ocupado pelo menor em suas diferentes dinâmicas sociais deve-se questionar a intenções do sujeito/instituição com o menor, as suas práticas para concretizar suas intenções e a vinculação das decisões obtidas a estas práticas. A participação obedece um nível crescente à medida que as respostas são positivamente respondidas e são disponibilizadas mais aberturas, oportunidades e vinculações.
Deste modelo identificam-se três formas de participação: na primeira os menores são tão somente consultados em processo dirigidos por adultos e com resultado produzidos exclusivamente pelos adultos; na segunda forma o menor colabora e influência nos seus resultados; e na terceira forma os menores podem atuar independente dos adultos, controlando o resultado. Estas formas de participação se diferenciam de acordo com a distribuição do poder na relação. Se na primeira o poder é concentrado no adulto, nas que se seguem este poder é partilhado com o menor, invertendo o seu polo de concentração.
Para Shier o nível mínimo de participação garantido pela Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) é o terceiro de sua escala, qual seja, aquele em que se pretende ter em conta a opinião das crianças, em que existem meios para incluir esta perspectiva no processo decisório e a perspectiva da criança deve ser incluída no resultado.
A participação assume significados diferentes em contextos diversos. Ela pode se manifestar nas dinâmicas familiares, na escola, nas relações de vizinhança. Independente do cenário onde ela é avaliada, o modelo de Shier nos permite identificar o nível de participação que é estabelecido nas relações com o menor dentro do campo. Aqui o que nos interessa é avaliar esta participação na seara das práticas judiciais.
5 O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Com a doutrina da proteção integral, a criança passou a ser o sujeito para quem o Estado, a sociedade e a família devem prestar especial atenção e proteção. Sendo o Estatuto a expressão de um direito de caráter finalístico, pois visa garantir a promoção do bem-estar físico e psíquico destes sujeitos, a regência de sua aplicação, bem como de todas as normas que lidem com menores, se dá através da priorização do melhor interesse da criança e do adolescente.
A doutrina da proteção integral reconheceu a todos os menores direitos fundamentais iguais aos dos adultos e independente de sua condição, já o melhor interesse do menor veio resguardar a todas as crianças e adolescentes que seus direitos serão privilegiados diante de um confronto com pretensões de terceiros.
Portanto, tanto na interpretação realizada na atividade jurisdicional, quanto nas políticas públicas e nas ações cotidianas, o Estado, a sociedade e a família devem priorizar o atendimento às necessidades e a efetivação dos direitos dos menores, elegendo o meio que melhor promova seus interesses e garanta seu desenvolvimento.
Em sendo assim, o melhor interesse da criança e do adolescente opera em nosso ordenamento como um princípio, delimitando a discricionariedade interpretativa no momento da aplicação de uma norma e servindo de justa medida quando do confronto entre normas[33].
Tendo como esteio os ensinamentos de Kant sobre sua doutrina da virtude[34], é possível interpretar que o melhor interesse do menor traz estampado, para além de um dever jurídico, uma espécie de dever ético imperfeito, ou seja, uma obrigação para que os sujeitos atendam o interesse do menor, mas que possibilita uma ampla margem para decidir como proceder em vista da promoção daquele interesse. Os sujeitos que estão obrigados a este fim não podem deixar de atendê-lo, mas o grau e os modos como serão atendidos ficam ao seu arbítrio. Sua raiz encontra-se no dever de beneficência proposto por Kant enquanto virtude de um sujeito ter como escopo da sua ação ajudar os necessitados a alcançarem o bem-estar[35].
Em sendo assim, o atuar dos sujeitos e instituições que interagem com o menor devem ter como fim o atendimento prioritário dos interesses da criança e do adolescente como forma de garantir a efetividade de seus direitos. A justificativa deste tratamento especial, estampada na exposição de motivos da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), é a condição do menor de indivíduo em desenvolvimento. Logo, o desígnio da ação do sujeito deve ser o de atender os interesses desta parte mais frágil da relação.
Os infantes precisam de ajuda para fazer valer seus direitos porque não possuem todas as capacidades materiais e psicológicas para satisfazer autonomamente suas necessidades. Em razão desta condição os seus pais, a sociedade e o Estado devem administrar seus interesses para lhes auxiliar na persecução do seu bem-estar e no desenvolvimento de seu máximo potencial[36]. Portanto estamos diante de um dever de administrar um direito alheio que se encontra limitado justamente por este direito. Em sendo assim, o interesse do menor é ao mesmo tempo objetivo e o limite da atuação dos pais, da sociedade e do Estado nas relações com o infante, tendo estes o poder de escolher como desempenhar o seu dever desde que seu direito de administrar não viole algum direito do menor.
O melhor interesse da criança e do adolescente apareceu expresso pela primeira vez na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959[37]. Num segundo momento a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, recepcionada por nós através do Decreto 99.710/90, ampliou o alcance do princípio do melhor interesse da criança e adolescente abrangendo não só o aspecto formal de instituições de leis, voltando-se também para a sua efetivação[38] e a sua aplicação cogente no que se refere à atuação dos três poderes, da sociedade, de instituições privadas e da família nas ações concernentes aos interesses dos menores.
No Direito brasileiro, antes da aprovação da mencionada Convenção, o referido princípio foi assimilado pela Constituição de 1988 no seu art. 227, caput, no caput do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, orientando a aplicação e a interpretação das normas que dispõem sobre os direitos das crianças e adolescentes, buscando a solução que se apresenta mais favorável ao seu desenvolvimento e à garantia de seus direitos fundamentais.
Embora na tradução para o português da Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) tenha se utilizado o termo interesse maior da criança (art. 3º), a doutrina nacional sobre o tema[39] comunga a compreensão de que o termo adequado é melhor interesse da criança, posto que este estaria de acordo com a ideia qualitativa que o seu original em inglês (best interest) pretendeu expressar.
Destaca-se que está expresso na carta constitucional que é dever do Estado, da sociedade e da família garantir a prevalência do interesse do menor. Com este princípio não só se institui que os direitos dos menores possuem prioridade como também que a responsabilidade pela realização deste objetivo é de toda a sociedade, de forma solidária, e em todos os campos em que se estabeleça uma relação com sujeitos integrantes de categoria infantojuvenil.
Todavia, na realização de políticas públicas e na atividade judicativa, tanto o administrador público quanto o juiz não possuem vetores para apurar qual seria o melhor interesse do menor, havendo uma ampla margem de interpretação desde que na sua justificativa aponte como fundamento o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, da criança. Portanto, enquanto critério interpretativo, o conceito de melhor interesse é deveras vago.
Evidente que num Estado Democrático de Direito a falta de critérios objetivos não pode ser espaço para a profusão de decisões arbitrárias. O temor é que este princípio se torne uma quimera, refletindo o interesse dos adultos. Em sendo assim, as dificuldades na aplicação do referido princípio se concentram na definição de sentido do melhor interesse e na possibilidade de uma compreensão solipsista do interpretador.
É inegável que compreender o melhor interesse depende de considerarmos questões subjetivas e particulares a cada criança e a cada família. Por tal razão o legislador não fixou critérios para a determinação do melhor interesse. Para que a compreensão do que é melhor não fique adstrita a concepções subjetivas do administrador/julgador, devem ser consideradas as relações estabelecidas pela criança, as capacidades dos sujeitos com quem a criança se relaciona, os espaços ocupados por ela e a preferência por opções que causem menos dano à criança[40].
Outrossim, a garantia do melhor interesse de menor está intrinsecamente vinculada à ideia do protagonismo infantil. Somente dando-lhe voz é possível identificarmos suas percepções sobre a realidade e tal postura é determinante para a adequada identificação de qual posição melhor atende os interesses destes sujeitos. Não há como se intervir numa realidade sem que saiba o ponto de vista do principal interessado nesta intervenção. Do contrário só teremos fatos parciais e resultados produzidos por uma percepção exclusivamente adulta.
Portanto, na aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o agente público ou os sujeitos sociais envolvidos nas ações concernentes aos menores, precisam promover espaços e métodos interdisciplinares que favoreçam a participação do infante e assim permitam a compreensão da criança como pessoa, das suas relações afetivas, suas necessidades particulares, suas preferências, suas inibições, ambições, medos e expectativas.
Como já alertado, levar em consideração a perspectiva infantojuvenil não representa uma abdicação das formulações dos adultos e um total empoderamento dos menores quanto aos rumos de suas vidas. Contudo, garantir o melhor interesse de menor está intrinsecamente vinculado à ideia do protagonismo infantil, dando-lhe voz para que possamos identificar suas percepções nas ocasiões de determinar o que é melhor para sua vida e reafirmando sua importância como sujeito ativo nas relações. Se assim não proceder se irá perpetuar o ciclo de subordinação na relação criança/adulto, contribuindo para que o interesse tutelado esteja empregando das compreensões do adulto, mas cego às percepções da infância sobre sua realidade.
Em análise última, tendo em conta as dimensões da proteção, da provisão e da participação dos direitos da criança e do adolescente, compreendemos que o melhor interesse limita a amplitude da ingerência do adulto no atuar protetor e provedor e empresta concretude ao protagonismo do menor, na medida que o desvendamento do melhor interesse passa pela integração de sua perspectiva no processo de decisão.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta brevíssima análise nos permitiu alcançar um fundado questionamento sobre a modulação da dignidade das crianças e adolescentes nas nossas práticas sociais e visualizarmos que a participação é uma dimensão fundamental para a concretização do melhor interesse dos menores.
Ao ponderarmos sobre o espaço ocupado por estes atores e os discursos que circundam sua categorização pudemos verificar que a ênfase na proteção do menor serve mais à manutenção de uma relação de subordinação entre adultos e crianças do que promoção de seus direitos.
Aos menores não pode ser negado o protagonismo e a escolha sob o argumento de que são incompletos e dependentes e por isso incapazes de agir, meros receptáculos passivos dos mandamentos dos adultos. Inacabados e dependentes somos todos nós[41], crianças ou adultos, sempre em formação e pertencentes a uma teia de interdependência social, alterando-se o tipo de dependência, mas não extinguindo este nível de relação social de suas vidas.
Assumir que a criança e o adolescente participam na construção da realidade social através de processos de interação e construção de verdades conjuntos com os adultos liberta esta categoria da posição de subalternos, reconhecendo-os como atores sociais e resgatando sua dignidade enquanto pessoas.
Se quer-se garantir direitos a estes sujeitos precisamos despender atenção aos modos como a criança compreende a realidade e reinterpreta valores tais como liberdade, dignidade e felicidade, sob pena de estarmos impingindo uma lógica adulta à realidade infantojuvenil numa manifestação de desserviço à efetividade dos direito para estes sujeitos.
Verdade seja, ainda que se queira promover a participação dos menores, despirmo-nos de tamanha carga cultural adultocêntrica não é tarefa fácil. É preciso confrontar nossa própria compreensão de criança com auxílio de um instrumental multidisciplinar que nos permita enxergar uma nova dimensão destes sujeitos e uma forma de interagir com eles que permita revelar sua própria voz, superando o estigma da incapacidade.
7 REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Colisão de direito fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito democrático. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 217, p. 67-79, jul. 1999, p 74-75.
ARIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. p. 29.
BORGES, Maria de Lourdes. Uma tipologia do amor na filosofia kantiana. Studia Kantiana, Santa Maria, v.2, n.1, p.19-34, 2000, semestral.
BRENNAN, Samantha. The moral status of children: Children’s rights, parent’s rights, and Family Justice. Social Theory And Practice, Florida, v. 23, n. 1, p.1-26, mar. 1997.
BRENNAN, Samantha. The moral status of children: Children’s rights, parents’ rights, and Family Justice. Social Theory And Practice, Florida, v. 23, n. 1, p.1-26, mar. 1997.
DAVIES, Christine. Access to Justice for Children: The Voice of the Child in Custody and Access Disputes. In: Australasian Law Reform Agencies Conference, 41, 2004, Wellington. Disponível em: <http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2004/2004-session-5b-access-justice-children-voicechild- custody-and-access-disputes>. Acesso em: 13 mar. 2015, p. 8-14.
FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p.98.
GOULD, Jonathan W. Including children in decision making about custodial placement. Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, Chicago, v. 22, n. 2, p. 303-314, 2009.
GRAUE, M. Elizabeth. Studying children in context: theories, methods & ethics. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998. p. 1-15.
HART, Roger. La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación auténtica. Bogotá: Unicef, 1993. p. 5-9.
JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 33.
KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2003, p. 232-235.
LONDONO, Fernando Torres. A Origem do Conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991, p. 129-145.
MORAES, Aparecida Fonseca. O Estatuto da Criança e do Adolescente e as Instituições: Consensos e Conflitos. Revista CADE, São Paulo, n. 7, p. 81-108, jul./dez. 2002, semestral.
ORTIZ, Renato (Org.). A Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Olho D’agua, 2007.
PEREIRA, Tânia da Silva (Coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
PEREIRA, Tânia da Silva. Infância e Juventude: os Direitos Fundamentais e os Princípios Constitucionais Consolidados na Constituição de 1988. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 6, n. 23, 2003, p.265.
PINTO, Manuel. A infância como construção social. In: PINTO, Manuel e SARMENTO, Manuel Jacinto (coord.). As crianças: contexto e identidades. Braga: Universidade do Minho, 1997, p. 33-73.
PROUT, Alan. Reconsiderando a nova sociologia da infância. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 141, n. 40, p. 729-750, set./dez. 2010, p.737.
QVORTRUP, Jens. A infância enquanto categoria estrutural. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 36, n. 2, p. 631-643, maio/ago. 2010.
SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídicoconstitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n. 09, p. 361-388, jan/jun. 2007.
SARMENTO, Manuel Jacinto. As crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando o campo. In: PINTO, Manuel; SARMENTO, Manuel Jacinto (Coord.). As crianças: contexto e identidades. Braga: Universidade do Minho, 1997. p. 9-29.
SARMENTO, Manuel Jacinto. Imaginário e culturas da infância. Cadernos de Educação, Pelotas, v. 12, n. 21, p. 51-69, 2003.
SHIER, Harry. Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Children & Society, Londres, v. 15, p.107-117, 2001.
SOARES, Natália Fernandes. Infância e direitos: participação das crianças nos contextos de vida: representações, práticas e poderes. 2005. 492 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança. Universidade do Minho, Braga, 2005, p.44.
SOTOMAYOR, Maria Clara. Temas de direito das crianças. Coimbra: Almedina, 2014.
TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil, 2007. 415 f. Tese (Doutorado) – Curso de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007.
MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; CAMPOS, Maria Luiza Ferraz de. O direito de audição de crianças e jovens em processo de regulação do exercício do poder Familiar. Revista Brasileira de Direito de Família: IBDFAM, Porto Alegre, v. 7, n. 32, p. 5-19, out. 2005. Trimestral.
UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court Of The United States. Brain Studies Establish An Anatomical Basis For Adolescent Behavior 03-633. United States Reports. n. 551.
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2012: crianças e adolescentes do Brasil. Rio de Janeiro: Flacso Brasil, 2012. Disponível em: <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_Criancas_e_Adolescentes.pdf>.
Notas de Rodapé
[1] Mestre pelo PPGD-UNESA (2017), Especialista em Processo Civil pela UCAM, Bacharel em Direito pela UNIRIO (2010). Membro do NEDCPD – PPGD-UNESA.
[2] Doutoranda pelo PPGD-UNESA, Mestre pelo PPGD-UNESA (2015), Bacharel em Direito pela UNESA (2008) e Bacharel em História pela UFRJ (2004). Professora da Faculdade Internacional Signorelli. Pesquisadora do NECPD – PPGD – UNESA.
[3] Doutor em Direito pela UGF, Doutor em Letras pela UFRJ, Pós-doutor em ciência jurídica, Professor Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito – UNESA, Professor adjunto da UFF.
[4] SOTOMAYOR, Maria Clara. Temas de direito das crianças. Coimbra: Almedina, 2014. p. 43.
[5] “Categorial social é um conjunto de pessoas que têm o mesmo STATUS social, tais como “mulher”, “gerente” ou “estudante universitário”. Embora os membros da mesma categoria social possam, como resultado, compartilhar das mesmas características, como crenças e valores, elas não identificam necessariamente a categoria como uma entidade significativa à qual pertencem”. JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 33.
[6] QVORTRUP, Jens. A infância enquanto categoria estrutural. Revista Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 36, n. 2, p. 631-643, maio/ago. 2010.
[7] PEREIRA, Tânia da Silva (Coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 14.
[8] BRENNAN, Samantha. The moral status of children: Children’s rights, parent’s rights, and Family Justice. Social Theory And Practice, Florida, v. 23, n. 1, p. 1-26, mar. 1997.
[9] Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídicoconstitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n. 09, p.361-388, jan/jun. 2007. O autor nos empresta esta compreensão com sua definição de dignidade da pessoa como “a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos” (p. 383).
[10] KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2003. p. 232-235.
[11] Sobre este ponto SARLET argumenta: “esta liberdade (autonomia) é considerada em abstrato como sendo a capacidade potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta, não dependendo da sua efetiva realização no caso da pessoa em concreto, de tal sorte que também o absolutamente incapaz (por exemplo, o portador de grave deficiência mental) possui exatamente a mesma dignidade que qualquer outro ser”. SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídicoconstitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n. 09, p.361-388, jan/jun. 2007, p. 368.
[12] A cultura infantil é um processo de socialização de sistemas de representações que as crianças fazem sobre si, sobre outras crianças e sobre os adultos, formadas por códigos compartilhados que permite os sujeitos interagirem socialmente. Neste processo as crianças não se limitam a reproduzir os significados que são recebidos dos adultos, elas resistem, reinterpretam e negociam representações que lhes são próprias. Cf. SARMENTO, Manuel Jacinto. Imaginário e culturas da infância. Cadernos de Educação, Pelotas, v. 12, n. 21, p. 51-69, 2003.
[13] TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 415 f. Tese (Doutorado) – Curso de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007.
[14] Idem.
[15] Lógica adultocêntrica é aquela que compreende o mundo da criança através de referências do adulto e a suposta autoridade que esta condição teria, ignorando os significados produzidos pela criança nas suas experiências. Cf. GRAUE, M. Elizabeth. Studying children in context: theories, methods & ethics. Thousand Oaks: Sage Publications, 1998. p. 1-15.
[16] Cf. SARMENTO, Manuel Jacinto. As crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando o campo. In: PINTO, Manuel e SARMENTO, Manuel Jacinto (Coord.). As crianças: contexto e identidades. Braga: Universidade do Minho, 1997. p. 9-29.
[17] MORAES, Aparecida Fonseca. O Estatuto da Criança e do Adolescente e as Instituições: Consensos e Conflitos. Revista CADE, São Paulo, n. 7, p.81-108, jul./dez. 2002, semestral.
[18] A pesquisadora Natália Fernandes Soares muito adequadamente aborda a antinomia de valores “quando se argumenta que não se deve permitir as crianças fazer escolhas, porque elas podem ser escolhas erradas devido à sua falta de experiência, tal não é mais do que uma tautologia, na medida em que, se as crianças nunca forem autorizadas a tomar decisões porque não têm experiência, o processo de tomada de decisão nunca se poderá iniciar” (SOARES, Natália Fernandes. Infância e direitos: participação das crianças nos contextos de vida: representações, práticas e poderes. 2005. 492 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança. Universidade do Minho, Braga, 2005. p. 44).
[19] WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2012: crianças e adolescentes do Brasil. Rio de Janeiro: Flacso Brasil, 2012. Disponível em <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_Criancas_e_Adolescentes.pdf>.
[20] O conceito de habitus formulado por Pierre Bourdieu é útil para compreendermos o modo como se dá a percepção da infância pelas nossas experiências individuais. O habitus seria a manifestação dos condicionamentos sociais exteriores através da subjetividade dos sujeitos, predispondo os indivíduos nas suas percepções e escolhas. Seria um princípio mediador entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, que articula disposições socialmente estruturadas através de experiências práticas que formam e condicionam a compreensão e o agir individual. Este instrumento epistêmico nos permite compreender porque nós mesmos, ainda que racionalmente defensores da autonomia e individualidade da criança, nos excluímos da categoria pessoa em alguma fase das nossas experiências infantojuvenil. Somo condicionados a, consciente ou inconscientemente, reproduzir a despersonalização da infância que está na base da nossa cultura há séculos. Cf. ORTIZ, Renato (Org.). A Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Olho D’agua, 2007.
[21] SARMENTO, Manuel Jacinto. As crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando o campo. In: PINTO, Manuel e SARMENTO, Manuel Jacinto (Coord.). As crianças: contexto e identidades. Braga: Universidade do Minho, 1997. p. 9-29.
[22] SOARES, Natália Fernandes. Infância e direitos: participação das crianças nos contextos de vida: representações, práticas e poderes. 2005. 492 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança. Universidade do Minho, Braga, 2005.
[23] Idem.
[24] SOTOMAYOR, Maria Clara. Temas de direito das crianças. Coimbra: Almedina, 2014. p. 55-57.
[25] TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 415 f. Tese (Doutorado) – Curso de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007.
[26] HART, Roger. La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación auténtica. Bogotá: Unicef, 1993. P .5-9.
[27] DAVIES, Christine. Access to Justice for Children: The Voice of the Child in Custody and Access Disputes. In: Australasian Law Reform Agencies Conference, 41, 2004, Wellington. Disponível em: <http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2004/ 2004-session-5b-access-justice-children-voice-child-custody-and-access-disputes>. Acesso em: 13 mar. 2015, p. 8-14.
[28] As questões da maturidade e da idade são a referência para determinar a participação infantojuvenil de acordo com o art.12 do CDC – “Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança”.
[29] UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court Of The United States. Brain Studies Establish An Anatomical Basis For Adolescent Behavior 03-633. United States Reports, n. 551.
[30] Neste sentido: TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 415 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007, p.163-165; MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; CAMPOS, Maria Luiza Ferraz de. O direito de audição de crianças e jovens em processo de regulação do exercício do poder Familiar. Revista Brasileira de Direito de Família: IBDFAM, Porto Alegre, v. 7, n. 32, p. 5-19, out. 2005. Trimestral.
[31] Dos trabalhos a que tive acesso a principal referência sobre o tema foi: GOULD, Jonathan W. Including children in decision making about custodial placement. Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, Chicago, v. 22, n. 2, p. 303-314, 2009.
[32] SHIER, Harry. Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Children & Society, Londres, v. 15, p. 107-117, 2001.
[33] Nos empresta sentido a compreensão de Robert Alexy sobre os princípios. De acordo com o autor “princípios são normas que ordenam que algo seja realizado em uma medida tão ampla quanto possível relativamente a possibilidades fáticas ou jurídicas. Princípios são, portanto, mandamentos de otimização. Como tais, eles podem ser preenchidos em graus distintos. A medida ordenada do cumprimento depende não só das possibilidades fáticas, senão também das jurídicas”. Cf. ALEXY, Robert. Colisão de direito fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito democrático. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 217, p. 67-79, jul. 1999, p 74-75.
[34] KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2003, p. 232-235.
[35] BORGES, Maria de Lourdes. Uma tipologia do amor na filosofia kantiana. Studia Kantiana, Santa Maria, v. 2, n. 1, p.19-34, 2000, semestral.
[36] BRENNAN, Samantha. The moral status of children: Children’s rights, parent’s rights, and Family Justice. Social Theory And Practice, Florida, v. 23, n. 1, p.1-26, mar. 1997.
[37] Princípio II – A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança.
[38] “Art. 4. Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção; Artigo 3 – Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança”.
[39] Cf. PEREIRA, Tânia da Silva. Infância e Juventude: os Direitos Fundamentais e os Princípios Constitucionais Consolidados na Constituição de 1988. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 6, n. 23, 2003, p. 265.
[40] Estas quatro categorias dão conta de agrupar os fatores elencados pelo ministro Fachin para identificação do melhor interesse do menor. Cf. FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte, Del Rey, 1996. p. 98.
[41] PROUT, Alan. Reconsiderando a nova sociologia da infância. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 141, n. 40, p. 729-750, set./dez. 2010, p. 737.