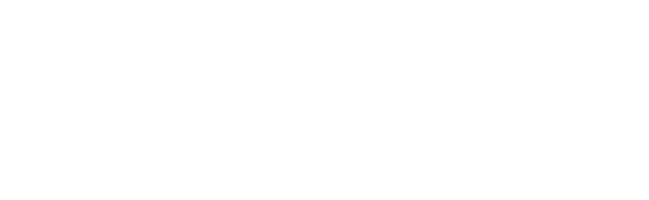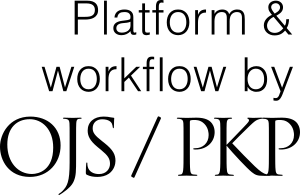CONDIÇÃO JURÍDICA DA MULHER NA ANTIGA MESOPOTÂMIA: CÓDIGOS DE UR-NAMMU E HAMMURABI
THE LEGAL STATUS OF WOMAN IN ANCIENT MESOPOTAMIA: CODES OF UR-NAMMU AND HAMMURABI
DOI: 10.19135/revista.consinter.00009.03
Karina A. Denicol[1] – https://orcid.org/0000-0001-7642-5783
Paulo J. S. Bittencourt[2] – https://orcid.org/0000-0003-0572-5011
Resumo: O presente ensaio consiste na reflexão de natureza teórico-metodológica e historiográfica sobre a condição jurídica da mulher na Antiga Mesopotâmia, especialmente durante o período de transição da III Dinastia de Ur (2112-2004 a.C.) à ascensão do Império paleobabilônico (1792-1595 a.C.). Para tanto, a análise privilegia a investigação comparada dos compêndios de leis de Ur-Nammu (2112-2095 a.C.) e de Hammurabi (1792-1750 a.C.). A hipótese aqui proposta é a de que as similaridades e diferenças entre esses documentos régios no tocante à condição jurídica da mulher podem ser adequadamente explicitadas à luz de suas relações com a cosmovisão mesopotâmica e as transformações históricas que marcaram as formas de transmissão de bens no seio da estrutura familiar.
Palavras-chave: Condição jurídica da mulher. Coleções de Leis de Ur-Nammu e Hammurabi. Estrutura familiar. Formas de transmissão de bens.
Abstract: The present essay consists of a theoretical-methodological and historiographical reflection on the legal status of women in Ancient Mesopotamia, especially during the period of transition from the Third Dynasty of Ur to the rise of the Paleobianic Empire. Therefore, the analysis focuses on comparative research of compendia of Ur-Nammu and Hammurabi laws. The hypothesis proposed here is that the similarities and differences between these royal documents regarding the legal status of women can be adequately explained in light of their relations with the Mesopotamian worldview and the historical transformations that marked the transmission of goods within the family structure.
Keywords: Legal status of women. Collections of laws of Ur-Nammu and Hammurabi. Family structure. Forms of transmission of goods.
1 Introdução
As coleções do direito cuneiforme fornecem uma documentação excepcional sobre a condição jurídica das mulheres na Antiga Mesopotâmia. É possível até mesmo entrever nessas fontes aspectos essenciais que compuseram o quadro mais amplo da vida das mulheres em sociedade. Sabe-se, por exemplo, que sua situação não foi homogênea, variando em função das épocas, dos lugares e dos diferentes estatutos jurídico e social que a envolveram (LION; MICHEL, 2005, p. 3). A condição que lhes era destinada no quadro familiar subordinava-se amplamente ao costume e ao direito (SANTOS, 2001, p. 45).
Em contrapartida, essa mesma abundância de ingredientes das coleções do direito que nos permitem reconstituir a vida cotidiana das mulheres contrasta amplamente com a mais absoluta ausência de remissões a seu estatuto enquanto tal. Isso porque que as referências à sua condição foram sempre tecidas exclusivamente em função de atividades específicas que desempenhou. Apesar de sua identidade ser claramente discernível, as representações da mulher nas sociedades mesopotâmicas nunca a figuram como uma entidade autônoma em si mesma que merecesse qualquer reflexão teórica. Dito de outro modo, seus contornos identitários, com sua específica posição na tessitura da sociedade, foram sempre delineados por atributos de natureza relacional. Surpreendente num primeiro momento, uma constatação dessa natureza, contudo, decorreria das similitudes e convergências que constituem o pano de fundo da visão de mundo dos mesopotâmicos[3].
Por conseguinte, a percepção do arcabouço jurídico enquanto manifestação específica da cosmovisão mesopotâmica pode constituir uma via analítica interessante no esclarecimento da situação da mulher. Situaremos, pois, o lugar de sua condição jurídica em relação ao cerne de uma moldura simbólica.
2 Das sentenças régias como expressões jurídicas do sagrado
Norman Cohn destaca que um Estado mesopotâmico “era a suprema expressão na terra da ordem estabelecida pelos deuses e a tarefa do rei era garantir que, em seus domínios, essa ordem fosse mantida”[4] (1996, p. 60). Nesse sentido, tudo o que havia sido criado e ordenado pelos deuses, o céu e a terra, a natureza e a sociedade, continuava sob a supervisão deles. A concepção mesopotâmica associava-se, aqui, às cosmovisões típicas do antigo Oriente Próximo. De acordo com elas o cosmos, no sentido de uma ordem compreensiva e onipotente, era algo inquestionável. Tal como no Egito, ainda que se imaginasse o mundo ordenado como sendo, em essência, imutável, as concepções de mundo do Oriente Próximo revelavam também em seu âmago uma consciência da instabilidade dessa ordem. Sobre as suas mais diversas instâncias a atuação de forças caóticas tornava a vida bastante insegura. O funcionamento regular e efetivo desse grande protetor, o Estado, e sua personificação por excelência, o rei, pertencia “à mesma ordem abrangente que incluía os movimentos do sol, da lua, das estrelas e a sucessão das estações” (Ibidem, p. 16).
Sob todos os aspectos o bem-estar do reino dependia do soberano, quer se tratasse do rei de uma cidade-Estado suméria ou do governante de um império assírio ou babilônico. Especialmente a partir da transição do terceiro para o segundo milênio a.C., a monarquia permanente tornou-se a forma de governo mais comum entre os Estados mesopotâmicos, “fossem eles grandes ou pequenos, sumérios ou acádios” (COHN, 1996, p. 59). Uma aura sobrenatural, até então sempre atribuída às divindades, passou a circundar o rei, que se tornou, por sua vez, uma figura majestosa a despertar temor e reverência entre seus súditos. Acreditava-se, assim, que os reis mesopotâmicos, embora raramente divinizados, eram escolhidos pelos deuses[5].
Desse modo, embora existisse independentemente de qualquer rei, a realeza era originária do céu[6].
A presença no trono de um rei devoto era vista como garantia de que o ciclo das estações prosseguiria sem tropeços, de que as safras seriam regulares e abundantes, e de que as gerações se sucederiam sem interrupção. Mas sempre eram os deuses que prescreviam os deveres do rei e lhe concediam seus poderes. (…) Tal como no Egito, o rei também chamava a si mesmo de ‘pastor’: cuidava do povo em nome dos deuses, os verdadeiros senhores. (Ibidem, p. 61)
Convém ressaltar, pois, que o primeiro dever do pastor real era fazer com que a justiça prevalecesse na terra. Não haveria nada mais inapropriado, portanto, do que considerar a cultura jurídica mesopotâmica como uma instância completamente autônoma em relação à esfera do sobrenatural. O mesmo podemos afirmar a respeito tanto de outros âmbitos do saber, tais como a medicina e a astronomia, quanto de quaisquer aspectos do tecido social. A sacralização da justiça
ia muito além de colocá-la sob os auspícios dos deuses, particularmente, de Shamash: tratava-se de considerar que o estabelecimento das normas de convivência em sociedade só podia ocorrer como uma tradução do ordenamento cósmico estabelecido pelas instâncias divinas. Assim, ao invés de sacralização da justiça, talvez fosse mais exato falar em expressão jurídica do sagrado[7]. (REDE, 2006, p. 167s)
O respeito profundo pelas leis nunca era devido às leis em si mesmas. Para os mesopotâmicos, a lei era uma criação genuinamente divina, algo que se revelava ao rei pelos deuses, e que só poderia ser promulgada pelo rei em nome deles. Como se depreende de prólogos e epílogos das compilações jurídicas, era fundamental a associação dos monarcas governantes, a Utu/Shamah, respectivamente em suas versões suméria e acádia, deus solar e, enquanto tal, juiz e protetor do direito.
| Prólogo do Código de Ur-Nammu
Então fez Ur-Nammu o altíssimo guerreiro, Rei de Ur, Rei da Suméria e da Acádia, pelo poder de Nanna, Senhor da cidade, e de acordo com a verdadeira palavra de Utu, estabeleceu equidade na terra; ele baniu a maldição, a violência e a fome (…). |
Epílogo do Código de Hammurabi
Eu (sou) Hammurabi, o pastor, chamado por Enlil, aquele que acumula opulência e prosperidade, (…) Por ordem de Shamash, o grande juiz do céu e da terra, possa minha justiça manifestar-se no país. (…) Eu sou Hammurabi, o rei da justiça, a quem Shamash deu a verdade. |
Escolhido pelos deuses como seu representante maior perante os mortais, o rei era também o provedor dos templos. Cabia a ele, por exemplo, determinar a quantidade de oferendas religiosas feitas diariamente ao templo e as taxas mensais que lhe eram devidas [CU, 16]. Para assegurar as oferendas, o rei deveria zelar para que cada templo tivesse o suficiente, em terras e rendas. Esperava-se que o cumprimento consciencioso de seus inúmeros deveres religiosos seria recompensado com concessão pelos deuses de fertilidade à terra. Da boa disposição dos deuses dependia a prosperidade do reino. Na verdade, um templo mesopotâmico era uma réplica de um templo celeste, uma contrapartida terrena da moradia sublime dos deuses. Como tal constituía o “vínculo entre o céu e a terra, uma afirmação do relacionamento duradouro entre as atividades terrenas e o mundo dos deuses” (COHN, op. cit., p. 58). A reconstrução de um templo arruinado de um deus, a seu próprio pedido, traduzia-se na maior glória para o rei, porquanto, ao fazer isso, reafirmava-se na terra a ordem estabelecida no céu.
Depreende-se do exposto que as noções de “equidade” e “justiça”, enunciadas nos excertos jurídicos acima mencionados, abrangeriam muito mais do que a compreensão moderna denominaria de “justiça social”. Na mentalidade mesopotâmica, mesmo quando intervinha em situações mais mundanas da vida social, a ação do monarca era concebida como garantia da ordem cósmica. Sua eficácia e legitimidade fundamentavam-se no entendimento de que as leis régias traduziam juridicamente a vontade dos deuses (REDE, 2009, p. 141). A função de legislador constituía parte inerente das atribuições que foram delegadas ao rei pelos deuses como seu representante na terra. Assim, ao estabelecer “a equidade na terra” e banir “a maldição, a violência e a fome”, o rei estava preocupado em evitar ou reprimir a turbulência social e a instabilidade política. Tais ações, por sua vez, eram justas fundamentalmente por equivalerem, no plano social, à garantia do bom curso da natureza e do universo. Tratava-se de manter e restaurar a ordem cósmica pelo combate a todas as manifestações das forças do caos. Esse mesmo propósito era assinalado noutra passagem do prólogo do Código de Ur-Nammu:
“Nesse tempo (eu), Ur-Namma,
guerreiro poderoso,
rei de Ur, rei de Sumer e Akkad,
com a força do deus Nanna, meu senhor,
por meio da [ordem jus]ta do [deus Utu(?)]
estabeleci [a justi]ça (?) [no(?)]” [CU, p. 104-13]
E, no epílogo do Código de Hammurabi, encontramos uma exaltação equivalente: “Hammurabi é o senhor, que é como um pai carnal para os povos, ele preocupou-se intensamente com a palavra de Marduk em cima e em baixo, e assim assegurou para sempre a felicidade do povo e obteve justiça no país” [C. H., XLVIII, p. 20-40].
A tessitura simbólica em que se insere a imagem do “rei da justiça” é melhor focalizada quando se leva em conta, em nível mais abstrato, o princípio fundamental que encerram as noções acádias de kittum e mîsharum, traduzidas, por sua vez, como “retidão”, “correção”, “verdade” e também “justiça”. Essas noções designavam um princípio ao qual sumérios e semitas atribuíam grande importância, e que era bastante similar à Maat egípcia[8]. Frequentemente, o deus-sol era designado de “senhor de kittum e mîsharum”, e ambas as noções foram às vezes retratadas mediante suas personificações na figura de deuses que acompanhavam Shamash, a exemplo do que ocorria com o deus-sol egípcio Rá quando ladeado pela deusa Ma’at e o deus Thoth[9].
Em outra perspectiva, a significação conjuntiva que emerge desse par de termos traz consigo, respectivamente, duplo desdobramento: 1) em nível mais abstrato, kittum, termo derivado de uma raiz que significa “ser/tornar estável” indicaria o atributo mais geral do soberano, qual seja, o de combater as forças do caos em todas as suas manifestações. Sendo assim, a responsabilidade pela ordem social por parte do governante corporifica, na terra, a tarefa suprema de Utu/Shamash, o representante muito eficaz de An e Enlil como governantes do mundo: a manutenção contínua da ordem cósmica; 2) em nível mais concreto, a noção de mîsharim, que pode ser também traduzida por “justiça”, implicaria ação mais dirigida por parte do soberano. Seria justamente esse vocábulo a se encontrar na origem de um epíteto real muito comum: shar mîsharum, “rei da justiça” (REDE, 2009, p. 137). A circularidade do símbolo aqui se completa: o “rei da justiça”, por sua interferência ativa na vida social, equipara-se a Shamash, “o grande juiz do céu e da terra, aquele que conduz com justiça as criaturas de vida” [Código de Hammurabi, L, p. 11].
3 Compilações jurídicas e Estado centralizado
Aos moldes da datação egípcia, a tentativa de se designar de período intermediário os agitados séculos que se seguiram à queda do império de Ur III e que precederam a unificação da Babilônia sob o cetro de Hamurabi traz consigo o risco de um equívoco essencial. A distorção latente – um erro sutil, mas não menos essencial – se dá mais pelo que não é dito, e toma corpo pela interferência de uma analogia inadvertida. Trata-se de equiparar os impérios de Ur e Babilônia à vastidão e à longevidade dos Estados faraônicos (GLASNER, 2019, p. 253). Ao contrário da história da civilização egípcia, caracterizada pela prevalência temporal de um estado altamente unificado e centralizado, entremeado pela alternância ocasional de períodos intermediários, a configuração política dos Estados mesopotâmicos foi predominantemente ditada pela forma da cidade-estado. A fragmentação política nunca foi sentida como um “mal necessário”, à semelhança do que ocorria com outras regiões como o Egito. Estendida a um vasto território, a unidade política existiu por vezes, mas raramente de forma duradoura. Não caracteriza, portanto, um dado fundamental da civilização mesopotâmica. Ao longo de sua história, os impérios regionais ou multirregionais, com seus distintos graus de centralização, constituíram experiências excepcionais, calcadas, além disso, sobre diferentes arranjos étnicos[10].
A despeito da efemeridade, não foi menos significativo o impacto histórico dos Estados mesopotâmicos quando de suas estruturações imperiais. Particularmente dignos de menção por si só, dois casos se tornam ainda mais notáveis quando se leva em conta, sobretudo, a formação da cultura jurídica no Antigo Oriente Próximo. Referimo-nos, aqui, à Terceira Dinastia de Ur (2112-2004 a.C.), sob o reinado de Ur-Nammu (2112-2095 a.C.), e ao Império Paleobabilônico (1792-1595 a.C.), durante o governo de Hammurabi (c. 1792-1750 a.C.). Com efeito, nesses períodos vieram à luz os dois mais célebres compêndios legais em escrita cuneiforme. Essa notoriedade se explica pelo fato de o Código de Ur-Nammu ter sido a primeira promulgação de sentenças de que se tem conhecimento. A estruturação de seu conteúdo inaugurou uma tradição mantida pelas coleções subsequentes [tais como o Código de Lipit-Ishtar de Isin e o código (promulgado por um rei desconhecido) de Eshnunna], e, por fim, ampliada pelo Código de Hamurabi, o mais famoso e orgânico compêndio de leis da Antiga Mesopotâmia. Outrossim, os dois conjuntos em questão, entre outros, foram tidos por muitos estudiosos como expressões cabais dos impulsos unificadores de seus governantes e de suas compulsões por regular, através da administração da justiça, o máximo possível das facetas da vida. À guisa de exemplo, seria significativo que a atuação jurídica do governante pudesse se sobrepor, pelo menos em certos casos, sobre as tradições locais. Haveria, portanto, uma conexão de fundo entre ambas as compilações assentada sobre os seguintes critérios: notoriedade histórica e expressão de fortes tendências unificadoras da tradição jurídica. Essa base comum, contudo, não deve encobrir as peculiaridades irredutíveis de cada um dos casos.
Publicado em 1952 pelo célebre sumerólogo Samuel N. Kramer, o Código de Ur-Nammu constituiu um elemento não secundário na obra de organização do Estado. Embora disponhamos de poucos fragmentos textuais, sabemos que esta coleção do direito cuneiforme versava sobre sentenças que abrangiam assuntos que conceberíamos modernamente tanto civis quanto penais. Apesar de derivar sua formação dos editos de reformas precedentes, tais como as reformas éticas e sociais de Urukagina (c. 2350 a.C.)[11], foi muito além deles, pois apresentou um novo delineamento. Antes de simplesmente sanar problemas surgidos com o tempo, apresentou uma forma mais sistemática e estável de administrar a justiça e estabelecer em bases sólidas a ordem social. Para que tenhamos uma ideia do que se está aqui a afirmar, resumidamente Ur-Nammu estabeleceu a medida padrão do sila (capacidade), da mina e dos siclos (pesos), regulamentou o tráfego comercial nas margens dos rios e padronizou a indenização a ser feita em caso de homicídios, delitos sexuais, e diferentes tipos de danos (LIVERANI, p. 234)[12]. Esse evidente ímpeto por uniformizar embasou uma tendência fortemente consagrada pela historiografia segundo a qual os reis de Ur, para governar o império, teriam criado uma enorme máquina burocrática, pesada, minuciosa e de infinitas ramificações[13]. Nessa perspectiva, a época do ressurgimento sumério[14] teria sido marcada como a do estatismo mais avançado, e, por intermédio dessa administração, a influência do palácio tornar-se-ia onipresente (GLASSNER, op. cit., p. 246-250; JOSÉ, op. cit., p. 10).
Fundamentalmente, a concepção de sociedade da Baixa Mesopotâmia sob a égide do Estado de Ur III, para além dos membros da burocracia e do aparelho político e administrativo, apresentava uma estrutura bipartida de homens livres e escravos. Num extremo da escala social despontou uma casta de funcionários e de mercadores enriquecidos que souberam tirar partido de suas situações no processo administrativo e econômico. Vê-se também o desenvolvimento de empresas privadas, toleradas pelo Estado e beneficiadas às vezes por empréstimos proporcionados pelos templos. De outra parte, os textos jurídicos atestam o aumento de uma camada social desfavorecida, cujos membros são designados pelo qualificativo de mashen em sumério, mushkhenum em acádio. Obrigados a vender a sua força de trabalho, dispunham de uma liberdade reduzida, e sabe-se que palácio os empregou nas suas oficinas e armazéns. [As leis de Eshnunna e o Código de Hammurabi dividiram a sociedade paleobabilônica nos três grupos sociais de awîlum, mushkhenum e wardu (escravos).] Há duas espécies de escravos, de acordo com suas origens. Uns, designados ir ou geme, são aqueles domésticos de ambos os sexos, reduzidos à escravidão pela condenação dos tribunais ou que se encontram na necessidade de vender seus serviços diante de dificuldades econômicas; usufruem de personalidade jurídica e podem possuir bens. Os outros, namra, são prisioneiros de guerra, empregados nas fábricas do Estado. Não possuem qualquer estatuto e, por vezes, são incorporados pelo rei às suas guarnições militares (GLASNER, op. cit., p. 250s; GARELI, 1982, p. 105ss). Outros documentos de Ur III referem-se também a homens livres onerados por dívidas que vendiam a suas esposas ou seus filhos como escravos para quitar, por seus trabalhos essas dívidas (BOUZON, 1998, p. 102s). A estrela de Hammurabi não revogou o costume vigente, mas o limitou a três anos. No quarto ano, à esposa, ao filho ou à filha que trabalharam na casa do credor ou do comprador, vendidos pelo awîlum (homem livre) endividado, deveria ser concedida a liberdade (§ 117)[15].
Ora, diante deste quadro social crescentemente conturbado, o código de leis de Ur-Nammu testemunha um forte sentimento de justiça social por parte do legislador, uma tendência que seria incrementada mais tarde por Hammurabi na famosa estela que coroa a coleção de antiguidades do Museu do Louvre. Com efeito, seus princípios inauguraram uma longa tradição jurídica na antiga Mesopotâmia levada a cabo pelos códigos legais que o sucederam, qual seja, a de debelar toda uma série de abusos que resultavam das pressões econômicas e das tendências à fragmentação:
“O órfão não o entreguei ao rico;
a viúva não o entreguei aos poderosos
o homem (que só possui) 1 gin (=8,3 gr.)
não o entreguei ao homem (que possui) 1 mana (= 500 gr.);
o homem que
só possui 1 ovelha
não entreguei ao homem (que possui) 1 boi (162-8)”[16].
Esses atos descreviam, portanto, sempre uma intervenção do governante na sociedade e na economia do reino, o único instrumento que poderia prover as necessidades dos órfãos e das viúvas e a libertação dos que estavam submetidos à escravidão por necessidades econômicas. A sensibilidade social e jurídica do rei manifesta, contudo, um traço inegável. “A repetição contínua dessas providências demonstra a debilidade intrínseca de sua eficácia”, ou seja, “o poder não conhece instrumentos capazes de incidir nas causas da disfunção econômica, e só consegue incidir nas consequências. Assim, as causas permanecem ativas e não são eliminadas”, mas pelo menos o recurso frequente cancela as consequências mais nocivas (LIVERANI, op. cit., p. 286s). Mesmo que toda a atividade legislativa real derivada do princípio do “rei da justiça” esteja intimamente associada à preservação do status quo da elite palaciana, é também “um fator de coesão social, que garante a superação de crises e evita o rompimento do tecido social” (REDE, 2009, p. 139).
4 A condição jurídica da mulher
A essa altura, a condição jurídica da mulher só pode ser entrevista pelas regulamentações acerca dos delitos sexuais, da partilha de bens e da transmissão das heranças no âmbito da família. Podemos analisar, primeiramente, a condição jurídica da mulher no tocante a este quadro compósito a partir das prescrições legais sobre o adultério. Tal questão nos possibilita vislumbrar que o casamento e a unidade doméstica da família constituem uma das bases mais consagradas da organização social. Com suas 282 sentenças referentes à família, à escravidão e ao direito profissional, comercial e administrativo, que inclusive estabelece padrões de preço de mercadorias e salário de mercenários, vale lembrar que a maior seção do Código de Hammurabi trata justamente do direito de família, versando sobre noivado, casamento e divórcio, adultério e incesto, filhos, adoção e heranças (KRIWACZEK, 2018, p. 228). Assim, vemos no Código de Ur-Nammu que “se um homem seguia a esposa dum gurus[17] por iniciativa dela (e) se deitava no seu regaço, a essa mulher dava-se a morte (e) ao homem punha-se em liberdade” (§ 7). Em contrapartida, o Código de Hammurabi prevê em seu § 129: “se a esposa de um awîlum foi surpreendida dormindo com um outro homem, eles o amarrarão e os lançarão n’água. Se o esposo deixa viver sua esposa, o rei, também, deixará viver seu servo”. A despeito desta cláusula condicionar a comutação da pena a que é sentenciada a esposa unicamente ao perdão do marido, do que decorre o mesmo por determinação real para o homem que incorreu no delito de adultério, a isonomia penal para os infratores no Código de Hammurabi contrasta visivelmente com condenação exclusiva da mulher adúltera[18].
Tal assimetria jurídica entre o homem e a mulher para o caso das sentenças de Ur-Nammu impõe considerar um impasse sobre o qual muito se discutiu na historiografia do direito mesopotâmico e que pode ser resumido nos seguintes termos. Os juízos de Hammurabi no tocante à condição jurídica da mulher afigurar-se-iam justos e sensatos ao leitor moderno quando, sobretudo, vistos relativamente às prescrições de Ur-Nammu. Essas disposições denotariam, portanto, que mulher gozou de uma posição relativamente privilegiada no período babilônico antigo, e mesmo os castigos mais severos seriam apenas simbólicos (JOSÉ, op. cit., p. 25)[19]. Paul Kriwaczek evoca particularmente duas prescrições de Hammurabi para fundamentar, pelo menos em parte, os termos que embasaram esse juízo:
Se um awîlum decidiu abandonar uma šugîtum, que lhe gerou filhos, ou uma nadîtum, que o fez obter filhos, devolverão a essa mulher o seu dote e dar-lhe-ão a metade do campo, do pomar e dos bens móveis e ela educará os seus filhos. Depois que tiver educado os seus filhos, de tudo que foi dado a seus filhos, dar-lhe-ão parte correspondente à de um herdeiro e o marido de seu coração poderá esposá-la (§ 137).
Se uma mulher tomou aversão a seu esposo e disse-lhe: ‘Tu não terás relações comigo’, seu caso será examinado em seu distrito. Se ela se guarda e não tem falta e o seu marido é um saidor e a despreza muito, essa mulher não tem culpa, e tomará seu dote e irá para a casa de seu pai (§ 142).
Vista relativamente ao Código de Ur-Nammu, a ênfase maior de Hammurabi em sentenças protetivas para a mulher tornar-se-ia ainda mais digna de nota, segundo tais posicionamentos, diante de um outro contraste de fundo entre ambas as compilações. Referimo-nos aqui ao fato de o Código de Ur-Nammu ter adotado, como dar-se-ia mais tarde com as leis de Eshnunna (§ 42; 53-48), um sistema de composição legal em relação às lesões corporais em grande parte distinto do de Hammurabi. No primeiro caso, o autor da infração deveria ressarcir a sua vítima, ou os parentes desta, com uma indenização pecuniária fixada pelo juiz. Ora, a aplicação do princípio de compensação pecuniária para as lesões corporais já era amplamente conhecida ao longo do terceiro e do segundo milênios a.C. Já na estela de Hammurabi, juntamente com as leis assírias e as leis bíblicas, o princípio adotado é conhecido como Lei de Talião, segundo o qual é imposto ao agressor o mesmo tipo de agressão que ele causou à vítima ou é punido o órgão agressor. Deve-se considerar, contudo, que no compêndio de Hammurabi o princípio de talião é aplicado somente se a vítima for um homem livre (awîlum). As agressões a um mushkenum ou escravo são submetidas ao princípio da compensação pecuniária (BOUZON, 1998, p. 103s). Importa aqui destacar que não poucos estudiosos conceberam a introdução do princípio de talião na vida jurídica da Baixa Mesopotâmia como indicativo de um retrocesso na praxe dos tribunais babilônicos. Assim, o Código de Ur-Nammu apresentaria contornos mais humanitários e avançados, mas, vale lembrar, tão somente no que diz respeito às prescrições penais para crimes de lesão corporal[20].
Não nos cabe aqui, obviamente, estabelecer distinções de grau valorativo entre as coleções de jurisprudência em questão, uma possibilidade interpretativa por demais espinhosa que, a nosso ver, mais contribuiria para deixar muitas interrogações essenciais sem resposta, se é que as consideraria. Faz-se necessário, outrossim, compreender as peculiaridades irredutíveis que subjazem aos dois conjuntos legais em seus próprios termos históricos. Nesse sentido, a problemática fundamental a ser considerada poderia ser formulada nos seguintes termos:
(1) se aceitarmos a hipótese de que as prescrições de sentenças de Hammurabi no tocante à condição jurídica da mulher foram mais amplas, precisas e protetivas em relação às de Ur-Nammu;
(2) e se concebermos o percurso dessa mudança como a expressão jurídica de transformações históricas tanto em aspectos da cosmovisão mesopotâmica quanto de sua estrutura social;
(3) qual quadro explicativo emergirá no sentido de identificar e emoldurar os aspectos em jogo nesse processo evolutivo?!
5 O matrimônio no viés feminino
Talvez possamos entrever mais facilmente essas transformações pela evolução da natureza dos contratos relativos ao matrimônio. Trata-se também do quadro que mais realça a condição jurídica da mulher nas sociedades neossuméria e paleobabilônica.
O matrimônio mesopotâmico fundamentava-se no princípio da monogamia e do patriarcado. Mas, segundo circunstâncias determinadas, a regra era temperada pela finalidade de assegurar aos homens sua descendência. No Código de Hammurabi, por exemplo, o homem poder-se-ia casar com outra mulher se sua esposa fosse acometida por uma febre contagiosa ou uma moléstia crônica (§ 148). Ele não poderia repudiar a esposa acometida pela doença, mas à mulher estava assegurado o direito de não morar na casa de seu marido, que, neste caso, restituir-lhe-ia integralmente o dote que ela trouxe da casa de seu pai e irá embora (§ 149). Outras circunstâncias previstas giram em torno da negligência da esposa, “que mora na casa do awîlum, decide sair, apropria-se secretamente de bens, dilapida a sua casa e despreza o seu marido” (§ 141). Neste caso, o marido poderia repudiá-la, comprovada a acusação, e seria livre do dever de lhe restituir qualquer indenização de separação, nem mesmo para a sua viagem. Se o marido não a repudiasse, não só disporia do direito de esposar outra mulher, como poderia reduzir a primeira esposa à condição de escrava. Por outro lado, se o awîlum tomou uma esposa, mas ela não gerou filhos, e decidiu casar-se novamente com outra mulher, poderá introduzi-la em sua casa, mas deverá observar o interdito de igualá-la à condição de esposa principal (§ 148)[21]. Enfim, a legislação de Hammurabi insiste na necessidade de se respeitar a presença e os direitos da esposa principal, e prevê, nesse sentido, que a escrava dada por ela ao marido que tenha lhe gerado filhos fosse contada com as escravas por tentar se tenta igualar à superioridade da nadîtum (isto é, a primeira mulher) (§ 146).
Contudo, desses dispositivos jamais se poderá concluir que as sentenças de Hammurabi atenuariam em essência a assimetria jurídica entre homens e mulheres que se atribuiu ao código de leis de Ur-Nammu. Já tivemos a oportunidade de assinalar acima dois casos no Código de Hammurabi em que a mulher poderia obter o divórcio sem culpa, quais sejam, os de aversão e abandono por parte do marido. Outra situação muito específica diz respeito à mulher que se encontra sozinha, eventualmente com filhos sob sua responsabilidade, uma vez que o marido desapareceu, por exemplo, por causa da guerra, tendo sido feito prisioneiro. A mulher, neste caso, não poderia ser considerada viúva, mas se “em sua casa não há o que comer”, a “esposa poderá entrar na casa de um outro”, e não terá culpa (§ 134)[22]. De acordo com o § 135, se a mulher se encontrasse na mesma situação de abandono, sem que tivesse o que comer, e “entrou na casa de outro homem e gerou filhos”, no caso de retorno do marido ela deveria voltar à sua primeira casa, de modo que os filhos gerados seguiriam seu pai. O último caso a ser reportado se refere ao awîlum que “abandonou a sua cidade e fugiu”. Se sua “esposa entrou na casa de um outro, se esse awîlum voltou e quis retomar sua esposa, a esposa do fugitivo não retornará a seu esposo, porque ele desprezou a sua cidade e fugiu” (§ 136). Mas são casos excepcionais, e, na prática, a dissolução do matrimônio podia somente ser requerida pelo esposo[23]. Alguns exemplos de outra natureza, precisamente sobre o delito de incesto, serão suficientes para demonstrar a abissal assimetria a que nos referimos. É o que se pode verificar na situação em que “um awîlum teve relações sexuais com sua filha”. Recairá como pena sobre ele o exílio (§ 154). Em contrapartida, o § 157 prevê a relação incestuosa do filho com sua mãe, após a morte de seu pai, com a cremação de ambos.
6 A mulher e a sucessão patrimonial
Mas é na regulamentação referente a transferência de bens entre as famílias envolvidas no casamento que se pode encontrar uma hipótese explicativa para as diferenças entre as compilações de sentenças de Ur-Nammu e de Hammurabi. Como já foi advertido, infelizmente são poucos os testemunhos textuais que conservam a coleção jurídica de Ur-Nammu. Não dispomos, portanto, de informações sobre a questão em curso, o que nos leva a considerar a célebre assertiva de um não menos renomado cientista, o norte-americano Carl Sagan (1934-1996), de acordo com a qual “a ausência de evidência não significa a evidência de ausência”. É aqui que nos deparamos com uma lacuna fundamental. Só podemos inferir aspectos da legislação sobre a família no período neossumério a partir de fontes complementares que são, portanto, externas ao texto jurídico. À luz desta constatação, a tarefa de elucidar essas distinções só poderá ser enunciada sob o caráter de uma hipótese de trabalho.
Sabemos que a constituição da família na Baixa Mesopotâmia durante a transição entre os III e II milênios é cuidadosamente regulamentada. “Para que haja casamento, é preciso um contrato, pois por ele se provará a legitimidade dos filhos quando da herança” (CONTENEAU, 1979, p. 359). A escolha do marido não competia à jovem, mas a seu pai ou, ainda, a seu irmão mais velho, em caso de ausência do pai[24]. O casamento era precedido por um dote (sheriktum no Código Hammurabi) oferecido pelos pais da mulher ao noivo, símbolo do antigo preço de compra[25]. O homem, por sua vez, entregava à família da esposa um contradom (terhatum, em babilônico) de um montante inferior ao do dote e era entregue antes deste. O terhatum era a soma que prefigurava uma indenização compensatória pela mão de obra feminina (RAMOS, Op. cit., p. 49, nota 11). Se rompesse o contrato de matrimônio, era punido com a perda de todo o direito a que lhe fosse devolvido o terhatum. Se pelo contrário, era o pai da noiva quem não cumpria o contrato, era obrigado a devolver o dobro do terhatum que recebera[26]. O fundamental, contudo, é que, em teoria, o dote é propriedade da mulher, e se destina a ser transmitido posteriormente a seus filhos. Não constitui, portanto, um verdadeiro fundo do casal[27]. “Consequentemente, o dote jamais é transferido ao grupo do marido, nem ao próprio marido, mesmo se, durante o casamento, ele tivesse a gestão dos bens que o compunham” (REDE, 2006b, p. 158). A seu modo, portanto, a mulher exerceria um papel fundamental na transmissão do patrimônio. “Desde que ela gerasse um herdeiro, os bens originários do dote ser-lhe-iam transmitidos, impedindo o retorno aos seus pais ou o deslocamento lateral para os seus irmãos” (Ibidem, p. 157). Não se tratava, portanto, de consolidar a visão agnática ou patrilinear da transmissão dos bens no interior da família. Marcelo Rede enfatiza que o direito de primogenitura permitia “ao filho mais velho amealhar a maior parte do patrimônio paternal e continuar a gerenciar a economia doméstica”, sobretudo se levarmos em conta que do dote se excluía a posse da terra. Mas a transmissão seletiva dos bens às mulheres seriam, acima de tudo, “parte de perpetuação do grupo doméstico que, assim, procuraria fazer frente à dispersão originada nas práticas de sucessão fundadas na parentela” (p. 162). Os grupos domésticos procuravam assegurar a unidade indissolúvel entre a família e o patrimônio. A supremacia inconteste do patriarcado nas sociedades da Baixa Mesopotâmia não significava necessariamente a adoção exclusiva de formas patrilineares de transmissão dos bens. Seria muito mais adequado, aqui, considerar os direitos sucessórios sob o prisma de um sistema de parentela bilateral em que a patrilinearidade coabitava com a matrilinearidade e outras formas.
Marcelo Rede insiste que haveria uma precedência tanto lógica quanto cronológica do sistema bilateral em relação às tentativas régias de sistematização jurídica desta matéria. Como havíamos dito antes, não é possível inferir do documento jurídico de Ur-Nammu determinações similares às de Hammurabi. No entanto, de acordo com Rede, pode-se inferir essa precedência da própria noção de que o direito constitui um campo de resolução de conflitos, e particularmente no caso mesopotâmico as leis tendiam a confirmar o que a jurisprudência impunha. De outra parte, a precedência cronológica seria atestada pela presença inconteste da estrutura de parentesco bilateral e do sistema de devolução divergente, que envolvia de forma distinta a herança e o dote, na Baixa Mesopotâmia antes mesmo da chegada dos babilônios. Essa estrutura permaneceria mesmo após a conquista, pois ambos remetiam à organização de parentesco dos agrupamentos humanos nos inícios do II milênio a.C.
7 Conclusão
Munidos dessas reflexões, podemos traçar uma hipótese explicativa para o problema anteriormente formulado, qual seja, o da ingerência maior por parte do corpus de sentenças de Hammurabi frente ao de Ur-Nammu no tocante à condição jurídica da mulher em sua relação com o problema da unidade doméstica e da transmissão de bens. A evolução das relações familiares e sociais passou por certas transformações aceleradas durante a passagem do mundo neossumério para o paleobabilônico, principalmente devido à chegada de novos povos amorreus[28]. As leis de Hammurabi, nesse sentido, refletiriam o choque de um meio social sem precedentes. De acordo com Mario Liverani (Op. cit., p. 281), tal quadro poderia ser explicado pela presença de outros costumes e outras relações sociais, bastante arraigadas no princípio gentílico, menos afeitas à estrutura palaciano-templária, característica do ambiente original da Baixa Mesopotâmia. Este fator tendeu a multiplicar fenômenos ligados a uma evolução interna do sistema socioeconômico que resultaram da interação entre os setores familiar e palaciano, os quais subsistiriam estreitamente ligados e com frequentes trocas mesmo após a ascensão do Império Paleobabilônico. Antes disso, nos tempos sumério-acádios, “as disputas podiam ser resolvidas mediante o recurso a sum sistema de valores coletivamente aceito, no qual os laços de família preponderavam e a reparação justa era mais desejável que a vingança” (KRIWACZEK, op. cit., p. 229s) A esfera familiar ampliou-se, em comparação com o período neossumério, em parte por razões de natureza extraeconômica, “ligada à chegada dos amorreus, ao deslocamento do centro de gravidade mesopotâmico para o norte e à intensificação da entrega de lotes a novas categorias de dependentes públicos, sobretudo militares” (LIVERANI, op. cit., p. 282)[29]. Os parâmetros anteriores de organização doméstica foram confrontados pelo uso maciço de tropas de origem não palaciana, e também tribal, e que não foram recompensadas com os mecanismos tradicionais de remuneração da corveia. Como se não bastasse, as repetidas conquistas de cidades por parte de Estados hegemônicos levaram à expropriação de terras dos templos e à sua distribuição entre novas classes de combatentes. A antiga família ampliada e indivisa entrou em crise, e foi “substituída por uma família nuclear cada vez mais autônoma, que sempre foi a célula básica na condução das terras” e que então se tornou também a das relações de propriedade (Op. cit., p. 283s). Obviamente, a conjunção de um quatro tão complexo levou a um aumento vertiginoso dos conflitos. Assim, os preceitos judiciais de Hammurabi refletiam e procuravam limitar o potencial de discórdia e violência, e suas diferenças com os compêndios legais anteriores atestam que as regras do jogo haviam mudado (KRIAWCZEK, op. cit., p. 230). Quando o palácio precisou normatizar as práticas de transmissão de bens, diante da ameaça crescente de turbulências sociais, as referências partiam precisamente da jurisprudência em torno do modelo familiar preexistente. A assimetria jurídica de que desfrutavam ambos os cônjuges no que se refere, por exemplo, ao divórcio remontaria à jurisprudência familiar suméria, regida por leis e costumes muito firmes. Assim, a solidariedade doméstica em crise se afirmava, em meio a conflitos que tendiam a deteriorá-la, através do estreitamento de laços entre a família e a propriedade.
8 Referências
ANDRÉ-SALVINI, Béatrice. Babilónia. Mem Martins: Europa-América, 2003.
AMIET, Pierre. A antiguidade oriental. Mem Martins: Europa-América, 2004.
COHN, Norman. Cosmos, caos e o mundo que virá: as origens das crenças no apocalipse. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
BOTTÉRO, Jean. No começo eram os deuses. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
BOUZON, Emanuel. O código de Hammurabi. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2003.
_______. Ensaios babilônicos: sociedade, economia e cultura na Babilônia pré-cristã. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998.
CARAMELO, Francisco. A religião mesopotâmica: entre o relativo e o absoluto. Revista da Faculdade de ciências Sociais e Humanas, Lisboa: Colibri, v. 19, p. 165-175, 2007.
CONTENEAU, Georges. A civilização de Assur e Babilônia. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1979.
FIORENZA, Elizabeth Schüssler. As origens cristãs a partir da mulher. São Paulo: Paulinas, 1992.
GARELLI, Paul. O Oriente Próximo asiático: das origens às invasões dos povos do mar. São Paulo: Pioneira/Edusp, 1982.
GLASNER, Jean-Jacques. “A Mesopotâmia até às invasões aramaicas do fim do II milénio”. In: LÉVÊQUE, Pierre (Dir.). As primeiras civilizações: da idade da pedra aos povos semitas. Lisboa: 70, 2019. p. 205-321.
HAMDANI, Amar. Suméria, a primeira grande civilização. Rio de Janeiro: Otto Pierre, 1978.
JOSÉ, Célia do Carmo. “A mulher e o casamento nas leis de Eshnunna e no código de Hamurábi”. Cadmo, Lisboa: Centro de História, v. 17, p. 9-26, 2007.
KRAMER, Samuel Noah. A história começa na Suméria. Mem Martins: Europa-América, 1997.
KRIWACZEK, Paul. Babilônia: a Mesopotâmia e o nascimento da civilização. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
LEICK, Gwendolyn. Mesopotâmia: a invenção da cidade. Rio de Janeiro: Imago, 2003. p. 384p.
LION, Brigitte; MICHEL, Cécile. As mulheres em sua família: Mesopotâmia (2º milênio a.C.). Tempo. Niterói: EdUFF, v. 19, p. 149-73, 2005.
LIVERANI, Mario. Antigo oriente: história, sociedade e economia. São Paulo: Edusp, 2016.
MELO, Gabriel. O caráter humanitário da legislação mesopotâmica: análise do direito penal da Terceira Dinastia de Ur. Passagens – Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, Rio de Janeiro, v. 1, p. 79-90, 2019.
POZZER, Katia Maria Paim. Decretos reais babilônicos e fronteiras político-linguísticas. In: NOBRE, Chimene Kuhn; CERQUEIRA, Fabio Vergara; POZZER, Katia Maria Paim. Fronteiras e etnicidade no mundo antigo. Anais do V Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Pelotas: UFPEL, 2005. p. 243-50.
REDE, Marcelo. Aspectos simbólicos da cultura jurídica na antiga Mesopotâmia. Locus, Juiz de Fora, v. 2, p. 167-73, 2006a.
_______. Práticas econômicas e normas jurídicas na antiga Mesopotâmia: parentesco e sucessão patrimonial. Phoînix, Rio de Janeiro: UFRJ, v. 12, p. 149-78, 2006b.
_______. ‘Decreto do rei’: por uma nova interpretação da ingerência do palácio na economia babilônica antiga. Revista de História, São Paulo: USP, v, 155, p. 283-326, 2006c.
_______. Família e patrimônio na antiga Mesopotâmia. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.
_______. O ‘rei da justiça’: soberania e ordenamento na antiga Mesopotâmia. Phoînix, Rio de Janeiro: UFRJ, v. 15, n. 1, p. 135-46, 2009.
_______. Chefia tribal e realeza urbana na antiga Mesopotâmia: notas para uma abordagem. Phoînis, Rio de Janeiro: UFRJ, v. 23, n. 2, p. 12-26, 2017.
SANTOS, Antônio Ramos dos. A mulher na Mesopotâmia. In: SANTOS, Maria Clara Curado (Org.). A mulher na história: actas dos colóquios sobre a temática da mulher (1999-2000). Moita: Câmara Municipal de Moita/Departamento de Acção Sócio-Cultural, 2001. p. 45-52.
TYLDESLEY, Joyce. Pirâmides: a verdadeira história por trás dos mais antigos monumentos do Egito. São Paulo: Globo, 2005.
VIANA, Gabriel Melo. O caráter humanitário da legislação mesopotâmica: análise do direito penal da Terceira Dinastina de Ur. Passagens – Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, Rio de Janeiro, v, 1, p. 79-90, 2019.
Notas de Rodapé
[1] Mestra em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Direito de Lisboa e Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
[2] Doutor em História pela Universidade do Vale dos Sinos (São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil) e Professor Adjunto I da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, Rio Grande do Sul, Brasil.
[3] No que tange a precauções metodológicas para se evitar o enquadramento da cosmovisão religiosa mesopotâmica como se constituísse uma realidade uniforme e inalterável ao longo de aproximadamente três milênios de história, remetemos ao oportuno estudo de Caramelo (2007, p. 165-75): “A religião mesopotâmica é certamente uma designação demasiado genérica para traduzir o carácter heterogéneo das suas práticas, das crenças e das concepções teológicas que a definem. Não devemos desprezar a amplitude geográfica e cronológica que suporta a realidade cultural mesopotâmica. Malgrado as convergências e similitudes que podemos observar, as generalizações devem ser evitadas. Na verdade, a religião suméria tem características distintas da religião dos semitas; a evolução da religião mesopotâmica na diacronia deve ser considerada; a sensibilidade religiosa dos assírios é diferente da dos babilônios. (…) A religião mesopotâmica não tem cânone e não apresenta uma teologia sustentada por dogmas. Trata-se, pelo contrário, de uma teologia difusa, que se manifesta em expressões locais e que se traduz num sincretismo religioso que a torna uma religião inclusiva e não exclusiva” (p. 165). Consideramos, contudo, que a sistematização de convergências e similitudes favorece a compreensão da especificidade da cosmovisão mesopotâmica nas suas relações com outras cosmovisões do antigo Oriente Próximo, o que não nos exime propriamente de identificar os matizes singulares de suas múltiplas expressões quando assim for oportuno.
[4][4] Para o que vem a seguir, cf. COHN, op. cit., p. 15s e 60-5.
[5] “(…) ao contrário do que ocorria no Egito, a concepção de um soberano divino foi mais uma exceção do que a regra nos mais de três milênios de história mesopotâmica. Até onde os dados disponíveis permitem ver, a ideia de que o rei fosse um deus foi uma inovação ocorrida no reinado de Naran-Sîn (2254-2218), da dinastia de Akkad, mas foi retomada, apenas raramente depois; por vezes, como no caso de Shulgi (2094-2047), segundo soberano da III dinastia de Ur, trata-se, provavelmente de uma resposta às debilidades do poder régio em uma época de crise, mobilizando, em benefício do rei, a imagem mítica e prestigiosa do herói Gilgamesh (…); outras vezes, são tentativas pouco consistentes, que se limitaram, por exemplo, ao acréscimo do determinativo divino ao nome do soberano, como no caso de Rîm-Sîn (1822-1763), de Larsa, a partir de meados de seu longo reinado de 60 anos, o que revela que, com a conquista do poderoso rival de Isin, o rei pode ter experimentado um esgotamento do processo de expansão (…), sendo a divinização uma tentativa de reafirmação no nível discursivo. Em todo caso, embora a divinização da pessoa do soberano não tenha sido um traço permanente e marcante da concepção régia mesopotâmica, a articulação entre o poder monárquico e a religião foi profundo: o rei é o escolhido dos deuses e seu representante maior perante os mortais (…). A divinização da realeza foi (…) mais enfática no terceiro e no segundo milênio” (REDE, 2009, p. 135s). Cf. também os enquadramentos históricos dos processos de divinização régia para os casos de Naran-Sîn e Shulgi em KRIWACZEK, 2018, p. 154-9 e 194.
[6] “Foi o deus An quem enviou a realeza e a sua insígnia à terra logo após a criação da humanidade, e pelo melhor dos motivos: os seres humanos revelaram-se tão estúpidos que necessitavam de governantes para que pudessem servir aos deuses de maneira apropriada” (Ibidem, p. 59).
[7] “No contexto mesopotâmico, no universo jurídico como na vida social em geral, há uma solução de continuidade entre o sagrado e o profano que garante a convivência entre segmentos que, hoje, tendemos a ver como distintos e mesmo incompatíveis. Portanto, se almejamos uma abordagem propriamente histórica destes fenômenos, é preciso buscar entender sua função simbólica no interior do aparato jurídico a partir de uma articulação que é própria à mentalidade mesopotâmica” (Ibidem, p. 168). E ainda na nota 3 da mesma página, Rede oportunamente adverte: “Assim, do ponto de vista teórico-metodológico, a separação entre religião e direito induz fatalmente a procurar ‘influências’ tópicas da primeira sobre o segundo, como se fossem esferas autônomas da sociedade, e, eventualmente, considerá-las pouco significativas (…)”.
[8] O dever principal do faraó é a manutenção de Maat. “Maat é um conceito egípcio sem tradução direta, mas pode ser explicado em sentido amplo como ‘retidão’, o status quo, ou mesmo justiça. É o proposto direto de caos (isfet), o qual os egípcios tanto temem. (…) A destruição dos inimigos e a luta contra animais selvagens”, por exemplo, “simbolizam a imposição do maat egípcio sobre o caos estrangeiro” (TILDESLEY, 2005, p. 66).
[9] “Na Mesopotâmia, tal como no Egito, o curso do sol era visto como um exemplo perfeito de retidão, correção. E em ambas as regiões se considerava que o sol, ao seguir por seu caminho estava na posição mais adequada para observar onde se respeitava a correção e a justiça, e onde estas eram transgredidas: ele era ‘aquele para quem não existem segredos’. E havia preces que associavam a exultação pelo nascer do sol à louvação de Shamash por ele haver ministrado a justiça social. Em geral, Shamash era representado empunhando um bastão e um anel, que indicavam respectivamente a retidão e a completude e simbolizavam a ordem a que estavam submetidos os deuses supremos e todo-poderosos” (COHN, op. cit., p. 56).
[10] A própria noção de excepcionalidade das formas centralizadas de Estados na Mesopotâmia em relação ao Egito faraônico não nos deve induzir a adotar, para o primeiro caso, uma simples inversão que apontaria a prevalência de “períodos intermediários” de desagregação sobre os “pilares palacianos endógenos” da realeza urbana. O problema reside no fato de que uma esquematização dessa natureza não deixaria de reproduzir um modelo antinômico de alternância, inadequado para captar a complexidade das experiências mesopotâmicas, entre “poderes monárquicos sediados em cidades, e as tribos nômades, vistas como erupções transitórias e violentas no continuum da vida de sociedades urbanas, sedentárias, centradas em palácios”. Nesse sentido, a partir de uma interpretação do caso do Reino de Mari, Rede (2017) propõe um modelo analítico para o estudo da transição entre a sociedade-templo suméria do III milênio e as cidades-reinos, que se impuseram posteriormente, baseado na noção de palácio beduíno. Tal conceito traria à luz um processo dinâmico e mutuamente interativo de “palacização da liderança tribal” e de “tribalização da monarquia”.
[11] As exortações de Urukagina, rei de Lagash em c. 2350 a.C., foram publicadas em 1907 por F. Thureau-Dagin, quando então se tornou patente que as prescrições legais da estela de Hammurabi não eram as mais antigas leis da humanidade. Suas inscrições foram logo classificadas como textos de uma reforma social, e não coleções legais. Contudo, a tendência hodierna as considera antes “como obras de caráter propagandístico com a finalidade clara de justificar os direitos ao trono de um usurpador” (BOUZON, 1998, p. 92s).
[12] Para um detalhamento da introdução das várias medidas-padrão em suas implicações pela administração do estado, ver Leick (2003, p. 146s.).
[13] Nesse sentido, Marcelo Rede sintetiza o estado da arte das principais posições no debate historiográfico acerca da estrutura da sociedade suméria (2007, p. 26s). Para o que aqui se discute, convém destacar que “a hipótese segundo a qual o templo-Estado – uma instituição central complexa, de natureza simultaneamente religiosa, política e econômica – exercia controle absoluto dos recursos produtivos naturais (em particular, a terra, mas também os recursos hídricos), da mão-de-obra (agrícola ou não), das atividades agrárias, artesanais e mercantis (locais, mas sobretudo o comércio de longa distância). Os templos exerceriam, igualmente, uma grande influência política e religiosa sobre o conjunto da sociedade. Com algumas adaptações, a mesma ideia geral, agora sob o nome de Cidade-Templo, foi retomada por A. Falkenstein (…). Por vezes, estes mesmos postulados de uma economia altamente centralizada foram aplicados para as explicações referentes à situação dos últimos séculos do III milênio, ou seja, para a terceira dinastia de Ur (Ur-III) e, em menor grau, para o período sargônico, que a precedeu. A diferença residia no fato de que, nestes casos, os templos sumérios haviam cedido lugar a uma estrutura palaciana fortemente centralizada. Mas, também aqui, o argumento fundamental foi o considerável controle das terras pelo Estado, impondo um papel apenas residual, ou mesmo inexistente, a outras formas de acesso fundiário”. (p. 26) Por conseguinte, “os estudos acerca da economia babilônica, nos inícios do II milênio foram, de certo modo, influenciados por esta reação às teorias de natureza ‘estatizantes’. Em outros termos, a historiografia econômica do período babilônico antigo nasceu sob o signo do predomínio da economia privada. Se W. F. Leemans não foi o primeiro a valorizar esta perspectiva privatista, foi, certamente, um de seus representantes mais enfáticos. (…) Em particular, o controle das terras pelos mercadores aparecia (…) como um elemento essencial da ascensão de uma camada de agentes comerciais privados nos inícios do II milênio, quando o sistema econômico centralizado que vigorava durante a terceira dinastia de Ur foi substituído por uma nova configuração, na qual o papel econômico dos palácios, nos novos reinos semitas que se formam então, é enfraquecido em benefício do empreendimento individual (…) [e não familiar e doméstico]” (p. 27). Ora, “sem que seja necessário falar de uma economia privada triunfante ou subestimar a importância da economia templária ou palaciana, o panorama que emerge no estado atual das pesquisas é muito mais nuançado e complexo, reconhecendo a função articuladora dos templos e palácios na vida material, mas também enfatizando a importância dos empreendimentos econômicos à margens daquelas instituições” (Cf. REDE, 2006c, p. 287).
[14] A denominação frequente, como se pode averiguar nos incompletos textos sumérios, que qualifica a época de Ur como a do “renascimento sumério” ou, mais simplesmente de “neo-suméria”, não deve encobrir a composição multiétnica de sua população. A própria série de inscrições reais em língua acádia, e até mesmo o registro de alguns nomes reais, provam o uso simultâneo e o caráter oficial de ambas as línguas. A verdade é que os acadianos também participaram do bom andamento do Estado, partilhando cargos e funções mais elevadas. Grupos de amorreus, por sua vez, já se encontram perfeitamente integrados no conjunto da população, e, em sua maioria, foram empregados nos serviços públicos.
[15] Sabemos, contudo, que a escravidão por dívidas já foi objeto de restrições desde pelo menos as reformas de Urukagina (REDE, 2006c, p. 324): “Aos cidadãos de Lagash: ao que estava endividado (…) a sua liberdade ele [Urukagina] dispôs” (p. 20-1 e 29).
[16] O mesmo anseio é exaltado por Urukagina: “Quando o órfão e a viúva ao poderoso não sejam entregues” (p. 30-2). Entendemos que essas exortações mais remotas, tanto as de Urukagina quanto as de Ur-Nammu, no mínimo modalizam a esquematização sugerida por Mario Liverani de que o centro da atenção do rei neossumério se voltava para a administração pública e, portanto, para “os dependentes dos palácios e dos templos, enquanto no centro da atenção do rei paleobabilônico está a população comum, os ‘livres’, e em particular os que mais precisavam de apoio” (Op. cit., p. 286s).
[17] Termo sumério que se traduz frequentemente como “homem jovem, adulto”. “Os gurus são também, no entanto, uma ampla categoria de pessoas que durante o período da III Dinastia de Ur mantinham relações de dependência com a administração imperial e que realizavam trabalhos de muito diversa índole em troca de retribuições em espécie (cevada, lã, etc.)”. (Nota 8, C. U.).
[18] No § 6, isto é, precisamente na prescrição anterior, o Código de Ur-Nammu estipula a sentença de morte para o homem que violentou a mulher de um gurus que ainda não foi “deflorada”. Contudo, ficamos sem saber se a vítima não seria de alguma maneira incriminada. A prescrição de Hammurabi, § 130, quando versa sobre a mesma matéria, é, contudo, categórica: a mulher (aššatum) violentada é livre de culpa e, portanto, deverá ser libertada. É importante que precisar que aššatum é a condição correlata para a mulher para a qual o contrato de casamento já havia sido redigido. “Essa esposa era, pois, virgem e habitava, ainda, a casa paterna”. E para “que a pena possa ser aplicada é necessário que o awîlum violentou a jovem seja apanhado em flagrante delito” (BOUZON, 2003, p. 140s).
[19] Bastante esclarecedora da natureza simbólica que subjaz à severidade dos castigos é a reflexão de Jean Bottéro (2011, p. 161ss). De acordo com ela, constituiria um anacronismo moderno analisar as sentenças jurídicas do mundo mesopotâmico por uma equivalência entre a escala de gravidade do crime e sua punição. As obrigações e os interditos que esquadrinhavam a existência humana diziam respeito a essa Legislação superior que interpunha o que entenderíamos como as ordens distintas “civil” e “dos deuses”. Tivemos a oportunidade de assinalar que essa distinção inexistia para as cosmovisões mesopotâmicas. Para Bottéro, atentar, portanto, contra os deveres infinitos que emanavam dessa Autoridade suprema era incorrer no mal e no infortúnio que muitas vezes sobrevinham de forma súbita, incompreensíveis, e que só “tal mitologia da Justiça divina se encarregava de explicar. Ora, nesse plano, não havia hierarquia das faltas, dos delitos e dos crimes: tudo se valia, e temos textos religiosos que põem explicitamente em pé de igualdade, em relação aos deuses e à sua Justiça vindicativa, o fato de ter urinado ou vomitado em um curso d’água ou arrancado uma gleba de um campo e o fato de ter-se comportado mal durante uma cerimônia litúrgica, o de ter tagarelado inconvenientemente ou ter cometido alguma incongruência; e não apenas a fraude e o uso da moeda falsa, mas o roubo, o adultério e o homicídio, e até mesmo ‘o assassinato de um amigo a quem se acabava de jurar amizade’! O fato é que todas essas infrações, estimadas em relação aos deuses, constituíam igualmente um ‘pecado’, uma ‘revolta’ contra eles, um ‘desprezo’ de sua vontade” (p. 162s). À luz do exposto, e ainda por razões que aportaremos mais adiante, tornam-se adequadamente compreensíveis constatações como as de que “os códigos não primam pela coerência na exposição de conteúdos” (JOSÉ, op. cit., p. 24), ou, como bem atesta Gabriel Melo Viana, de uma inexistente distinção entre crime e ilícito civil nos arcabouços jurídicos do antigo Oriente Próximo (2019, p. 82).
[20] Hamdani (p. 189s.), relembra a apreciação de S. N. Kramer de que, frente à lei de ferro ‘olho por olho dente por dente’, as três das cinco leis que podem ser lidas com bastante exatidão no Código de Ur-Nammu “são de uma importância muito particular para a história do desenvolvimento social e espiritual do homem”. Elas deram lugar a “uma jurisprudência mais humana em que as multas substituíam os castigos corporais”. Hamdani destaca que a leitura dessas leis denuncia “o seu profundo parentesco com as que regem nossas sociedades modernas: trata-se de uma espécie de ‘tarifagem’ dos delitos por meio de pensas ou multas, que compensariam o ‘valor’ do prejuízo sofrido (…)”. Crítico a essa abordagem de que o princípio da lex taliones, aparentemente mais cruel, expunha “um barbarismo selvagem, residual e irredutível, que seria instrínseco aos semitas, em contraste com a nobre mentalidade suméria”, Paul Kriwaczek sustenta que as leis de Hammurabi refletiam “o choque de um meio social sem precedentes: o mundo multiétnico e multitribal da Babilônia” (Op. cit., p. 229s). Emanuel Bouzon, por sua vez, sugere que a aplicação do princípio de talião na vida jurídica da Mesopotâmia estaria “ligada, provavelmente, ao grupo social dos amoritas marcados por sua vivência anterior não sedentária e que influenciaram muito na formação da dinastia de Hammurabi” (1998, p. 104). Neste mesmo ensaio, na direção oposta de posicionamentos como os de S. N. Kramer e Amar Hamdani, faz-se menção a abordagens que julgam “representar o sistema de compensação pecunária um estágio mais primitivo do que o da aplicação do princípio de talião, visto que este protege melhor a vida e a integridade da pessoa humana, atribuindo-lhe, assim, um valor ético superior”. Ora, essa posição considera também que, “em uma sociedade em que o direito de vingança era comumente aceito, a aplicação de um tal princípio (…) protegia a vida do agressor contra uma vingança exagerada por parte dos familiares da vítima” (p. 104). Pierre Amiet propõe uma análise ainda mais peculiar para a questão no período de transição entre o fim império neossumério e a emergência da primeira dinastia paleobabilônica. A promulgação de leis em sumério por certos reis amoritas, especialmente Lipti-Ishtar (1934-1924 a.C.), revelariam “a preocupação com a justiça, mas não o verdadeiro sentido da culpabilidade moral”. Assim, as penas previstas como indenizações pecuniárias corresponderiam “à ausência de sentido moral das divindades sumérias, simples personificações de entidades cósmicas”. Precisamente nesta época teria surgido a noção de culpabilidade e de responsabilidade, “suscitada (talvez) entre os grupos amoritas ainda nómadas por um sentido mais profundo da gravidade das faltas relativas à sua solidariedade, independente de um dado território” (2004, p. 84). Como constata Emanuel Bouzon, “uma resposta ao problema da origem, do valor e do significado do princípio de talião no direito do Oriente Próximo antigo continua sem uma resposta satisfatória e definitiva” (1998, p. 104s).
[21] Para o caso de uma escrava dada pela esposa principal ao awîlum que venha a lhe gerar filhos e por ele seja tomada por esposa, torna-se patente a proibição de se manter o novo matrimônio (§ 144).
[22] Todavia, numa variação das situações anteriores, “se um awîlum foi levado (prisioneiro) e em sua casa há o que comer, sua [esposa] to[mará posse de sua casa (?), cuidará de] si [e [não entrar]rá] [na casa de um outro homem]”, e “se essa mulher não cuidou de si e entrou na casa de um outro, comprovarão (isto) contra essa mulher e a lançarão n’água” (§ 133).
[23] Mesmo se a mulher, por exemplo, que toma aversão pelo marido e o repudia “não se guarda, mas é uma saidora, dilapida sua casa e despreza seu marido” deverá ser executada por afogamento (§ 143).
[24] “Se um pai não deu um dote à sua filha šugītum (e) não a entregou a um marido, depois que o pai morrer, seus irmãos lhe darão um dote conforme a capacidade da casa paterna e a entregarão ao marido” (§ 183).
[25] “Os bens dados como dote às jovens incluem seu aparato pessoal (vestes, coberturas de cabeça, jóias), bens móveis, úteis no quadro das atividades domésticas (vasilhas, utensílios de cozinha, mobiliário), ao que se somam, quando a família tem uma situação confortável, gado e pessoal doméstico. A ausência de casas, campos ou pomares é normal nos dotes paleobabilônicos (…), pois a propriedade dos bens fundiários é, de preferência, reservada aos filhos, que os herdam quando da morte de seu pai” (LION; MICHEL, op. cit., p. 17).
[26] RAMOS, op. cit., p. 49 detalha as possíveis origens, a natureza e a evolução do terhatum ao longo do período paleobabilônico.
[27] De fato, o § 163 do Código de Hammurabi assegura: “Se um awîlum tomou uma mulher como esposa e ela não lhe obteve filhos, e (depois) essa mulher morreu, se seu sogro lhe devolveu a terḫatum, que esse awîlum enviara para a casa de seu sogro, seu marido não poderá reclamar o dote dessa mulher. Seu dote é da casa de seu pai”. A respeito disso, concluiu Rede: “(…) no que diz respeito à transmissão, ele [o dote] permanece, mesmo após o casamento, ao grupo familiar da mulher e aos laços de parentesco praticados em seu interior” (Ibidem, p. 158).
[28] Para Pierre Amiet, “os três primeiros séculos do II milénio foram para o antigo país da Suméria e da Acádia, que se tornara a Babilónia, um período de grande civilização, marcado pela nostalgia da unidade perdida, e depois pela restauração de um vasto Estado territorial no tempo de Hamurabi (1792-1750)”. Ao mesmo tempo em que os sumérios desapareceram enquanto entidade étnica mais claramente distinta, assistiu-se, paradoxalmente, “ao apogeu da produção literária suméria, no seio de escolas, com suas bibliotecas, que eram instituições privadas, independentes dos templos e dos palácios. Eram impulsionadas pela elite dos escribas, em Nipur, centro intelectual da Suméria, e em Ur, para aonde tinham emigrado os de Eridu. Elaboraram, mas sem capacidade de autêntica criação, as velhas recolhas de sabedora, como as Instruções de Shurruppak, e tentaram agradar aos novos senhores amoritas exaltando-os à maneira dos grandes reis divinizados de Ur” (p. 83). O fundamental para o que aqui se expõe reside no aspecto da aculturação em larga medida de amoritas, que, vistos como efetivamente responsáveis pelo colapso ulterior do império neossumérios, adotaram a língua e os quadros do Estado territorial elaborados a partir da cidade-estado pelos reis de Akkad, e depois aperfeiçoados pelos de Ur. Portanto, iniciando, no princípio do II milênio, um movimento inverso de sedentarização, os nômades do Oeste, e espalhados ao longo das orlas desérticas do Crescente Fértil, inseriram-se também no tecido político e social dos povos sedentários (p. 79).
[29] A propósito, veja-se também o oportuno ensaio de Pozzer, (2005, especialmente p. 243s).