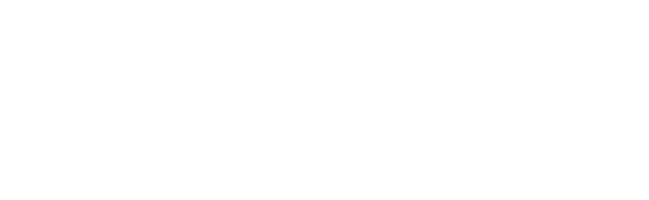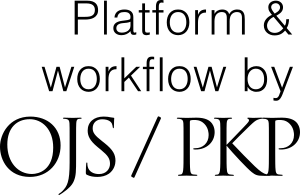Os Limites da Atividade Legislativa do Poder Executivo em Matéria de Direito Privado
DOI: : 10.19135/revista.consinter.00010.14
Recebido/Received 30.04.2019 – Aprovado/Approved 20.11.2019
Flávio Couto Bernardes[1] – https://orcid.org/0000-0001-8180-0218
E-mail: flavio.bernardes@bernardesadvogados.adv.br
Pedro Augusto Costa Gontijo[2] – https://orcid.org/0000-0002-6977-3947
E-mail: pedro-acg@hotmail.com
Resumo: A atividade legislativa do Poder Executivo tem ganhado cada vez mais destaque nos sistemas jurídicos ocidentais. Sua contraposição aos princípios do Estado de Direito e da legalidade são a chave básica para avaliar o alcance de dada competência normativa. Para a presente análise, avaliar-se-á os desafios da crise do princípio da legalidade nos dias de hoje e, logo após, como se estrutura a atividade normativa do Poder Executivo no ordenamento jurídico brasileiro. Ao final, serão propostos os limites da atividade regulamentar em matéria de atos de intervenção de controle sobre o âmbito das relações desenvolvidas por particulares dentro do arcabouço de Direito Privado. Para tanto, lançou-se mão de método indutivo-hipotético, com viés explicativo-qualitativo.
Palavras-chave: Atividade legislativa do Poder Executivo. Regulamentação. Atos de intervenção de controle. Direito Privado.
Abstract: Legislative activity of the Executive Branch has gained increasing prominence in Western legal systems. Its contrast with the principles of the rule of law and legality are the basic key to assess the scope of given normative competence. For the present analysis, we will evaluate the challenges of the crisis of the principle of legality nowadays and, soon after, how to structure the normative activity of the Executive Branch in the Brazilian legal system. In the end, the limits of the regulatory activity regarding acts of control intervention will be proposed on the scope of the relations developed by private individuals within the framework of Private Law. For that, an inductive-hypothetical method was used, with explanatory-qualitative bias.
Keywords: Legislative activity of the Executive Branch. Regulation. Acts of control intervention. Private right.
Sumário: 1. Introdução 2. O princípio da legalidade e seu significado no sistema jurídico brasileiro 3. A atividade legislativa do Poder Executivo no Direito brasileiro 3.1.A atividade densificadora do Chefe do Poder Executivo 3.2.A atividade densificadora dos agentes de governo 4. A atividade regulamentar sobre matérias de Direito Privado 4.1. Os princípios da liberdade e da igualdade 4.2.O princípio da segurança jurídica 4.3.A proteção da confiança como limite imanente 5. O caso DREI e a efetivação da confiança em matéria empresarial 6.Conclusão. Referências.
Summary: 1. Introduction 2.The principle of legality and its meaning in the Brazilian legal system 3. The Legislative Activity of the Executive Power in Brazilian Law 3.1. The densifying activity of the Chief Executive 3.2. The densifying activity of government agents 4. Regulatory activity on matters of Private Law 4.1. The principles of liberty and equality 4.2. The principle of legal certainty 4.3. The protection of trust as an immanent limit 5. The DREI case and the establishment of trust in business 6. Conclusion. References.
1. Introdução
A realidade jurídica é uma realidade normativa. Essa afirmação pressupõe uma cadeia de ideias que necessariamente embasam a própria existência do Direito. A peculiaridade do jurídico advém da inferência sobre a existência dos sistemas sociais. O Direito, como realidade normativa não paira no tempo e no espaço de forma involuntária e dissociada. Há a presunção da ação humana como o viés a priori para a existência do normativo em suas mais variadas manifestações – moral, religiosa, social e jurídica – , fato que demonstra a indissociabilidade entre o conteúdo das normas jurídicas e uma realidade dada, um sistema social. Essa constatação, de que a realidade normativa do fenômeno jurídico remete-se a algo adverso de si, moldando-o de maneira contingente, leva à clássica distinção entre o ser e o dever ser, cujos marcos evolutivos perpassam por David Hume, Immanuel Kant e Hans Kelsen, especialmente.
Para os efeitos do presente trabalho considera-se uma teoria do sistema normativo de natureza ontológica[3], que se assenta nos critérios de avaliação do Direito positivo. Isso quer dizer que o conceito de sistema se dá a partir da identificação do Direito positivo, Direito posto pelos órgãos estatais competentes para tanto, e que, no nível de sua diferenciação sistêmica, acabam por revelar uma estrutura hierárquica, a ser analisada nos vieses estático e dinâmico[4].
É na perspectiva de uma teoria do Direito positivo que se passa a refletir sobre a competência legislativa própria ao Poder Executivo, especificamente o caso brasileiro. Essa competência, que revela uma função especial no ordenamento jurídico, atravessa a ideia de que a atividade legislativa no âmbito do Parlamento se dá de maneira insuficiente – talvez em um nível de generalidade e de abstração tão alto que não garantiria a precisão e segurança necessárias para a interpretação e consequente aplicação do Direito aos casos concretos –, fato que torna necessária uma atividade complementar por parte daquele órgão estatal competente para executar o próprio sistema jurídico, para dar concretude e vida ativa ao dever ser.
A atividade legislativa da função executiva estatal é causa de inúmeros trabalhos científicos, que originou uma caudalosa e densa rede de teorias em torno do fenômeno. Contudo, a maior parte dos teóricos migram esse estudo sob uma linha de argumentação publicista, sem levar em consideração que a atividade regulamentar também se dá, em variados casos, na normatização de relações jurídicas estabelecidas entre particulares. É sobre este último aspecto que o estudo em questão se debruça. Quais os limites dados pelo próprio sistema de Direito positivo sobre a atividade de densificação realizada pelo Poder Executivo em matéria de Direito Privado?
Para buscar essa resposta, partir-se-á para a observação da cadeia de princípios que envolve a atividade legislativa do Poder Executivo. Logo após, serão analisadas as competências no aspecto hierárquico da conformação institucional da função estatal executiva. Tomado esses pontos, segue-se para a avaliação da atividade regulamentar em matéria de Direito Privado, com a análise de caso concreto acerca da atividade normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Por fim, no âmbito dessa análise, propõe-se premissas metodológicas e teóricas para que a atividade legislativa em matéria de Direito Privado se dê conforme os princípios que integram a legística, como ciência da legislação.
2. O princípio da legalidade e seu significado no sistema jurídico brasileiro
O princípio da legalidade é um princípio em crise e, ao mesmo tempo, o último refúgio do pensamento jurídico no mundo contemporâneo se partirmos para a consideração de que vivemos em verdadeira sociedade de risco.
Sua crise diz respeito às bases de fundamentação de caráter liberal. A teorização sobre o princípio da legalidade teve como premissa a diminuição das contingências, mais especificamente no que se refere ao arbítrio do soberano. Teóricos como Locke, Rousseau e Kant e Montesquieu, cada qual a sua maneira, identificavam que o Poder soberano deveria se assentar na lógica da supremacia do Poder Legislativo, órgão estatal responsável por estabelecer normas a partir das ideias de colegialidade e representatividade. Da teoria, viu-se a absorção da legalidade pela ação social, especialmente com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa. Esta, que elevou tal princípio ao status central do constitucionalismo – contudo mantendo a centralidade na ideia de legalidade, em seu aspecto de concretização da igualdade formal e verdadeira fonte de emanação de uma artificial “vontade geral” –, tinha como objetivo não somente a limitação do Poder soberano, como também a eliminação de quaisquer resquícios do Antigo Regime, cujo sistema era marcado pelo despotismo[5]. Contudo, sua manifestação foi devidamente deturpada no sistema francês, especialmente com a criação da jurisdição administrativa – Conseil d’État[6] – que nada mais fez que deturpar o clássico sistema de freios e contrapesos teorizado por Montesquieu, a partir da visão do sistema constitucional inglês.
Para além da experiência francesa, a visão liberal se pulverizou por todo o Ocidente, alocando-se nas experiências constitucionais a partir da ideia de que a função legislativa ocupa o centro do sistema político, verdadeira emanação do poder vinculante das condutas humanas, sendo a função executiva responsável por concretizar a vontade legislativa e, de outro lado, a função jurisdicional incumbida de aplicar a lei. Nesse contexto, o constitucionalismo oitocentista e novecentista era marcado por um conjunto de princípios que, no final das contas, muito pouco dizia sobre uma delimitação efetiva do exercício do poder. Isso porquanto vigorava a ideia de que a igualdade e a liberdade seriam os postulados axiológicos de fundamentação da existência do próprio Estado, sob uma óptica burguesa, que, de maneira geral, estabeleceu parcos condicionamentos no que se refere à “disciplina legislativa das matérias sobre as quais um Estado mínimo sentia necessidade de regular, e sem qualquer controlo judicial da sua validade jurídica, desenvolveu-se um positivismo legalista que conduziu a uma quase divinização da lei” (OTERO, 2003, p. 153). Existia os princípios vinculantes, contudo, ao seu lado, também estava presente a famigerada abertura semântica.
Com o advento das evoluções constitucionalistas, especialmente os paradigmas de Estado Social e Estado Democrático de Direito, a limitação dada pela legalidade foi sendo cada vez mais mitigada por uma noção maior, qual seja a Constituição, ou a ideia de superlegalidade ou supremacia da Constituição[7]. Nesse contexto, pode-se observar que os textos constitucionais flexíveis passaram a ser substituídos por textos constitucionais rígidos; a neutralidade econômica e social do Estado Liberal foi sendo substituída por uma lógica de Constituições programáticas, “expressando uma atitude voluntarista do Estado social”; e a influência dos modelos americano e da Escola de Viena sobre o controle de constitucionalidade acabaram por submeter a própria legalidade a uma ideia maior (OTERO, 2003, p. 154-156), uma clarificação do Estado de Direito.
Se não bastasse todo esse influxo a partir da remodelação dos sistemas jurídicos no tempo, o princípio da legalidade também sofre uma crise no front de sua própria estruturação interna, a tomar uma análise linguística. O modelo positivista primevo, predominante no século XIX, acabou por não enxergar algumas questões essenciais do fenômeno normativa, especialmente que este nada mais é também um fenômeno linguístico. A norma é instrumento para a aplicação do Direito, é um diretivo vinculante, ou seja, estabelece um cenário quesível, que deve ser. Todavia, toda aplicação envolve a incidência da norma sobre um caso concreto. Nesse momento, pode surgir dúvidas quanto à aplicabilidade de uma norma, configura-se uma “dualidade entre um núcleo de certeza e uma penumbra de dúvida quando procuramos acomodar situações particulares ao âmbito de normas gerais” (HART, 2009, p. 158), que se traduz em margem de vagueza comumente conhecida como o aspecto da “textura aberta” da norma jurídica[8]. Contudo, por mais que se possa criticar a própria imprecisão do fenômeno normativo, o sistema social não logra êxito em alinhar suas predisposições sem ele. Como coloca Hart:
Na verdade, todos os sistemas conciliam, de modos diferentes, duas necessidades sociais: a necessidade de certas normas que os indivíduos particulares possam aplicar a si próprios, em grandes áreas do comportamento, sem nova orientação oficial e sem considerar questões sociais; e a de deixar em aberto, para serem posteriormente resolvidos por meio de uma escolha oficial e bem informada, problemas que só podem ser adequadamente avaliados e solucionados quando ocorrem em um caso concreto (2009, p. 169)
Se não podemos nos desprender do mundo da normatividade, como então avaliar o aperfeiçoamento do princípio da legalidade em nosso sistema? Entra nesse contexto o segundo fator de crise da legalidade, que é a constatação de que a sociedade em que vivemos é uma sociedade de risco.
Em seu contexto geral, o princípio da legalidade se mostra hoje, depois de inúmeras transformações advindas de excessos teóricos hermenêuticos e de sua captura pela burocracia estatal de maneira a propiciar o afloramento da imprecisão, como uma tábua de salvamento que pendula entre a vida e a morte do próprio Estado de Direito. Não há que se desconsiderar as agudas críticas realizadas por Paulo Otero sobre a assunção do princípio da legalidade a partir de uma óptica colocada em um contexto constitucional liberal. É certo que em sua configuração contemporânea, esse princípio está cada vez mais cingido por diversas “ambiguidades terminológicas intencionais”, “obscuridades propositadas” e “lacunas conscientes”, de maneira que no momento de sua aplicação “o procedimento decisório absorve e subverte a razão de ser da lei[9]” (2003, p. 161).
Em que pese esse cenário de grande porosidade e de efeito absorvente do arbítrio colocado pela atual configuração do princípio da legalidade, inúmeros administrativistas continuam ensinando este mesmo princípio como sendo algo dado com clareza e precisão, tornando-o substrato suficiente para a limitação da atuação administrativa com a pretensa ideia de que ele, por si só, garantiria alcançar o benefício da coletividade[10]. Esses posicionamentos, replicados na maioria dos manuais de Direito Administrativo brasileiros, são responsáveis, em certa medida pela atual crise do próprio princípio da legalidade em nosso sistema.
Isso porquanto a crítica serve à reflexão. Qualquer estudante ou estudioso pode bem absorver a ideia básica de que a Administração está circunscrita ao padrão de ação cristalizado na lei. Contudo, o raciocínio é vazio. O que quer dizer essa circunscrição? O Direito público nasce com a finalidade de limitar o poder, o arbítrio. A abertura linguística própria ao Direito não tem condições de, por si só, realizar essa finalidade. Nesse sentido, a ideia de Estado de Direito posta a partir de um raciocínio estritamente formal não consegue abarcar a complexidade de ações, de interesses, de forças que condicionam a aplicação da própria legalidade em nosso tempo. Diante disso resta colocar: qual o papel da legalidade no sistema jurídico brasileiro em relação à Administração Pública? Logo após, como estabelecer uma base de compreensão um pouco mais precisa sobre a incidência desse mesmo princípio?
Da primeira indagação surge que o princípio da legalidade pretende mitigar os riscos, em que pese sua abertura semântica propiciar a própria potencialização do risco[11]. Vige, então, um paradoxo. Esse paradoxo, contudo, desempenha uma função fundamental, qual seja a legalidade ainda é o substrato onde a expectativa cognitiva e a expectativa normativa dos sujeitos ainda pode encontrar alguma informação para estabelecer cenários possíveis para a ação. Diante disso, a legalidade, em nosso sistema, ainda ocupa o centro das discussões, porquanto dentre as piores formas de se limitar o arbítrio, certamente ela ainda é a mais segura.
Contudo, para desparadoxizar esta configuração ambígua, o princípio da legalidade no sistema jurídico brasileiro deve ser revisto em duas frentes básicas, uma pré-positiva e outra positiva. No primeiro momento, encara-se o problema da legalidade no bojo da atividade legiferante. Os aportes teóricos encetados recentemente pela legística demonstram a necessidade de que o legislador tenha o compromisso moral e jurídico de elaborar dispositivos normativos com maior precisão, inteligibilidade e coerência sistêmica. Nesse sentido, a atividade legislativa deve ser elevada em quatro níveis de coerência, quais sejam coerência sincrônica, diacrônica, sistêmica e intrínseca, que, diante do pensamento de Luc Wintgens, nada mais diz que:
Para que um sistema tenha coerência intrínseca, é suficiente que as normas não sejam contraditórias em si mesmas [coerência sincrônica], que a aplicação simultânea das normas não tenha como consequência contradições [coerência diacrônica], que as normas não anulem o efeito umas das outras [coerência sistêmica] e que as soluções encontradas sejam uma reconstrução racional baseada em uma teoria – neste caso, a liberdade como principium [coerência intrínseca] (Wintgens apud KAITEL, 2016, p. 41).
Já em relação à análise advinda da legalidade positiva, a compreensão deste princípio no contexto brasileiro perpassa para a necessidade de revigorar a técnica de aplicação a partir de um ensino jurídico que tenha como base o viés crítico e, ao mesmo tempo, um aporte hermenêutico que leve em consideração o senso de responsabilidade do Administrador-aplicador no momento de densificar a própria legalidade. A repetição do mantra de que a legalidade é o princípio básico da Administração e de que esta está subjugada à legalidade é discurso vazio, que abre caminho para o arbítrio. Somente a análise crítica da legalidade possibilita que o aplicador, em sua formação intelectual, possa refletir sobre a gravidade e a contingencialidade que a legalidade enfrenta no contexto brasileiro e, por meio disso, torne-o mais consciente da imperativa necessidade de levar o Direito a sério, especificamente em sua base de aplicação como verdadeiro sistema normativo, e não como instrumento político de configuração da arbitrariedade camuflada pela muita das vezes obscura autorização legislativa. Só com a gradual mudança da cultura jurídica o princípio da legalidade pode ser ressignificado e passar a ditar a ação do Estado conforme o próprio direito, e não de acordo com influências alheias. É o que se discutirá a partir de então.
3. A atividade legislativa do Poder Executivo no Direito brasileiro
A atividade legislativa do Poder Executivo no Direito brasileiro é marcada por uma forte atuação dessa função estatal, o que revela que a configuração da teoria da tripartição das funções estatais é, em certa medida, extremamente plástica. No sistema constitucional inaugurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a atividade legiferante do Executivo se dá em duas zonas distintas: o viés primário, em que há coparticipação na produção das próprias leis do país e, até mesmo, da Constituição; o viés secundário, a partir do momento em que o Poder Executivo é chamado a aplicar a legalidade no sentido de lhe garantir concretude executória. O presente estudo concentra-se na segunda forma de produção normativa do Executivo, especificamente no que diz respeito à regulamentação do sistema jurídico a estabelecer normatizações administrativas nas relações jurídicas existentes na órbita do Direito privado. Passa-se a analisar.
3.1. A atividade densificadora do Chefe do Poder Executivo
O sistema do Direito é baseado na existência de uma realidade hierárquica. Isso quer dizer que o teórico do Direito ou o cientista do Direito, cada qual à sua maneira, ao se deparar com seu objeto de conhecimento, constata a presença não somente de inúmeras normas, mas também que essas normas possuem diferenças topográficas e estruturais entre si[12]. A forma de lidar com essas diferenças vai encaminhar o enfoque. Se partimos para a manifestação da contingência inserida no contexto da hierarquização e, por sua vez, ao descrever a própria contingência a aceitamos como algo intrínseco ao fenômeno, fazemos teoria do Direito. Se, ao contrário, organizamos a racionalidade interna da própria hierarquia, apontando a unidade da estrutura, realizamos ciência do Direito. A pretensão, no caso, é realizar ciência do Direito.
Para discutir a questão da estrutura hierárquica, devemos primeiramente verificar o nível da relação de correspondência entre duas normas dentro do sistema jurídico. Para isso, lança-se mão do conceito de validade, que na acepção de Kelsen, “é a específica existência da norma, que precisa ser distinguida da existência de fatos naturais, e especialmente da existência dos fatos pelos quais ela é produzida” (1986, p. 3-4). A partir da ideia de validade, podemos desdobrar o raciocínio acerca do Direito positivo em dois vieses, um estático e outro dinâmico. Diante da ideia de uma norma fundamental – preceito último de fundamentação da validade do sistema – o sistema estático aponta que uma norma é válida, e ao dizer isso “presumimos que os indivíduos cuja conduta é regulada pelas normas “devem” se conduzir do modo prescrito pelas normas em virtude do conteúdo destas: seu conteúdo tem uma qualidade imediatamente evidente que garante sua validade” (KELSEN, 1998, p. 163-164), ou seja, verifica-se a natureza obrigatória das normas dentro de um dado sistema. Por outro lado, o sistema dinâmico analisa o fenômeno da criação/aplicação do sistema jurídico a partir da ideia de delegação. No âmbito da teoria positivista de Kelsen,
A norma fundamental apenas estabelece certa autoridade, a qual, por sua vez, tende a conferir poder de criar normas a outras autoridades. As normas de um sistema dinâmico têm de ser criadas através de atos de vontade pelos indivíduos que foram autorizados a criar normas por alguma norma superior. Essa autorização é uma delegação. O poder de criar normas é delegado de uma autoridade para outra autoridade; a primeira é a autoridade superior, a segunda é a inferior. A norma fundamental de um sistema dinâmico é a regra básica de acordo com a qual devem ser criadas as normas do sistema. Uma norma faz parte de um sistema dinâmico se houver sido criada de uma maneira que é – em última análise – determinada pela norma fundamental (1998, p. 165).
Tomados esses pontos de partida, pode-se dizer que a atividade de densificação do sistema jurídico é ao mesmo tempo atividade de criação e de aplicação do Direito por órgão diretamente autorizado pela Constituição, que por sua vez se remete à norma fundamental. É atividade de criação a partir do momento em que inova o ordenamento com um novo arranjo informativo de natureza normativa. Não a inovação temperada pelo Poder Legislativo, mas uma inovação que tem a pretensão de consolidar o sistema e dar concretização às normas jurídicas, ou seja, o desdobramento da legalidade[13]. Também constitui-se como atividade de aplicação, a partir do momento em que não nasce do vazio, remetendo-se diretamente à uma atividade legiferante prévia. É a consubstanciação do postulado da inegabilidade dos pontos de partida.
Diante da face dinâmica de interrelação entre normas, cujo princípio básico para análise a partir do viés da ciência do Direito é a coerência, a análise normológica aponta para a correlação entre as normas a partir da relação de correspondência lógica entre uma norma inferior e uma norma superior, seja quanto ao conteúdo, seja em relação ao sujeito que tem autorização para produzir a norma inferior (KELSEN, 1986, p. 332-342). Nesse ponto, passa-se a observar a cadeia autorizativa do sistema jurídico brasileiro em matéria regulamentar.
Parte-se, primeiramente, para a evidenciação de uma dupla face da legalidade no sistema jurídico brasileiro. A atividade regulamentar do Poder Executivo tem como suporte a Constituição na ponta do sistema e, diretamente, a própria lei. A partir disso, observa-se que uma tipologia dos regulamentos pode ser evidenciada em nosso sistema. Clèmerson Merlin Clève ensina que os regulamentos podem ser abstraídos de várias formas, sendo a primeira delas que se relaciona com “os efeitos do regulamento”, e a segunda que aponta para a relação entre o regulamento e a lei. No que diz respeito aos efeitos, esses podem ser internos e externos. Os externos são aqueles que produzem efeitos para além dos próprios órgãos da Administração, “obrigando, inclusive, terceiros (todos aqueles sujeitos à incidência da lei regulamentada” (2011, p. 322-323). Diante do critério extrínseco, os regulamentos seriam classificados como de execução, de necessidade ou urgência, independentes, autônomos e delegados ou autorizados (CLÈVE, 2011, p. 323).
Partindo-se da classificação de Clève, a atividade normativa secundária decorrente de atribuição encerraria os (1) os regulamentos autônomos, (2) os regulamentos independentes, (3) os regulamentos de necessidade e (4) os regulamentos de execução. Por outro lado, ainda pode-se discorrer sobre a existência de atividade normativa secundária decorrente de delegação. Interessa para o estudo os regulamentos de execução (2011, p. 323). Estes, conforme Di Pietro, são produto da atividade legislativa executiva que possuem efeitos extrínsecos e dizem respeito a relações de supremacia geral. Isso quer significar que os regulamentos de execução incide sobre as situações que “ligam todos os cidadãos ao Estado, tal como ocorre com as normas inseridas no poder de polícia, limitadoras dos direitos individuais em benefício do interesse público” (2014, p. 92).
Os regulamentos de execução – ou jurídicos, como na expressão de Di Pietro – estão vinculados ao produto da atividade legislativa primária, cuja competência e primazia para produção encontra-se no Parlamento. O fundamento constitucional de tais espécies normativas encontra-se no art. 84, IV, que determina ser de competência privativa do Presidente da República a expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Dentro do âmbito de eficácia dessas espécies normativas, pode-se colocar que os regulamentos de execução servem para
(i) precisar o conteúdo dos conceitos (ou categorias) de modo genérico (deficiente densidade) ou de modo impreciso (vago, ambíguo) referidos pela lei e (ii) determinar o modo de agir (procedimento) da Administração nas relações que, necessariamente, travará com os particulares na oportunidade da execução da lei. Um terceiro campo de incidência dos regulamentos de execução, no direito brasileiro, poderia ser localizado. Trata-se do campo da assim chamada (iii) discricionariedade técnica[14] (CLÈVE, 2011, p. 330).
A partir da ideia do regulamento de execução, ou jurídico, parte-se para a análise de seus limites dentro da própria Constituição. Como bem coloca José Afonso da Silva, essa espécie regulamentar de competência dos Chefes de Poder Executivo, em razão do princípio da simetria, somente pode ser levada a cabo a partir da limitação dada pela ordem jurídica global. Isso quer dizer que é uma competência vinculada e subordinada à lei, imediatamente, e à Constituição, mediatamente. Assim, apesar de inovar do ponto de vista da agregação de nova informação ao sistema do Direito, não se pode dizer, com mais exata precisão, que ela possa inovar no sentido de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações[15] (SILVA, 2011, p. 425-426). A competência para a aplicação do sistema jurídico do ponto de vista da atividade legislativa do Poder Executivo possui, então, critérios formais e materiais em seu respectivo âmbito de validade.
Nesse aspecto, o princípio constitucional que delimita o espaço de eficácia e de validade da competência regulamentar certamente é o princípio da legalidade, erigido à ordem de Direito Fundamental, conforme o art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988. O dispositivo é claro ao dizer que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. A lei, no sentido mais próprio do sistema jurídico brasileiro, é o instrumento apto a qualificar o Estado Democrático de Direito constituído no art. 1º da Constituição. É o instrumento legítimo, pois produzido a partir de um órgão colegiado que representa a soberania popular, em outras palavras, refere-se à autolimitação que a sociedade impõe a si própria para que as relações interpessoais e entre o indivíduo e o Estado nos sistemas sociais do país possam lograr efetividade, com o mínimo de estabilidade e previsibilidade. Nesse sentido, o princípio da legalidade como norma de garantia fundamental é a trincheira para a limitação do arbítrio estatal, especialmente no que se refere à atividade legislativa do Poder Executivo. É com a legalidade que se inaugura o Estado de Direito, onde a arbitrariedade e imprevisibilidade é substituída pela legitimidade e constância, pelo menos em tese[16].
Mas quando o Chefe o Executivo pode lançar mão de seu poder regulamentar? Sempre que achar conveniente para a garantia da precisão e delimitação da zona de eficácia de uma legislação ou, aí sim um poder-dever, quando a própria lei determina que seus jurídicos efeitos serão especificados e pormenorizados a partir da atividade regulamentar[17], vez que interessa ao sistema jurídico que o Poder Executivo realize a materialização da vontade popular contida no Parlamento. Nesta última hipótese, o que se coloca é que o Executivo, muitas das vezes, detém um conjunto de conhecimento técnico da realidade estatal e social muito mais agudo e refletido que o próprio Congresso Nacional. Diante disso, torna-se mais interessante que os temas de regulamentação cujo grau de tecnicidade ou de peculiaridade extravasem a própria atividade legislativa primária seja realizada dentro do próprio Poder Executivo, que detém o conhecimento necessário para dar aplicabilidade e concretude à legislação geral.
Contudo, o poder regulamentar é, muitas das vezes extrapolado. Faz parte da contingência humana e do poder. Sempre há o risco de que atitudes impensadas e imprudentes rondem todos os aspectos da vida em sociedade. Nesse caso, quando se está diante de um extravasamento da competência regulamentar, onde o ato normativo secundário está para além da legislação, tem-se a configuração de verdadeiro “abuso de poder regulamentar” (CARVALHO FILHO, 2014, p. 57), que deverá ser devidamente controlado pelo Poder Legislativo a partir da competência inscrita no art. 49, V, da Constituição Federal, ou seja, o legislador deverá, ao tomar ciência da ilegalidade, sustar o ato e reestabelecer sua autoridade.
A partir das inúmeras possibilidades para o exercício do Poder Legislativo, Celso Antônio Bandeira de Mello, com base na teorização de Michel Stassinopoulos, chega a uma conclusão sóbria, ao dizer que na óptica do Estado de Direito a atividade legislativa regulamentar nunca pode ser exercida contra legem ou praeter legem, mas apenas e sempre secundum legem (STASSINOPOULOS apud MELLO, 2013, p. 352). Obviamente que, como apontado no início do trabalho, dizer que a atividade administrativa regulamentar se delimita a partir da legalidade é dizer muito pouco, em razão dos problemas enfrentados pela própria legalidade em nosso tempo. De todo modo, aponta para algum caminho, que por mais imperfeito, deve ser repensado e criticado, dentro da lógica tanto da aplicação do sistema do Direito, como da própria produção do Direito, em seus níveis primário e secundário, como se verá nos capítulos 4 e 5.
3.2. A atividade densificadora dos agentes de governo
O desdobramento da atividade regulamentar se dá de maneira muito mais complexa quando adentramos na estrutura da Administração Pública brasileira, especialmente dentro do paradigma de Estado inaugurado na ordem constitucional de 1988. No interior desse espectro, pode-se extrair da Constituição que a atividade regulamentar na estrutura do Poder Executivo não é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, sendo também autorizada a formulação de atividade legislativa complementar à legalidade a partir dos agentes de governo diretamente subordinados à figura do Chefe do Executivo.
Nesse campo, insere-se a competência inscrita no art. 87, parágrafo único, II, da Constituição de 1988. O dispositivo coloca que é de competência dos Ministros de Estado – que pelo princípio da simetria também se aplica aos secretários estaduais e municipais da federação – “expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos”. Observa-se que o sistema jurídico ganha mais um nível de complexidade dentro da própria Constituição, a partir de um novo nível topográfico. As instruções normativas, resoluções, portarias e deliberações em nível ministerial não estão submetidas tão somente à Constituição e à lei, como também aos decretos e regulamentos produzidos pelo Chefe do Poder Executivo.
A competência regulamentar em nível de agentes de Estado ministeriais se dá no nível de colmatação técnica[18] para a aplicação normativa. Nesse ponto, o que o constituinte previu é que cada pasta ministerial terá maior clareza e maior know-how para verificar a zona de oportunidade e conveniência para a normatização em nível secundário. Há uma maior consciência dos pressupostos fáticos para a aplicação do sistema jurídica em nível de criação de novas normas genéricas e abstratas, cuja característica é a plena vinculação aos atos já existente, ou seja, a atividade normativa regulamentar se mostra como formadora de sentido[19].
A delegação ministerial tem um sentido técnico que não se traduz em deslegalização, mas em senso estratégico da formação das políticas de governo e de Estado da República. Os órgãos ministeriais detém alto acumulado de informações estratégicas em nível estatístico, geográfico, além de contarem com corpo de servidores especializados em suas respectivas matérias. Apesar de a tecnicidade aqui não se traduzir em saber científico de alta densidade, há que se confiar aos órgãos ministeriais o planejamento para a aplicação da legalidade em suas respectivas áreas de atuação. O fenômeno normativo é por demais denso, e a efetividade da legalidade deve ser adstrita à proteção da confiança e da segurança jurídica, fatores que ganham uma mais adequada interpretação no nível da especialidade administrativa.
4. A atividade regulamentar sobre matérias de Direito Privado
Introduzidos os pressupostos para o exercício da atividade legislativa no viés regulamentar peculiar ao Poder Executivo, passa-se a aprofundar em um campo específico, qual seja a intersecção existente entre a atividade regulamentar e a produção normativa no âmbito da regulação de ações individuais contidas no Direito Privado. O fenômeno da administratização do Direito Privado não é tão recente, e tem ganhado cada vez mais maior envergadura. Em estudo aprofundado sobre a matéria, Paulo Otero aponta três níveis de intervenção administrativa nas relações jurídicas privadas:
(a) A intervenção administrativa pode consistir numa simples habilitação que permite uma entidade de natureza privada produzir normas reguladoras de relações envolvendo particulares, falando-se em intervenção habilitante;
(b) A intervenção administrativa poderá traduzir-se no exercício de poderes de fiscalização ou controlo da validade ou regularidade de actos privados, independente da discussão sobre sua configuração como requisito de validade formal ou de eficácia, falando-se agora em intervenção de controlo;
(c) A intervenção administrativa mostra-se passível de assumir uma feição substitutiva da produção de normas privadas, traduzindo um mecanismo tendente a suprir a inércia das competentes entidades privadas, razão pela qual aqui se fala em intervenção substitutiva. (2003, p. 803).
Interessa-nos o estudo da intervenção de controle no nível regulamentar. Paulo Otero coloca que a intervenção de controle se desdobra em duas hipóteses distintas: “(i) o controlo administrativo pode incidir sobre fontes normativas privadas ou, em alternativa, (ii) o controlo administrativo pode traduzir-se num juízo de conformidade de actos jurídicos privados face ao próprio Direito Privado” (2003, p. 805). Nesse aspecto, quanto à hipótese (i), verifica-se que o sistema jurídico importa a competência legal ao administrador no sentido de “certificar ou a fiscalizar a validade ou a conformidade de actos normativos provenientes de entidades privadas, servindo essa intervenção administrativa de requisito de eficácia de tais normas ou de requisito de validade formal[20]” (Ibdem). Neste ponto, no nível de intervenção de controle sobre fontes normativas primárias, no caso brasileiro pode-se citar o objeto de análise do próximo capítulo, qual seja a sistemática do Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins, nos padrões colocados pela Lei 8.934, de 18.11.1994. Já em relação à hipótese (ii), Paulo Otero aponta para o fato de o sistema jurídico outorgar competência para que a Administração Pública “possa ser chamada a controlar a legalidade de actos jurídicos privados face ao próprio Direito Privado” (sic), ou seja, um exame de parametricidade entre o ato do particular e as normas de Direito Privado, avaliando a validade[21] (2003, p. 806).
Diante desse cenário, acerca da atividade regulamentar da Administração Pública na órbita material do Direito Privado, há que se ter clareza que além de se configurar como hipótese residual e totalmente excepcional, sua feitura somente pode se dar a partir de prévia determinação legal. Por ser a exceção, não se admite que a figura do Estado executor crie óbices indiscriminados, sem a devida tutela da legitimidade Parlamentar, no exercício dos direitos de natureza particular. Assim, aponta Clève que:
Com efeito, a opinião generalizada dos autores manifesta-se no sentido de que apenas as leis que devam sofrer aplicação pelo Executivo, ou dele dependam para a produção de efeitos, desafiam regulamentação. Aquelas que disciplinam relações exclusivamente entre particulares, em que a presença do Estado Administração não se faz sentir, estariam fora do alcance da ação regulamentar do Poder Executivo. Nesse sentido, pronunciam-se, entre outros, Oswaldo Aranha bandeira de Mello, Pontes de Miranda, Celso Antônio Bandeira de Mello, Geraldo Ataliba, Roque Antônio Carazza, Carlos Mário da Silva Velloso, Sérgio Ferraz. Por todos, cite-se a lição de apenas um: “(…) só cabe regulamento em matéria que vai ser objeto de ação administrativa ou deste depende. O sistema só requer ou admite regulamento, como instrumento de adaptação ou ordenação do aparelho administrativo, tendo em vista, exatamente, a criação de condições para a fiel execução das leis (2011, p. 313-314).
A partir dessas premissas, parte-se para estabelecer as bases sobre as quais a atividade regulamentar em matéria de Direito Privado deve se assentar. Caso haja a desfiguração desses requisitos, há verdadeiro extravasamento ilegal da competência regulamentar, inquinando o ato administrativo de constitucionalidade que ferirá o próprio núcleo do sistema jurídico brasileiro, qual seja os Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição de 1988. Passa-se a ver os principais parâmetros para, logo após, verificar sua incidência em caso concreto.
4.1. Os princípios da liberdade e da igualdade
Os princípios da liberdade e da igualdade, de matriz liberal, perpassam o constitucionalismo ocidental se amoldando ao influxo histórico e mostrando suas respectivas plasticidades semânticas no decorrer da evolução paradigmática do Direito Constitucional. No âmbito do Direito Privado, o princípio da liberdade é a regra básica de articulação do sistema de direitos fundamentais: não há autonomia existencial sem o mínimo de liberdade, que, em verdade, caracteriza a própria estrutura humana a partir da racionalidade e da natureza intrinsecamente social. Por outro lado, a igualdade informa a liberdade tomaNdo o lastro de abdicação da liberdade total para a possibilidade de vida social: todos são iguais em uma comunidade política, não havendo qualquer distinção racionalmente aferível pelo simples fato de todos serem dotados da mesma dignidade.
Essa liberdade do indivíduo é o fundamento de estruturação do Estado em duplo viés: o Estado deve garantir a liberdade e ao mesmo tempo o indivíduo torna a sua liberdade oponível ao alvedrio dos agentes estatais. Justamente com a evolução política do Estado, a potencialização das forças sociais através da absorção da democracia como forma de governo mais apta a traduzir o significado da Constituição, que o arbítrio pôde ser cada vez mais limitado e submisso à supremacia do Parlamento[22].
Nesse sentido, a liberdade e a igualdade se mantêm como vetores de interpretação da atividade de aplicação do sistema por parte do administrador. A atividade legislativa do Poder Executivo não pode suprimir a liberdade e nem desconsiderar a igualdade, neste caso vedando-se o estabelecimento do privilégio como política de Estado. Quando de sua incidência sobre o próprio âmbito do Direito Privado a questão é ainda mais ululante: a atividade de intervenção de controle deve se dar tão somente no sentido de sistematizar a ordem jurídica privada para garantir maior precisão por parte do indivíduo a identificar qual o direito a ser aplicado. Há que se potencializar a máxima liberdade já inserida no contexto da legalidade e da própria constitucionalidade[23]. Qualquer mitigação dos princípios é causa de invalidação.
4.2. O princípio da segurança jurídica
O princípio da segurança jurídica informa a atividade legislativa estatal em todas as suas formas de manifestação. É a garantia de estabilidade que o indivíduo tem para a proteção da sua liberdade e da igualdade em relação ao próprio sistema jurídico. Como coloca José Afonso da Silva a segurança jurídica percorre a ideia de constância dos direitos subjetivos, de modo que:
A segurança jurídica consiste no “conjunto de condições que tornam possível às pessoas o conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de seus fatos à luz da liberdade reconhecida”. Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída (2011, p. 433).
No sentido aqui desenvolvido, a segurança jurídica emana a necessidade de que a atividade regulamentar, especialmente em matéria de Direito Privado, deva se pautar conforme um padrão de coerência interna e externa sem precedentes. No nível interno, todo o regulamento deve ser lógico e harmônico, afastando-se antinomias. No nível externo, a atividade regulamentar deve se dar dentro da óptica do próprio sistema, representando uma ferramenta para melhor acesso do administrado ao conteúdo do Direito Privado positivo, e nunca como elemento mitigador da liberdade e da igualdade. Nesse compasso, a atividade legislativa do Executivo deve guardar integral simetria com a lei e com a Constituição, somente podendo modificar seu conteúdo substancialmente na exata medida em que a legislação também cambia.
4.3. A proteção da confiança como limite imanente
A confiança é o fato básico da vida social (LUHMANN, 2005, p. 5). Sem a eficiência desse fator para a mobilidade do indivíduo no mundo jurídico, não há qualquer razão de ser para a própria existência do Direito. Para não adentrarmos no caos, outorgamos confiança cotidianamente[24], e principalmente em face do Estado. A Constituição se convalida no sistema jurídico como o ápice do estabelecimento da confiança em nossos sentidos. Seguir a vontade da Constituição é o que torna a vida um pouco menos imprevisível, menos contingente.
A partir disso, pode-se concluir que a atividade regulamentar estatal deve resguardar a confiança a partir da diminuição dos riscos, observando que a contingência é um fenômeno intrínseco ao Direito mas, ao mesmo tempo, sempre contornável pelo próprio Direito. Ao Administrador cabe respeitar os limites colocados pelo próprio sistema jurídico, de forma que ao realizar atividades normativas típicas de intervenções de controle, não resvale nas garantias intrínsecas aos direitos individuais fundamentais. Somente com a confiança a vida e a dignidade se tornam possíveis.
5. O caso DREI e a efetivação da confiança em matéria empresarial
A atividade administrativa regulamentar do tipo intervenção de controle se mostra especialmente cara no que diz respeito ao registro empresarial no ordenamento jurídico brasileiro. Com o advento da Lei 8.934, de 18.11.1994, Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (LREM) houve a unificação do arcabouço normativo em matéria regulamentar comercial, com a criação do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis (SINREM). De acordo com o art. 3º, desse diploma, o Sinrem é composto pois inúmeros órgãos administrativos organizados em dois níveis. O primeiro deles é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI)[25], que desempenha o papel de órgão central do sistema, vinculado à Administração Pública Federal. O segundo são as juntas comerciais, cuja vinculação administrativa se dá no âmbito de cada Estado da Federação e do Distrito Federal.
Dentre as inúmeras competências determinadas ao DREI pelo art. 4º da LREM, destaca-se, certamente, sua função de estabelecer normas gerais sobre o Registro Público de Empresas Mercantis. Além dessas, como destaca Mamede, o DREI é ainda competente para desempenhar funções de supervisão, orientação e coordenação normativa no plano técnico (2019, p. 55). Acerca dessas competências normativas gerais, a doutrina empresarial brasileira não parece atentar para delimitação da amplitude de seu alcance. O destacado comercialista Haroldo Verçosa, assim disserta sobre as competências do DREI:
Como se verifica, é extensa a competência do DNRC em relação às atividades desenvolvidas sob sua responsabilidade.
Atuando no plano administrativo por delegação de competência, o DNRC cria normas no sentido jurídico estrito – dotadas de coerção, por conseguinte. Daí resulta que o descumprimento de tais normas irá gerar as penalidades nelas estabelecidas.
No exercício do seu poder de fiscalização, não raro o DNRC encaminha denúncias ao Ministério Público, para que este tome as medidas cabíveis no âmbito do Direito Penal (VERÇOSA, 2011, p. 241).
Em primeiro lugar, não se pode assumir que haja delegação de competência normativa em sentido estrito da legislação para o DREI. O que ocorre, na verdade, é que este órgão administrativo atua lançando mão do mecanismo de intervenção administrativa de controle, ou seja, avaliando, no caso concreto, se os particulares, em suas respectivas ações jurídicas empresariais, se comportam conforme os parâmetros estipulados na Lei, e tão somente na Lei. A atividade de fiscalização serve, ao mesmo tempo, como parâmetro de eficácia dos atos particulares e, do ponto de vista formal, para avaliar a própria validade desses atos diante dos requisitos colocados pelo sistema jurídico. Nesse contexto, não se revela crível aceitar que as normas administrativas emanadas pelo DREI sejam dotadas de coerção, porquanto além de não poderem criar novas obrigações, ou novas proibições, menos ainda se pode dizer que possam lançar mão, potencialmente, da utilização do uso da força para o cumprimento de pressupostos normativos produzidos exclusivamente em sua alçada legislativa. O que se pode pretender, nesse contexto, é que a atividade regulamentar e fiscalizatória tem o alcance de instrumentalizar a legislação, do ponto de vista procedimental, acerca de como realizar a coerção em caso de ilegalidade grave em matéria privada, o que é característica diminuta na atuação geral desse órgão. Fala-se, então, na possibilidade de haver consequências jurídicas de natureza administrativa em caso de descumprimento, e não diretamente de coerção advinda da própria atividade legislativa regulamentar.
Partindo-se disso, vê-se que a todo momento devem ser invocados as bases de atuação legislativa do DREI no âmbito do Direito Privado. Primeiramente, a atividade regulamentar, na seara privada, tem suas características gerais mitigadas. Não se pode falar que o DREI possui avaliação discricionária de realização de juízos de oportunidade e conveniência sobre a forma como os requisitos legais colocados na legislação ordinária e constitucional em matéria de direito privado devem ser lidos na perspectiva da validade. Ao realizar normatização para as atividades de registro, o órgão não pode criar entraves para o exercício da atividade empresarial por si só. Deve, tão somente, reproduzir, de maneira sistematizada e precisa, com o objetivo de consolidação, aquilo que já está previamente delimitado na órbita da legislação privada.
Exemplo dessa intervenção administrativa de controle que, recentemente, desvirtuou a prática de Direito Privado pode ser vista a partir da evolução da Instrução Normativa n. 38, de 02.03.2017, que em seu anexo V deu origem ao manual de registro da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), cuja criação se deu com a inserção do art. 980-A ao Código Civil de 2002. Devido à sua parca regulamentação legal, o DREI empenhou-se em regulamentar os requisitos de registro em inúmeras oportunidades, especialmente em razão da cláusula contida no art. 980-A, §6º, do Código Civil de 2002, que determina a aplicação subsidiária do regime jurídico da sociedade limitada a essa nova espécie empresarial. No âmbito dessas regulamentações, em um primeiro momento dirimiu-se dúvidas existentes e atestou-se a possibilidade de uma pessoa jurídica ser titular da Eireli. Contudo, por interpretação equivocada do art. 980-A, §2º, do Código Civil, a IN 28/2017 vedava a criação de mais de uma Eireli por pessoa jurídica com os mesmos sujeitos naturais integrantes da titular. O erro de aplicação sistemática do sistema normativo empresarial foi devidamente corrigido pela IN. 47, de 3.08.2018, que passou a prever a possibilidade de uma pessoa jurídica deter a titularidade de mais de uma Eireli.
Além disso, de acordo com a dicção original da IN n. 38/2017, pode-se observar que a titularidade da Eireli por incapaz estaria adstrita, perante os órgãos de registro, à hipótese de sucessão, visto que havia expressa vedação de integralização da Eireli por incapaz, mesmo que representado ou assistido[26]. Essa hipótese, após inúmeras críticas doutrinárias[27], foi extinta, recentemente pela IN n. 55/2019, que passou a permitir que o menor incapaz pudesse ser titular da Eireli conforme os moldes legais. Outra questão que também parece equivocada no que diz respeito à consonância da regulamentação com a lógica de Direito Privado é a proibição genérica pela IN n. 38/2017 de que servidores públicos, magistrados, membros do Ministério Público, etc., sejam titulares de uma Eireli. Como salientado por Tomazette, parece o administrador confundir as noções de titular e de administrador, porquanto a legislação permite que esses agentes públicos sejam sócios de uma sociedade empresária, contudo sem desempenhar a função de administradores[28]. Exemplos outros poderiam ser citados.
O que se observa, no caso DREI, é que a atividade regulamentar do tipo intervenção administrativa de controle se dá sem critério metodológico específico de aplicação do ordenamento. Confunde-se, a todo momento, a lógica jurídica de emanação de normas que regulamentam o âmbito do Direito Público com normas que tem como objeto regulado situações próprias de agentes privados em suas relações mútuas. Nesse sentido, cabe uma reflexão sobre os aspectos teóricos aptos a propiciarem uma adequada regulamentação em matéria de Direito Privado.
Primeiramente, pode-se considerar que a norma jurídica funciona como verdadeiro modelo de ordenação material sobre seu substrato fático de incidência. Contudo, por ser geral e abstrata, necessita de concretização a partir da ideia de criação e uma norma de decisão, como é o caso dos regulamentos (CANOTILHO, 2003, p. 1.221). A criação de um regulamento deve se pautar por conferir garantia à segurança jurídica e proteção da confiança, em todos os âmbitos da Administração, e no caso específico de intervenção administrativa de controle, devem preservar o núcleo dos direitos fundamentais de igualdade e liberdade previamente colocados na própria legislação. Isso quer dizer que a atividade legislativa administrativa deve envolver o percorrer da cadeia de fontes, para que se dê da maneira mais precisa e inteligível possível. Não pode ser crível que lançando mão de sua atividade regulamentar, o Poder Público venha a criar entraves de naturezas políticas e ideológicas inexistentes no corpo da legislação. A retidão à lei, nesse ponto, não se dá em relação à uma análise do alcance da discricionariedade a partir da conveniência e oportunidade: pelo contrário, há que se ter rigor metodológico estritamente formal, de maneira que a atividade regulamentar em matéria privada tão somente represente a consolidação e organização das normas já contidas no ordenamento ordinário, sem alterar sua substância.
6. Conclusão
A intervenção administrativa de controle é mecanismo extremamente importante para a validação e eficácia de atos particulares submetidos ao regime geral de Direito Privado. Essa atividade regulamentar encontra subsídio no princípio da legalidade e na supremacia da Constituição. Conquanto a legalidade esteja em crise, sua incidência nesse contexto de densificação do ordenamento jurídico se dá com ares diferentes do exercício regular do poder regulamentar da Administração. Não se pode admitir, de modo amplo, que a intervenção administrativa de controle resulte no embaraço da fruição de direitos e garantias fundamentais, menos ainda da criação de condutas proibidas ou devidas – para além das já contidas na legislação ordinária – em claro choque com o princípio da legalidade contido no art. 5º, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Por meio de análise teórica e de caso particular de aplicação do sistema jurídico em matéria regulamentar, o presente trabalho se mostra como breve ensaio para evidenciar as dificuldades e limites da atuação legislativa do Poder Executivo no sistema jurídico brasileiro. Coloca algumas provocações que, necessariamente, poderão acender inúmeros debates sobre tema pouco discutido na doutrina majoritária nacional, e que repercute, de forma direta, na vida dos sujeitos que vivem sob a égide da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Referências
BINENBOJM, Gustavo, Uma teoria do direito administrativo, 2 ed., São Paulo, Renovar, 2008.
CANOTILHO, J.J., Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed., Coimbra, Almedina, 2003.
CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 27ª ed., São Paulo, Atlas, 2014.
CLÈVE, Clèmerson Merlin, Atividade Legislativa do Poder Executivo, 3ª ed. rev. atual. ampl, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011.
COSTA GONTIJO, Pedro Augusto Costa, Os tratados internacionais comuns e a proteção da confiança, Dissertação de mestrado, Biblioteca da Universidade Federal de Minas Gerais, 2018.
DE GIORGI, Raffaele , Ciência do direito e legitimação: crítica da epistemologia jurídica alemã de Kelsen a Luhmann, Curitiba, Juruá, 2017, Tradução de: Pedro Jimenez Cortisano.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, 27ª, ed., São Paulo, Atlas, 2014.
HART, H. L. A, O conceito de direito, São Paulo, Martins Fontes, 2009, Tradução de: Marcelo Brandão Cipolla.
JUSTEN FILHO, Marçal, Curso de Direito Administrativo, 10ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014.
KAITEL, Cristiane Silva, A efetividade e a elaboração legislativa do direito à alimentação: política pública, educação e gestão participativa, 2016. 251 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-graduação em Direito, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.
KELSEN, Hans, Jurisdição Constitucional, 2. ed., São Paulo, Martins Fontes, 2007.
_______, Teoria geral do direito e do estado, Tradução de Luís Carlos Borges, 3ª ed., São Paulo, Martins Fontes, 1998.
_______,Teoria geral das normas, Tradução: José Florentino Duarte,Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris, 1986.
LUHMANN, Niklas, Confianza, Introducción de Dário Rodríguez, Santiago de Chile: Instituto de Sociologia, Pontíficia Universidad Católica de Chile, 2005.
_______,O direito da sociedade, São Paulo, Martins Fontes, 2016, Tradução de: Saulo Krieger.
_______, Sociologia do Direito I, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1983, Tradução de: Gustavo Bayer.
_______, Sistemas sociais: esboço de uma teoria geral, Tradução de: Antonio C. Luz Costa, Roberto Dutra Torres Junior, Marco Antonio dos Santos Casanova, Petrópolis, RJ, Vozes, 2016a.
MAMEDE, Gladston, Empresa e atuação empresarial, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2019.
MELLO, Celso Antônio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, 30ª ed., São Paulo, Malheiros, 2012.
OTERO, Paulo, Legalidade e administração pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade, Coimbra, Almedina, 2003.
RAZ, Joseph, O conceito de sistema jurídico, Tradução de Maria Cecília Almeida, São Paulo, WMF Martins Fontes, 2012.
SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 34ª ed., São Paulo, Malheiros, 2011.
TOMAZETTE, Marlon, Curso de direito empresarial – teoria geral e direito societário, v. 1. 10. ed. São Paulo, Saraiva Educação, 2019.
VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc, Curso de Direito Comercial, 3. ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2011.
Notas de Rodapé
[1] Bacharel, Mestre e Doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor adjunto de Direito Financeiro e Tributário da UFMG. Professor de Direito Financeiro e Tributário e do mestrado e doutorado da PUC-MG. Advogado e consultor. Procurador do Município de Belo Horizonte.
[2] Bacharel e Mestre em Filosofia do Direito, Legística, Teoria dos Sistemas, Direito Constitucional e Direito Internacional pela UFMG. Pesquisador vinculado ao Observatório para qualidade da lei. Consultor jurídico e acadêmico em Direito Público. Professor de Direito Empresarial e Introdução ao Estudo do Direito da PUC-MG.
[3] Afasta-se, então, a ideia de sistema de acordo com uma teoria comunicativa, conforme a estruturação dada por Niklas Luhmann, que pressupõe não somente uma análise do sistema jurídico inserido na lógica dos sistemas sociais, cingido por uma operação própria, o que lhe garante a autopoiese, como também a distinção teórica que analisa o sistema jurídico a partir da óptica do observador de primeira e de segunda ordem, e seus consequentes mecanismos de seleção (2016).
[4] Joseph Raz realiza uma crítica contundente e, em alguma medida, coerente sobre a diferenciação entre os aspectos estático e dinâmico do sistema jurídico aportado na Teoria do Direito de Hans Kelsen. Para o autor, há uma limitação estrutural teórica em se considerar o viés estático a partir da concepção de uma estrutura normativa calcada tão somente em normas que estabelecem uma conduta, prevendo consequentemente uma sanção em caso de descumprimento, e o viés dinâmico no sentido de observar uma cadeia de autorizações para a própria produção normativa. Na percepção de Raz sobre as relações genéticas entre as normas do sistema jurídico Kelseniano, vê-se que “toda norma é uma entidade independente e autossuficiente que não tem relações necessárias com nenhuma outra norma. Daí resulta que Kelsen admite o princípio da independência das leis, o qual determina a ausência de qualquer estrutura interna necessária aos sistemas jurídicos” (RAZ, 2012, p. 152). Apesar da pertinência dessas críticas no que diz respeito à organicidade e coerência interna da argumentação de Kelsen sobre a estruturação do sistema jurídico – o que revela certa debilidade de sua construção teórica –, considera-se como pertinente seu desenho geral sobre o ordenamento, de modo que, conquanto as minúcias teóricas, segue-se ainda como um modelo exemplar para o estudo da realidade jurídica em seu viés sistêmico de natureza ontológica.
[5] Como bem coloca Paulo Otero, com base em Montesquieu, “Se o arbítrio é a base do despotismo, a legalidade é o fundamento das outras formas de governo, daí que o Estado despótico, apesar de poder conhecer a existência de leis, enquanto actos de autoridade, se caracteriza, todavia, pela ausência de um verdadeiro princípio da legalidade. Adoptando um conceito material de lei, fazendo da sua generalidade um instrumento de certeza e de liberdade, pois a “força da lei consiste na referência a todos”, Montesquieu parte do entendimento de que a liberdade consiste no “direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem”. A liberdade só existe, por conseguinte, dentro da lei e por via da lei, traduzindo esta íntima associação entre a liberdade e a legalidade a configuração de uma verdadeira “liberdade normativa”“ (2003, p. 47).
[6] Sobre a deturpação do sistema de separação de poderes e, consequentemente, do princípio da legalidade no sistema de Estado francês, com a criação de um órgão administrativo que dita as próprias leis da função executiva, Gustavo Binenbojm assevera que “tal circunstância histórica subverte, a um só golpe, dois postulados básicos do Estado de Direito em sua origem liberal: o princípio da legalidade e o princípio da separação de poderes. De fato, a atribuição da função de legislar sobre direito administrativo a um órgão da jurisdição administrativa, intestino ao Poder Executivo, não se coaduna com as noções clássicas de legalidade como submissão à vontade geral expressa na lei (Rousseau) e de partilha das funções estatais entre os poderes (Montesquieu). Nenhum cunho garantístico dos direitos individuais se pode esperar de uma Administração Pública que edita suas próprias normas jurídicas e julga soberanamente seus litígios administrativos” (2008, p. 12).
[7] A ideia de supremacia da Constituição, como leciona Konrad Hesse, se dá no sentido de que a Constituição tem primazia sobre toda a ordem jurídica interna, sendo que esta primazia “é pressuposta da função constitucional como ordem jurídica fundamental da comunidade” (BENDA et al, 1996, p. 6 – tradução livre).
[8] A ideia da textura aberta do Direito tem como seu principal articulador dentro da corrente positivista o teórico inglês Herbert Hart. Toda norma jurídica se constrói, em alguma medida, no estabelecimento de padrões de comportamento que são transmitidos pela linguagem. Assim, “esses padrões, por muito facilmente que funcionem na grande massa de casos comuns, se mostrarão imprecisos em algum ponto, quando sua aplicação for posta em dúvida; terão o que se tem chamado de textura aberta” (2009, p. 166). Além disso, a legalidade sempre tem como finalidade, inalcançável, a tentativa de normatizar “todas as combinações possíveis de circunstâncias que o futuro pode trazer” (Ibdem, p. 167), contudo, sem sucesso. Isso se dá em razão da imprevisibilidade que “traz consigo uma relativa imprecisão dos objetivos” (Ibdem).
[9] E continua dizendo que “a perfeição da lei cede agora lugar a uma temporária paz social que se visa obter com um texto normativo obtido num certo momento de consenso entre alguns dos interessados mais reivindicativos. A verdade é que a lei resultante de todo este procedimento formalmente legitimador, apesar de algumas vezes alheio à melhor prossecução do interesse público, não tem nada de perfeito, nem traduz a revelação de qualquer verdade absoluta: a legalidade administrativa mostra-se contingente, precária e eivada de interesses contraditórios” (2003, p. 161).
[10] Exemplos nesse cenário não faltam. Para Di Pietro, a legalidade constitui-se como “uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade” (2014, p. 64-65). José dos Santos Carvalho Filho absorve a lição de Hely Lopes Meirelles, indicando a frágil resolução do problema assentada no raciocínio de que “enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza” (2014, p. 20). Celso Antônio Bandeira de Mello é ainda mais benevolente ao ensinar que “o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição que lhes compete no Direito brasileiro” (2013, p. 104).
[11] As teorizações sobre o risco e a sociedade de risco foram extremamente desenvolvidas por Ulrich Beck e Niklas Luhmann, cada qual à sua maneira. De acordo com o desenvolvimento da teoria dos sistemas sociais embasados na operação comunicativa, Luhmann analisa o risco sob o viés da contingência, ou melhor, da dupla contingência. Costa Gontijo disserta que “segundo Luhmann, a comunicação social está embebida pelo fenômeno do risco, pela possibilidade de descrédito, de desconfiança. Nesse sentido, diferencia uma contingência simples, que basicamente é a prospecção de uma expectativa sobre a ação/comunicação do outro, e uma dupla contingência, que envolve, além disso, a expectativa sobre a expectativa que o outro tem sobre as próprias expectativas do primeiro” (2018, p. 164). Assim, para Luhmann, “frente à contingência simples erigem-se estruturas estabilizadas de expectativas, mais ou menos imunes a desapontamentos – colocando as perspectivas de que à noite segue-se o dia, que amanhã a casa ainda estará de pé, que a colheita está garantida, que as crianças crescerão… Frente à dupla contingência, necessita-se outras estruturas de expectativas, de construção muito mais complicada e condicionada: as expectativas. A vista da liberdade de comportamento dos outros homens são maiores os riscos e também a complexidade do âmbito das expectativas. Consequentemente, as estruturas de expectativas têm de ser construídas de forma mais complexa e variável. O comportamento do outro não pode ser tomado como fato determinado, ele tem que ser expectável em sua seletividade, como seleção entre outras possibilidades do outro. Essa seletividade, porém, é comandada pelas estruturas de expectativas do outro. Para encontrar soluções bem integráveis e confiáveis, é necessário que se possa ter expectativas não só sobre o comportamento, mas sobre as próprias expectativas do outro. Para o controle de uma complexão de interações sociais não é apenas necessário que cada um experimente, mas também que cada um possa ter uma expectativa sobre a expectativa que o outro tem dele. Sob as condições da dupla contingência, portanto, todo experimentar e todo agir social possui uma dupla relevância: uma ao nível das expectativas imediatas de comportamento, na satisfação ou no desapontamento daquilo que se espera do outro; a outra em termos de avaliação do significado do comportamento próprio em relação à expectativa do outro. Na área de integração entre esses dois planos é que deve ser localizada a função do normativo – e assim também do direito” (1983, p. 47-48).
[12] A análise epistemológica da realidade jurídica demonstra dois caminhos a serem seguidos pelo sujeito que se dispõe a estudar o fenômeno normativo de base jurídica. Dessa maneira, “a espistemologia jurídica, dizíamos, pode superar o obstáculo da contingência se conseguir predispor de instrumentos de legitimação da própria contingência nos dois níveis aqui indicados. Por isso, ela constrói dois sistemas separados: o da teoria do direito e o da ciência do direito. O primeiro deve executar essencialmente duas funções: (i) elaborar hipóteses sobre o direito, partindo do fato de que a validade do direito positivo é legada à contingência, e (ii) legitimar a contingência como relação não contingente de sentido e valor. O segundo, a ciência, deverá, ao invés, construir um sistema de direito positivo no qual se organize a racionalidade interna para a contingência, ou seja, no qual a contingência seja colhida e exposta de maneira a se articular segundo uma estrutura unitária, orgânica, da qual surja a coerência interna do direito positivo” (DE GIORGI, 2017, p. 33).
[13] Evidencia Celso Antônio Bandeira de Mello que somente a lei inova em caráter inicial o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, há uma distinção entre lei e regulamento em que somente a lei traz uma informação nova, de natureza vinculante, para o sistema jurídico, constituindo-se em verdadeira atividade primária. O regulamento, por outro lado, não altera a própria ordem jurídica (2013, p. 348). Realizar a teorização nesses moldes não parece ser o mais adequado. Uma das características primordiais da norma jurídica é a inovação. Qualquer norma inova o ordenamento a partir do momento em que agrega uma informação, mesmo que seja a mesma informação contida em nível hierárquico superior ou inferior. Além disso, a atividade regulamentar pode inovar a partir do momento em que produz regras para a fiel execução da lei, matérias de ordem procedimental. A partir disso, a ideia não é estabelecer a não inovação, mas como a inovação pode ser realizada em matéria regulamentar. Dessa forma, as demais conclusões são uníssonas. A inovação secundária tem limites imanentes.
[14] Acerca da discricionariedade técnica, com base nas teorizações de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, coloca Clèmerson Merlin Clève que “os regulamentos incidentes sobre esse campo foram estudados, entre outros, por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, que se fundamentando na doutrina americana, os chamou de “contingentes”. Tais regulamentos, segundo o autor, manifestam-se quando: “(…) o Legislativo delega ao Executivo as operações de acertar a existência de fatos e condições para a aplicação da Lei, os pormenores necessários para que as suas normas possam efetivar-se. Ela encontra corpo nas atividades estatais de controle. A lei da habilitação fixa os princípios gerais da ingerência governamental e entrega ao Executivo o encargo de determinar e verificar os fatos e as condições em que os princípios legais devem ter aplicação” (CLÈVE, 2011, p. 330-331).
[15] A orientação teórica é baseada, também nesse constitucionalista, nas lições de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. José Afonso da Silva, citando-o, coloca que “o regulamento tem limites decorrentes do Direito Positivo. Deve respeitar os textos constitucionais, a lei regulamentada, e a legislação em geral, e as fontes subsidiárias a que ela se reporta. Ademais, sujeita-se a comportas teóricas. Assim, não cria, nem modifica e sequer extinguir direitos e obrigações, senão nos termos da lei, isso porque o inovar originariamente na ordem jurídica consiste em matéria reservada à lei. Igualmente, não adia a execução da lei e, menos ainda, a suspende, salvo disposição expressa dela, ante o alcance irrecusável da lei para ele. Afinal, não pode ser emendado senão conforme a lei, em virtude da proeminência desta sobre ele” (MELLO apud SILVA, 2011, p. 426).
[16] Como bem destaca Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o dispositivo contido no art. 5º, II, da Constituição Federal de 1988, “note-se que o preceptivo não diz “decreto”, “regulamento”, “portaria”, “resolução” ou quejandos. Exige lei para que o Poder Público possa impor obrigações aos administrados. É o que a Constituição brasileira, seguindo tradição já antiga, firmada por suas antecedentes republicanas, não quis tolerar que o Executivo, valendo-se de regulamento, pudesse, por si mesmo, interferir com a liberdade ou a propriedade das pessoas” (MELLO, 2013, p. 349).
[17] O não exercício dessa atividade regulamentar e o consequente óbice à fruição de direitos inseridos no âmbito da legislação primária se revela como uma omissão ilegal por parte do Poder Executivo. Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro traz duas hipóteses para combater a omissão, quais sejam o mandado de injunção (art. 5º, LXXI, da Constituição) e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, §2º, da Constituição).
[18] Não se confunde a regulamentação em nível técnico ministerial com a regulamentação técnica inserida no fenômeno conhecido como deslegalização. Este é assim retratado por Carvalho Filho: “Modernamente, contudo, em virtude da crescente complexidade das atividades técnicas da Administração, passou a aceitar-se nos sistemas normativos, originariamente na França, o fenômeno da deslegalização, pelo qual a competência para regular certas matérias se transfere da lei (ou ato análogo) para outras fontes normativas por autorização do próprio legislador: a normatização sai do domínio da lei (domaine de la loi) para o domínio do ato regulamentar (domaine de l’ordonnance). O fundamento não é difícil de conceber: incapaz de criar a regulamentação sobre algumas matérias de alta complexidade técnica, o próprio Legislativo delega ao órgão ou à pessoa administrativa a função específica de instituí-la, valendo-se dos especialistas e técnicos que melhor podem dispor sobre tais assuntos” (2014, p. 59).
[19] Para Clèmerson Merlin Clève, “sob o prisma constitucional, não há matéria reservada ao regulamento (mesmo no caso dos regulamentos de organização, não se manifesta hipótese de reserva). Desde o ângulo, porém, da política legislativa é possível advogar-se uma maior plasticidade normativa para determinada disciplina caracterizada pela acessoriedade. Por exemplo, os detalhes de natureza técnica podem recomendar tratamento regulamentar, porque a rigidez da lei (tendo em vista a dificuldade de sua elaboração, entre outras razões) não é sempre compatível com a velocidade das mudanças tecnológicas. Porém, a presente discussão refoge do campo da juridicidade (constitucionalidade) para ingressar no território largo da política legislativa (conveniência) (2011, p. 312).
[20] A título de exemplificação, o administrativista demonstra que “ainda neste contexto de controlo administrativo sobre fontes normativas privadas, merece especial destaque a intervenção governamental sobre os estatutos dos estabelecimentos de ensino superior particular e cooperativo, procedendo ao seu registro, salvo se razões de legalidade determinarem o dever de recusa de registro. A intervenção administrativa através do acto de registro envolve uma verdadeira condição de eficácia de tais normas” (2003, p. 806).
[21] “É o que acontece, a título de exemplo, ao nível do Direito dos Valores Mobiliários, conferindo a lei competência à Comissão dos Valores Mobiliários para, procedendo ao apreciar do pedido de registro prévio de ofertas públicas, aferir a legalidade da respectiva oferta e da conformidade dos documentos que instruem o pedido, envolvendo o exercício desta competência de controlo a utilização do Direito Privado como padrão de referência da validade dos respectivos actos sujeitos a fiscalização” (OTERO, 2003, p. 807).
[22] Corrobora esta visão o posicionamento de Marçal Justen Filho, para quem “o ser humano também não pode ser escravo em relação ao Estado. Não se admite a imposição da submissão às determinações estatais sem a preservação da dignidade individual, com a transformação do indivíduo num servo. Admite-se a conformação da liberdade quando relacionada com a compatibilização entre as diversas esferas da autonomia individual. Impõem-se limites à liberdade de alguém quando isso for necessário a assegurar a existência da autonomia alheia (2014, p. 202).
[23] Gustavo Binenbojm aponta o sentido da regulamentação em relação aos particulares também no que diz respeito a um aspecto de vinculação negativa à lei: “a ideia de vinculação negativa à lei só se revela adequada para reger a vida dos particulares, uma vez que, para estes, a autonomia (expressão de sua dignidade) deve ser a regra geral da sua conduta, apenas limitada externamente pela legalidade. Para o Estado, contudo, tal ideia se mostra inadequada, já que aquele não existe como um fim em si mesmo, mas como instrumento erigido democraticamente, por intermédio do direito, para realizar as finalidades que lhe forem ditadas pela sociedade política. Neste sentido é que se afirma a subordinação do Estado ao ordenamento jurídico, não apenas como limite externo, mas também como uma condição ou fundamento da atividade estatal” (2008, p. 141-142).
[24] Como coloca Costa Gontijo, baseado em Luhmann, “um ambiente no qual o caos e o temor sejam as únicas alternativas para a existência do homem, só lhe resta, então, outorgar confiança sobre determinadas direções da realidade. Além disso, pode-se observar a confiança a partir do uso de nossa imaginação para reproduzir situações de ansiedades relativas a uma existência sem confiança. Nesse ponto, apesar de podermos transcender a nossa vivência cotidiana, rotineira, de pensar o mundo, estaremos nos apoiando, em alguma medida, em uma falácia para representar a própria construção do conceito de confiança, o que é ineficiente metodológica e epistemologicamente (2018, p. 258).
[25] Destaca-se que de acordo com a redação do art. 3º, a estrutura do Sinrem é composta pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) e as juntas comerciais. Contudo, em razão da edição do Decreto 8.001/2013, o DNRC foi extinto, dando lugar ao DREI. Além do mais, o art. 4º da Lei 8.934/1994 estabelece a vinculação do antigo DNRC ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Atualmente, sob a vigência da Lei 13.844, de 18.06.2019, que converteu a Medida Provisória n. 870, de 01.01.2019, o DREI passou a fazer parte da estrutura do Ministério da Economia, conforme dicção do art. 31, XXIX, deste diploma. O Decreto 9.745, de 8.04.2019 continua a denominar o órgão de DREI, e estabelece suas respectivas competências no art. 134.
[26] Quebra-se, então, com a manutenção da proibição, a lógica de aplicação subsidiária do regime próprio às sociedades limitadas. Isso porque o art. 974, §3º, do Código Civil de 2002 é expresso ao permitir que o relativamente incapaz assistido e ao absolutamente incapaz representado pode ser sócio de empresa.
[27] A exemplo, Marlon Tomazette assevera: “assim, tomando-se a sociedade limitada como parâmetro, à luz do art. 974, §3º do CC, o incapaz poderá ser titular da EIRELI, desde que seja devidamente assistido ou representado e não exerça funções de administração. A integralização do capital social no caso é requisito da própria constituição da EIRELI (art. 980-A do CC) e não da participação do incapaz. Preenchidos esses requisitos, o incapaz poderá ser titular da EIRELI, mas essa constituição não será causa de emancipação, como não o é a participação em sociedade, pois não se trata de exercício em nome próprio da atividade empresarial. A Instrução Normativa n. 38/2017 – DREI não permite a constituição da EIRELI por pessoa física incapaz. Com as alterações realizadas pela IN n. 47/2018, diz-se que o incapaz pode ser titular da EIRELI, “desde que exclusivamente para continuar a empresa, nos termos do art. 974 do Código Civil”. Nessa alteração, são confundidas a ideia do empresário individual e da EIRELI, que é uma pessoa jurídica, um sujeito de direitos autônomos. Assim, reiteramos nossa opinião, no sentido de que não há impedimento para que o incapaz seja titular da EIRELI, uma vez que há limitação de riscos” (2019, p. 91-92).
[28] Assim, “pelos mesmos motivos, os impedimentos atinentes ao exercício da atividade empresarial das pessoas físicas como empresário individual também não se aplicam aqui, uma vez que há criação de uma nova pessoa jurídica. Ora, se tais impedimentos não vedam a condição de sócio de uma sociedade limitada, também não devem vedar a condição de titular da EIRELI, pela própria determinação de aplicação das regras da sociedade limitada (art. 980-A, §6º, Do CC). Dessa forma, os servidores públicos, magistrados, membros do Ministério Público e militares da ativa podem constituir EIRELI, desde que não exerçam as funções administrativas inerentes ao exercício da empresa” (TOMAZETTE, 2019, p. 92).