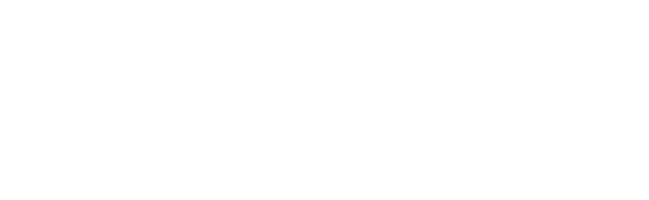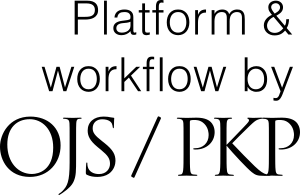A plurinacionalidade e a mutação do poder constituinte
Plurinationality and mutation of constituent power
DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.10
Recebido/Received 01/06/2024 – Aprovado/Approved 28/08/2024
André Ribeiro Leite[1] /https://orcid.org/0000-0001-8606-8943
Resumo
A contínua adoção de novos textos constitucionais pela maioria dos Estados latino-americanos a partir de 1980, para além de expressar a transição de regimes de índole autoritária para a democracia, apresenta elementos inovadores à teoria do poder constituinte de matriz liberal originariamente sistematizada pelo abade Sieyès, em sua obra “O que é o Terceiro Estado?”. Com recurso a um estudo de direito comparado para a análise desse fenômeno de renovação constitucional, observou-se que o instituto do pluralismo jurídico evoluiu para a multiculturalidade e, por fim, resultou na criação de um novo instituto, a plurinacionalidade. Essa dinâmica, apesar de ordinariamente descrita pela doutrina como “neoconstitucionalismo”, em verdade parece sugerir o reconhecimento normativo de uma espécie de manifestação híbrida do poder constituinte, um fenômeno relacionado à mutação de sua essência, a que se denomina de “mutação constituinte”.
Palavras-chave: Direito Comparado; Constitucionalismo; Poder Constituinte; América Latina; Mutação constituinte.
Abstract: The continuous adoption of new constitutional texts by the majority of Latin American states since 1980, in addition to expressing the transition from authoritarian regimes to democracy, presents innovative elements to the theory of constituent power of a liberal matrix originally systematized by Abbé Sieyès, in his work "What is the Third Estate?". Using a comparative law study to analyze this phenomenon of constitutional renewal, it was observed that the institute of legal pluralism evolved into multiculturalism and, finally, resulted in the creation of a new institute, plurinationality. This dynamic, although ordinarily described by the doctrine as "neo-constitutionalism", in fact seems to suggest the normative recognition of a kind of hybrid manifestation of the constituent power, a phenomenon related to the mutation of its essence, which is called "constituent mutation".
Keywords: Comparative Law; Constitutionalism; Constituent Power; Latin America; Constituent Mutation.
Sumário: 1. Introdução; 2. Método; 3. O constitucionalismo clássico como paradigma para o neoconstitucionalismo americano; 4. O aspecto mutacional do poder constituinte; 5. O neoconstitucionalismo sul-americano e seus aspectos político e jurídico; 5.1. O aspecto político do neoconstitucionalismo; 5.2. O aspecto jurídico do neoconstitucionalismo e a criação do instituto da plurinacionalidade; 6. Considerações Finais; 7. Referências
1 Introdução
No ano 2017, houve a instauração de uma Assembleia Nacional Constituinte na Venezuela, que encerrou seus trabalhos em dezembro de 2020, sem, contudo, promulgar um novo texto constitucional para o Estado, salvo algumas reformas pontuais na Constituição ainda vigente, que data de 1999. Em paralelo, Cuba também deflagrou um processo constituinte, que ao contrário de seu homólogo venezuelano, culminou com a promulgação de uma nova Constituição em 24 de fevereiro de 2019, atualmente a mais jovem em vigor no continente americano. Esses status de frescor do texto cubano, todavia, quase foi superado pelo Chile, que em plebiscito conduzido no dia 25 de outubro de 2020, iniciou seus trabalhos constituintes, encerrados no ano de 2023. Contudo, à semelhança do ocorrido na Venezuela, não logrou êxito em conceber uma nova Constituição, apesar da confecção de dois projetos, ambos rejeitos em plebiscitos ratificadores.
Conquanto a última constituinte venezuelana haja sofrido críticas por supostamente haver sido utilizada como meio ilegítimo para dissolver a Assembleia Nacional eleita no ano de 2015, cuja maioria dos integrantes advinha de partidos de oposição ao mandatário da presidência da república, a rejeição dos projetos chilenos assume especial relevância, pois para além de sugerir a perda do ímpeto de renovação constitucional antes manifestado por sua população através de plebiscito consultivo[2], pode vir a caracterizar um marco temporal para o arrefecimento do movimento reformista iniciado em fins do século XX na América Latina[3].
Esse período de renovação constitucional iniciado há cerca de um quarto de século foi eventualmente identificado pela doutrina latino-americana sob o epíteto de “neoconstitucionalismo”. O termo, por obviedade, transparece alguma ideia de sobreposição – ou mesmo superação – das teses clássicas que descreveram o constitucionalismo liberal ao longo da história[4], especialmente em razão da paulatina incorporação de conteúdos considerados de vanguarda, a mencionar institutos como o “multiculturalismo” e a “plurinacionalidade”.
A plurinacionalidade, em especial, para mais do que abarcar a principal característica do multiculturalismo, pertinente à preservação cultural pelo reconhecimento de identidade a corpos sociais formados por pessoas que, a despeito de unidas por laços étnicos – e por isso imateriais – de comportamento, religião e idioma, encontram-se difusas em meio a diversos outros grupos que compõem a população de um Estado nacional, tem seu fundamento ontológico baseado no conceito de que a soberania sobre dada circunscrição territorial seria simultaneamente exercida pela união de todas elas, que em sua singularidade, restariam incapazes de se auto-determinar soberanamente perante a ordem internacional. Somente através dessa complexa união orgânica de nacionalidades internas é que tais coletividades poderiam, enfim, editar suas respectivas normas. O reconhecimento de um status plurinacional, deste modo, não somente se traduziria pela ordinária participação dos indivíduos no processo político pelo clássico exercício dos direitos de votar e ser votado, mas também corresponderia à efetiva integração de membros dos povos originários no governo, quando conseguiriam exercer as competências tradicionalmente atribuídas aos órgãos de soberania estabelecidos sob a égide de um regime constitucional, como são o Parlamento e os Tribunais. Venezuela, Equador, Bolívia e, em menor escala, o México, são exemplos contemporâneos dessa fórmula, cujas constituições, expressa ou implicitamente, formalizaram a plurinacionalidade como instituto.
A problemática a ser enfrentada pelo presente artigo é verificar se há a adequação desse novel instituto da plurinacionalidade ao movimento constitucional de matriz liberal ideologicamente concebido no século XVIII e materializado ainda naquela centúria com as revoluções americana de 1776 e francesa de 1789 sem recurso à formulação de um novo arcabouço teórico que o sobreponha, a exemplo do que é sugerido pelo “neoconstituconalismo”.
Já a hipótese de pesquisa elegida é apresentar a contribuição do instituto da plurinacionalidade enquanto manifestação jurídica possível segundo o paradigma da teoria do poder constituinte redigida por Emmanuel Sieyès em sua obra “O que é o Terceiro Estado?”, a assim atestar que esse marco teórico clássico continua apto a apresentar soluções para dilemas contemporâneos do constitucionalismo, como são a legitimidade e a representatividade.
Por se tratar de um objeto de estudo abstrato, de matriz eminentemente ontológica, pois relativo à essência dos fundamentos políticos e jurídicos do Estado, recorreu-se a um estudo de direito comparado entre textos constitucionais que compartilham dos princípios basilares do constitucionalismo liberal, a mencionar a origem popular do poder soberano – ou “titularidade do poder constituinte pelo povo” –, seu exercício através da fórmula da tripartição em poderes ou funções constituídas e, por último, o reconhecimento de direitos fundamentais a serem respeitados e garantidos pela autoridade estadual. Trata-se de um parâmetro político-dogmático que se faz necessário para tornar a análise estável e apresentá-la com recurso a uma linguagem comum e, por conseguinte, propícia para atestar ou refutar a hipótese de pesquisa eleita. Ademais, com semelhante intuito de delimitação e coerência, somente foram considerados Estados que compartilham da organização intrínseca aos sistemas jurídicos de tradição romano-germânico, o que permite o firmamento de um parâmetro jurídico-dogmático condizente a um estudo de direito comparado, na medida em que a plurinacionalidade e outros institutos apenas podem ser referidos quando reconhecidos pela norma constitucional vigente, mesmo que de forma implícita. São essas delimitações que preservam o caráter científico da exposição e suas conclusões de sofrerem vícios de caráter ideológico comuns ao trato de assuntos políticos, pois o argumento permanecerá imparcial por decorrer de uma mesma fonte imediata do Direito, a norma, ainda que algum viés teórico baseado na ciência política e na filosofia não seja dispensado por cuidarem do dogma em que se funda a autoridade do Estado.
A plurinacionalidade, deste modo, enquanto fenômeno presente em alguns Estados, será tratada e analisada unicamente a partir de sua evidência jurídica, qual seja, sua positivação como instituto pela norma constitucional. Daí porque se recorreu aos textos constitucionais vigentes nos Estados integrantes do movimento de renovação constitucional em curso na América Latina, que são evidências aferíveis aptas para o desenvolvimento de um estudo de direito comparado, mormente pela relativa uniformidade de seus sistemas, historicamente estruturados de acordo com modelos coloniais instituídos pelos antigos reinos de Portugal e Espanha. Não por acaso, o multiculturalismo latino-americano e seu eventual aperfeiçoamento para o instituto da plurinacionalidade por alguns Estados encontra origem no reconhecimento de povos originários do continente, que compunham as nações já presentes quando da chegada dos europeus.
Ao fim, será apresentada crítica a propósito da classificação sob o epíteto de “neoconstitucionalismo” elaborada pela doutrina latino-americana a esse movimento de renovação constitucional em que emergiu enquanto instituto autônomo, sobretudo em razão da ideia de plurinacionalidade harmonizar-se com o direito de autodeterminação política inerente ao constitucionalismo clássico, a ocorrer com a perpetuação de sua representação nos órgãos de soberania, ainda que mediante a formalização de critérios de acesso exclusivos a cadeiras que lhes são permanentes no Legislativo e Judiciário.
A contribuição do presente estudo consiste em atestar, com base metodológico-científica a partir das evidências propiciadas pelas normas constitucionais, que o poder constituinte pode ter origem plural, a assim revelar que esse elemento nuclear da teoria constitucionalista clássica pode se adaptar às necessidades de cada época, inclusive com recurso a um fenômeno mutacional que modifique o princípio da unidade conceitual da titularidade da soberania pelo “povo” ou “nação” para expandi-lo a uma coletividade e, com assim, expor que o marco teórico do constitucionalismo de matriz liberal continua apto a legitimar o exercício da autoridade em ambientes multiculturais, tão comuns a Estados de passado colonial, que demandam o constante aperfeiçoamento do modelo representativo.
2 Do método
O grande obstáculo para se conduzir uma investigação sobre o poder constituinte reporta-se a sua natureza imaterial. Trata-se de um problema que acompanha o movimento constitucionalista desde os primórdios, pois condiz com os fundamentos de validade das constituições. Não por acaso, ao longo da história, foram desenvolvidos diversos estudos com o propósito de revelar a natureza da norma constitucional à luz de uma racionalidade científica. São conhecidas as concepções política, sociológica e jurídica elaboradas, respectivamente, por Schmitt, Lassalle e Kelsen, sem excluir outras. Esse aparente disenso teórico, contudo, possui um caminho de convergência. Ele perpassa pelo recurso à ontologia, ainda que não seja possível desvincular esse ramo do conhecimento da influência de algum grau de subjetividade derivado da eleição de um parâmetro dogmático erigido pela força política, social ou normativa.
Loewenstein foi um dos autores conscientes da necessidade de se recorrer à ontologia para enfrentar o dilema da cientificidade do poder constituinte, que para si, como espécie de poder que é, padecia dos mesmos problemas incidentes sobre outras percepções humanas, como são o amor e a fé. Segundo expôs, essa tríade correspoderia aos “incentivos fundamentais que dominam a vida do homem em sociedade e regem a totalidade das relações humanas”[5], já que seriam fenômenos imateriais intrínsecos ao comportamento humano em sociedade, sempre influenciado pela vontade subjetiva de cada indivíduo. Daí porque, apesar de possuir algumas ressalvas quanto à correção científica da ontologia, Loewenstein lhe reconhecia valia, desde que para “[...] constatar e valorar suas manifestações, seus efeitos e resultados”[6]. No plano jurídico, a manifestação perceptível dessa tríade seria expressa pela norma, a com isso se aproximar, em certa medida, do mito da caverna de Platão, na medida em que a verdade – ou a verdade possível – sobre dados fenômenos da vida e da natureza somente seriam revelados ao observador de maneira indereta, através de sua respectiva projeção, o que na alegoria desse filósofo da antiguidade, correspondia às sombras.
Por obviedade, uma abordagem ontológica que busque estabelecer uma investigação concentrada no enfrentamento da norma jurídica pode ser facilmente associada ao positivismo, corrente filosófica que, impulsionada pelos ideais iluministas de fins do século XVIII, intentava promover a construção do conhecimento com base na racionalidade ao invés do aceite irrestrito de paradigmas de ordem metafísica ou religiosa[7]. Para as ciências das humanidades, porém, a consequência imediata da renúncia ao subjetivismo foi a incorporação de métodos de investigação ao tempo utilizados pelas ciências naturais. Não foi diferente em relação ao Direito, pois como ressaltou Bobbio, o positivismo jurídico foi o “[...] esforço de transformar o estudo do direito numa verdadeira e adequada ciência que tivesse as mesmas características das ciências físico-matemáticas, naturais e sociais”[8]. Deste modo, tudo que não possuísse expressão normativa seria inadequado a qualquer método relacionado ao estudo das leis, posto incapaz de se sujeitar à comprovação conforme o rigor essencial ao método científico, postura considerada essencial para se alcançar o status de pureza.
Malberg foi um dos juristas fiéis a essa escola. Crente na impossibilidade de o poder constituinte ser regido por uma teoria autônoma, recorria ao que considerava uma irrefutável ordem de causalidade para justificar a existência desse fenômeno sob a perspectiva do positivismo jurídico. O Estado, por conseguinte, enquanto fundamento de validade do Direito, não poderia se originar de um ato constitutivo de natureza jurídica, eis que antecederia as expressões formais de uma normatividade. O poder constituinte, nessa fórmula de causa e consequência, apenas poderia existir enquanto fenômeno se admitido pelas normas jurídicas, eis que o dogma fundante de toda a normatividade seria o Estado em si.
Insistir em tão sólidas premissas, contudo, inversamente implicaria um paradoxo, pois ao se considerar o poder constituinte um produto da norma jurídica, haveria o risco do enrijecimento de sua análise, em enfoque purista não compatível com a vontade humana, que dificilmente permanceria estável e harmônica a um parâmetro extrínseco à subjetividade dos ímpetos propulsores da vida, que de acordo com o pensamento de Loewenstein exposto linhas acima, são o amor, a fé e o próprio poder. De fato, somente ao se aceitar a impossibilidade de uma análise restrita é que se estaria mais próximo de uma descrição da fenomenológica da verdade, objetivo de qualquer ciência, eis que o poder constituinte não seria reduzido à expressão da norma jurídica, mas sim reconhecido um fato social autônomo e sujeito à influência de outras forças presentes em seu ambiente de atuação, que eventualmente seriam responsáveis por lhe impor limitações. O Constitucionalismo, por certo, seria um desses parâmetros condicionantes. Não fortuitamente, é possível afirmar que Loewenstein, ao contrário de Malberg, admitiu a existência de um certo juízo de valor para a análise de fenômenos como o poder constituinte, algo que o positivismo, por si utilizado como condicionante do método investigativo, inicialmente intentava evitar. E ao assim proceder, mesmo sem se desvencilhar do dogma normativo, perquiriu o poder constituinte segundo o enfoque de uma Teoria da Constituição ao invés de uma Teoria do Estado, de modo a lhe distinguir alguma autonomia, ainda que seu estudo somente pudesse ser feito a partir das manifestações normativas procedentes da autoridade estadual.
Posteriormente, Popper indicou um caminho do meio para esse conflito advindo dos esforços empreendidos para se afastar dos conceitos imateriais pré-iluministas, o que fez mediante a incorporação de parâmetros racionais, passíveis de testabilidade. Em posicionamento que viria a ser classificado como de índole pós-positivista, advertiu que uma aplicação rija dos preceitos clássicos do positivismo eventualmente se revelaria insuficiente para manter uma explicação lógica acerca da evolução histórica dos primados do constitucionalismo, mormente ao longo século XX, quando então passou a ser percebido como um processo não concluído, tão logo se observou sua capacidade de sofrer alterações orgânicas para adaptar seus preceitos às progressivas exigências apresentadas pelas populações com que interagia no papel de diretriz política do comportamento. Essa afirmação é importante porque possibilita o recurso à ontologia sem repudiar a legitimidade de critérios universais relativos a uma veracidade pressuposta, aquela fundada em uma crença. Como desdobramento, o dogma fundamental do Estado, para além de ser analisado conforme as próprias manifestações normativas da autoridade estadual, tal como defendido por Loewenstein, ganharia autonomia científica plena, em que elas, as normas, passariam a ser aferidas sob a perspectiva da adequação ao primado teórico de cunho abstrato, cuja existência ou irrefutabilidade, a seu turno, dependeria da manutenção do respectivo aceite pela generalidade de pessoas. Sob essa ótica, portanto, defende que quaisquer tentativas de corroborar, refutar, sobrepor ou aprimorar uma hipótese de investigação, mesmo que pertinente a um fenômeno abstrato, apenas terá valia científica se o correspondente método investigativo adotar um discurso estável, em que “[...] uma proposição tem sentido numa certa linguagem (artificial) somente quando respeita as regras de formação aplicáveis às fórmulas ou proposições naquela língua”[9].
No âmbito político-normativo, a preservação e coerência com os parâmetros de linguagem ocorrerá quando o discurso investigativo respeitar sua expressão dogmática, que nessa circunstância, é revelada pela Constituição. Caberia ao Direito Comparado, por conseguinte, aferir se, entre as diversas manifestações constitucionais na América Latina, compartilham-se primados comuns, que em relação à hipótese de investigação proposta, reportam-se ao movimento constitucionalista deflagrado em fins do século XVIII, a mencionar a titulatidade do poder constituinte pelo povo, seu exercício mediante um sistema de tripartição de poderes e a adesão a um sistema de representação democrática, além do respeito a direitos fundamentais. Afinal, consoante expõe Vicente, a esse ramo das ciências jurídicas compete [...] identificar um ‘núcleo comum’ (common core) dos sistemas jurídicos nacionais ou as melhores soluções dentre as que estes consagram [...]”[10]. O Direito Comparado propicia linguagem e método apropriados para se atingir esse objetivo ao estabilizar a análise do objeto de estudo ao que restou formalizado no corpo das Constituições sem comprometer a coerência científica pelo recurso a juízos de valor subjetivos.
3 O constitucionalismo clássico enquanto paradigma para o neoconstitucionalismo americano
Os termos “constitucionalismo” e “constituição” são associados, pois como transparece obviedade, não é possível conceber o movimento constitucionalista desvinculado do objetivo de estabelecer um regime político condicionado a uma Constituição, muito menos dos elementos que lhe são essenciais, a exemplo do poder constituinte. A lógica inversa, todavia, não se aplica, pois a falta de adesão à ética constitucionalista não implica a ausência de uma Constituição, especialmente quando percebida como o documento paradigma para o exercício da autoridade do Estado. É por tal razão que, sem perder seu status, uma Constituição pode se fazer representar com diversas facetas, a ser totalitária, autocrática, democrática ou mesmo libertária. Modelos como a Constituição política de Schmitt, a Constituição sociológica de Lassalle e a Constituição jurídica de Kelsen, já mencionados linhas atrás, corroboram essa assertiva, que em última análise, desemboca em uma potencialidade de múltiplos constitucionalismos, a com isso revelar que uma concepção de índole subjetiva é capaz de condicionar o trato do objeto de estudo de um dos ramos das ciências jurídica, como é o Direito Constitucional. Consciente dessa circunstância, Canotilho expôs que “a teoria da constituição tem de sujeitar-se ao processo de conjecturas e refutações, não sendo possível afirmar-se, aprioristicamente, que uma compreensão constitucional é falsa e outra é verdadeira”[11]. Trata-se de uma realidade que se impõe, pois o papel da Constituição como documento responsável pela organização formal da estrutura de uma sociedade diretamente se relaciona à crença coletiva de sua existência e autoridade, à semelhança de um dogma religioso, que não admite questionamentos. Condiz, enfim, à legitimação de um mito, mas sem que esse elemento de escolha ou criação de paradigma signifique ausência de cientificidade, como outrora ressaltado por Popper, ao recordar que
[...] a maior parte das teorias científicas tiveram sua origem em mitos. O sistema Copérnico, por exemplo, inspirou-se na adoração neoplatônica da luz solar, que precisava ocupar o “centro” do universo devido à sua nobreza. Isso mostra como os mitos podem desenvolver componentes testáveis, tornando-se, no curso da sua discussão, importantes e fecundos para a ciência[12].
Nomeadamente em relação ao constitucionalismo de matriz liberal, o juízo de valor político-dogmático sobre a origem popular do poder encontra correlação com a clássica alegoria do contrato social defendida por Rousseau, em que o Estado resultaria desse acordo estabelecido pela vontade geral, em evidente paralelo aos contemporâneos conceitos de Constituição e poder constituinte.
Embora pareça inconteste que a primeira manifestação formal do constitucionalismo reporte-se à Constituição dos Estados Unidos, de 1787, é igualmente certo que o primeiro teórico a explicitamente se valer do termo poder constituinte para defender a autodeterminação da soberania popular foi o abade Sieyès, em seu manuscrito intitulado “O que é o terceiro estado?”.
Inserido no auge no movimento iluminista, Sieyès formulou sua teoria influenciado pelo pensamento de autores da época, como Montesquieu, Locke e o próprio Rousseau. Sua inspiração, todavia, não era unicamente teórica, pois para além de observar a formalização dessas ideias de vanguarda com a ascensão da constituição americana, já percebera a experiência do sistema parlamentar ingês, instituído séculos antes, no contexto da limitação dos poderes do monarca pela Magna Carta, quiçá a primeira espécie de “contrato” redigido com esse propósito. De tal sorte, ao integrar a Assembleia dos Estados Gerais, que pouco após se converteria em Assembleia Constituinte em meio à Revolução Francesa, Sieyès abertamente defendeu a limitação do poder monárquico frente ao que seria a vontade expressa pelo maior contingente formador da nação, os membros do Terceiro Estado, que para si, abarcava a fonte de toda a riqueza[13].
Conquanto o dogma fundacional pertinente à presunção da origem popular da autoridade do Estado detenha viés mitológicos, em que o povo presumidamente acordara renunciar a parcela de sua liberdade para garantir que o livre-arbítrio de cada um fosse exercido dentro de limites de segurança para com os outros e frente ao Estado, dessa abstração inevitavelmente resultaram desdobramentos que condicionaram a então novel estrutura social nela inspirada. Uma dessas condicionanates corresponderia a um princípio comum a quaisquer estirpes de poder estadual, inclusive percebido pelos primeiros teóricos do Estado moderno à época do Absolutismo monárquico, curiosamente o próprio sistema combatido pelo Iluminismo. Trata-se da impossibilidade de o poder, em quaisquer de suas manifestações, alcançar a onipotência. Com efeito, mesmo Bodin, um dos homólogos de Sieyès no papel de pensador dos fundamentos do poder estadual, ainda que sob a ótica da defesa do direito divino dos reis, findou por discorrer sobre essa falsa impressão de ausência de limites. Conforme discorreu a propósito da autoridade dos príncipes, que expressavam um dos reflexos do poder de Deus na terra, “[...] o príncipe, que tomamos como imagem de Deus, não pode fazer um assunto igual a si mesmo sem a anulação de seu poder”[14]. Cuida-se, enfim, da regra primordial sobre o exercício da soberania, que jamais estaria autorizada a agir contra sua fonte, sob pena de inaugurar uma crise de legitimidade ao assumir postura autofágica. Por certo, enquanto Deus não pode negar sua existência, pois tudo Dele deriva e depende, também a Constituição não poderia combater a sua fonte, o poder constituinte.
Essa lógica limitadora inspirada em concepções de ordem teocêntrica não era desprovida de sentido. Sieyès, um abade por formação, desenvolveu sua novel teoria secular com o propósito de substituir os dogmas sagrados que regiam a vida em sociedade. Deste modo, à semelhança da ordem sobreposta, no exercício de suas funções, a nova também não poderia atuar contra o fundamento de sua autoridade, os signatários do “contrato” em que se fundamenta. A teoria das inconstitucionalidades deriva desse silogismo, na medida em que aceitar a instituição de regras às margens do texto constitucional significaria atentar contra o que restou convencionado no pacto fundacional, a lhe negar a autoridade. Não por acaso, há, ao menos, três premissas básicas imprescindíveis para o desenvolvimento dessa relação de mútua-dependência entre criador e criatura, povo e Estado. Trata-se, justamente, dos termos essenciais desse acordo, os quais devem ser permanentemente respeitados pelas partes contratantes, não obstante convencionadas de maneira expressa ou, como usualmente prevalece sob o prisma geracional, de forma tácita.
A primeira delas, como amplamente reconhecido pela doutrina contemporânea, remete à circunstância de que, na hipótese de formalização de um contrato social sob o corpo de uma Constituição, seja escrita ou não, nela necessariamente deva constar o reconhecimento de direitos considerados intrínsecos à condição humana, que sob a roupagem de valores éticos-sociais em um momento pré-jurídico, já estariam presumidamente inseridos na percepção de existência de cada um como indivíduo, como parte do “ser”.
A segunda, por sua vez, diretamente advém do dever de amparo a esses mesmos direitos fundamentais, mormente frente à passagem do tempo. Ela porta um caráter instrumental de salvaguarda a esses valores-éticos socias irrenunciáveis ao indivíduos que se converteram em bens jurídicos com a normatização, especialmente sob a perspectiva das gerações futuras e das necessidades que se lhes apresentem contemporâneas. Vincula-se, pois, à impossibilidade de o constitucionalismo, segundo seu viés contratualista, esquivar-se de assumir uma postura de representatividade democrática, cuja origem convencional exige o contínuo aceite de suas cláusulas por novos signatários, que pela passagem do tempo, não participaram da celebração original e, portanto, devem renová-lo. Canotilho classificou esse dilema como o paradoxo da democracia, o que fez ao retoricamente indagar “[...] como “pode” um poder estabelecer limites às gerações futuras? Como pode uma constituição colocar-nos perante um dilema contramaioritário ao dificultar deliberadamente a “vontade das gerações futuras” na mudança das suas leis?”[15]. De fato, a adesão ao contrato social não pode ser dissociada da contínua ratificação da manifestação de consenso que a suporta.
Por fim, ainda sob a ótica da adoção de uma lógica auto-referencial, a terceira premissa indissociável ao constitucionalismo consiste na adoção de um regime de divisão de poderes para o exercício da autoridade soberana, pois como ressaltado, o intuito desse movimento era desconstituir a ordem absolutista, inerentemente centralizadora do exercício do poder. O governo, para atuar em benefício da vontade dos indivíduos, deve ser exercido de forma descentralizada, com a tripartição de suas funções em executiva, legislativa e jurisdicional.
Essas são as três premissas essenciais ao constitucionalismo, que ao se vincularem à alegoria de um contrato social, afirmam o primado da regência do Estado pelo Direito, ou a conhecida diretriz do rule of law.
4 O aspecto mutacional do poder constituinte
A potencialidade de múltiplos constitucionalismos explicitada no tópico anterior não se restringe ao núcleo das Constituições. Ela também se revela dentro de um mesmo movimento constitucional, que é sujeito a sofrer variações de acordo com o respectivo lugar e tempo históricos, pois como ressalta Canotilho,
O movimento constitucional gerador da constituição em sentido moderno tem várias raízes localizadas em horizontes temporais diacrónicos e em espaços históricos geográficos e culturais diferenciados. Em termos rigorosos, não há um constitucionalismo mas vários constitucionalismos (o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo americano, o constitucionalismo francês). Será preferível dizer que existem diversos movimentos constitucionais com corações nacionais mas também com alguns momentos de aproximação entre si, fornecendo uma complexa tessitura histórico-cultural. E dizemos ser mais rigoroso falar de vários movimentos constitucionais do que de vários constitucionalismos porque isso permite recortar desde já uma noção básica de constitucionalismo[16].
Com efeito, mesmo ao se adotar uma específica vertente do constitucionalismo, aquele que remonta ao início da Idade Contemporânea e era “[...] dirigido contra a “forma monárquica” ou “poder constituído pela monarquia”[17], em que, segundo Gouveia, vingou-se “[...] o individualismo enquanto doutrina de afirmação do homem e do cidadão em si mesmo, e não no seu valor grupal ou estratificado, e o indivíduo como centro da ação política, separado, autônomo e livre do Estado”[18], o respeito a esse primado admite fórmulas distintas, desde que preservadas as premissas básicas de seu núcleo, aquelas referidas no tópico anterior. Como sabido, variações na forma do Estado, se unitário ou federativo, ou na forma de governo, se presidencialista ou parlamentar, não descaracterizam os postulados fundamentais do constitucionalismo pertinentes à origem popular do poder de autoridade do Estado, seu correlato exercício por representação democrática mediante uma fórmula tripartite de competências e o dever de respeito a direitos fundamentais. Sequer o reconhecimento de uma religião oficial é suficiente para descaracterizar a harmonia com os preceitos constitucionalistas, desde que reste assegurada a liberdade de culto e combatida a perseguição religiosa. Estados confessionais como o Reino Unido e a Islândia são exemplos.
Essa ocorrência de variações, que se analisada com pormenor, advém do próprio exercício do livre-arbítrio garantido pelos primados essenciais do constitucionalismo relativos ao respeito a direitos fundamentais, revela a existência de posições divergentes, que ao interagir em diálogo democrático delimitado conforme o Direito, eventualmente atingem o consenso após recíprocas renúncias de interesses subjetivos. Compreender essa dinâmica, por outro lado, também revela a presença de forças antagônicas, que à semelhança do caminho de afirmação do poder constituinte como fundamento da autoridade estadual, empregam esforços para removê-lo dessa posição. Com efeito, o poder constituinte, apesar de exclusivo em sua papel, não é único enquanto força que emana e repercute no comportamento da sociedade. Ele somente ocupará essa posição enquanto não for sobrepujado por uma força análoga, pois como aponta Canotilho sobre essa espécie de poder, “[...] antes de ser constituinte é desconstituinte [...]”[19], como assim foi em relação aos sistemas teocêntricos de raízes medievais em que os Estados se sustentavam na Idade Moderna. Não por acaso, a Constituição é tida como o estatuto jurídico representativo da autoridade máxima do Estado, na medida em que corresponde à força política que, em dado momento, tornou-se capaz de se auto-determinar soberanamente perante a ordem internacional. Parece evidente, portanto, que ao exercer esse papel de autoridade sobre dada circunscrição territorial, permanecerá único em seus atributos, a assim revelar que a unicidade da soberania, em verdade, traduz-se na unicidade da Constituição.
Essa perspectiva de ocorrência de uma dinâmica de forças concorrentes pela titularidade do poder de soberania foi descrita por Ihering em sua obra “A Luta pelo Direito”. Influenciado pela então recentemente divulgada teoria da evolução das espécies, de Darwin, bem como por sua própria experiência de observador do processo de unificação da Alemanha, formalizado em 1871, além de seu conhecimento histórico acerca dos movimentos revolucionários que se desenvolvaram nos Estados Unidos e na França, Ihering asseverou que
Todos os direitos da humanidade foram conquistados pela luta; seus princípios mais importantes tiveram de enfrentar os ataques daqueles a que eles se opunham; todo e qualquer direito, seja o direito de um povo, seja o direito do indivíduo, só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta[20].
Como se percebe, Ihering não ignorava que a ascensão de direitos decorria de um processo dinâmico permeado pela interação de múltiplas forças, a passar pela reivindicação, resistência e manutenção, a sugerir que a concepção de Estado detentora de maiores chances de prevalecer nem sempre corresponderia à que se apresentasse mais forte, mas sim àquela que apresentasse melhor aptidão para difundir e adaptar sua mensagem. Essa ótica de ambiências imersas em incessantes disputas entre concepções políticas indica que mesmo um regime constitucional solidamente instalado deveria continuar a combater as forças contrárias a sua atuação, de modo a tentar inibir momentos de tensão ou crise sistêmica, que se porventura desencadeados, poderiam se transformar em um stress potencialmente revolucionário, capaz de desconstituir a ordem vigente ao lhe reivindicar o papel. Teubner, como referência a Krisch, chama-os de “pouvour irritant”, cuja força de protesto ou resistência pode vir a se tornar “destituinte”[21].
Historicamente, contudo, o constitucionalismo parece apresentar a capacidade adaptativa que os sistemas políticos anteriores não dispunham. Decerto, se até o estabelecimento das primeiras constituições toda autoridade política era unicamente baseada na pressuposta vontade de uma ou mais entidades imateriais, fossem elas abstraídas da ordem natural ou da crença em divindades, conforme assim sucedia nas antigas cidade-estados da Grécia, no Império Romano, ou mesmo as posteriores roupagens teocentristas da Idade Média, incluída a adoção da Teoria das Duas Espadas de Santo Agostinho, que na Idade Moderna, viria a justificar o Absolutismo monárquico com o aceite da dualidade entre o poder da Igreja e o poder temporal do monarca decorrente de seu direito divino para a governar, com o advento do constitucionalismo, talvez pela primeira vez na história política do ocidente, tenha-se abandonado um dogma metafísico de cunho determinista para se conduzir conforme a racionalidade, em que a autoridade de governo, como fonte e destino, finalmente restou conferida aos seres humanos, propriamente.
Essa alteração de paradigma dogmático conferiu ao constitucionalismo a inédita capacidade de realizar releituras com menor risco de romper a regra fundamental de que o poder não pode agir contra sua fonte. De fato, ao contrário dos modelos teocêntricos para o exercício da autoridade, cuja rigidez dogmática não deixava alternativa senão reprimir as ideologias adversas ao invés de lhes oferecer concessões, sobretudo de natureza ontológica, o constitucionalismo de matriz liberal, ao contrário desses sistemas titularizados por entidades superiores que eram intangíveis em função de sua imaterialidade, como Deus, demonstrou uma habilidade única de adaptação à diversidade. Consoante exemplifica Harari, os modelos liberais, do qual o constitucionalismo faz parte, ao eventualmente se perceberem confrontados por forças que exigiam a reforma para efetivar aspirações como o exercício do livre-arbítrio e a busca da felicidade, “adotou várias ideias e instituições de seus rivais socialistas e facistas, particularmente o comprometimento de prover o público geral com educação, saúde e serviços sociais”[22].
Essa habilidade de auto-preservação, que era baseada no primado da representatividade democrática, permitia o estabelecimento de mecanismos capazes de propiciar o diálogo geracional entre governantes e governados, a com isso viabilizar a interação persuasiva com a autoridade constituída, em fórmula suficiente para previnir a instauração de uma crise de legitimidade, o aludido paradoxo da democracia explicitado por Canotilho.
Tal dinâmica é claramente perceptível ao se tratar dos direitos fundamentais em si. Ao longo da Idade Contemporânea, em curto período de tempo, foram consagradas ao menos três grandes eras de direitos fundamentais. Usualmente classificadas como de primeira, segunda e terceira gerações, não obstante parte da doutrina prefira a nomenclatura dimensões a fim de evitar quaisquer ideias de sopreposição ou retrocesso, essas eras, como sabido, expressam bens jurídicos preponderantemente voltados à liberdade, à igualdade e à democracia. O que importa perceber, contudo, é que a progressiva inserção de novos direitos nos textos constitucionais não provocou alterações no que seria o “núcleo duro” da teoria dos direitos fundamentais e sua relação com o movimento constitucionalista. Decorreram, pois, de pressões que lhe moldaram o significado às necessidades de cada época, sobretudo como reação à ascensão do comunismo e do facismo, ideologias antagônicas.
No que se reporta ao poder constituinte, em específico, a gradativa incorporação desses novos discursos mais exigentes pelo Estado acarretou alterações quanto à concepção da legitimidade para o exercício da autoridade, a com isso também lhes modificar os limites de atuação. Foram eventos que, em síntese, não apenas afetaram sua compreensão, mas também sua essência, a evidenciar a indicada proximidade da teoria de Darwin que inspirou a obra de Ihering no que condiz à capacidade evolutiva do constitucionalismo para se adaptar e resistir às pressões que recaíam sobre si.
Esse atributo adaptativo era inclusive de viés mutacional. O conceito de povo como origem de toda a autoridade estadual é um exemplo. Embora a Constituição Americana de 1787 assim lhe fizesse referência, a Suprema Corte, no ano de 1857, no caso Dred Scott, decidiu que um escravo não poderia litigar em juízo porque não era reconhecido como cidadão. Esse posicionamento se alterou em fases, primeiro com a edição da 13ª emenda, que aboliu a escravidão, e por fim, com o êxito do movimento dos direitos civis em influenciar a mesma Suprema Corte a encerrar a doutrina de iguais mas diferentes, que legitimava a adoção de um regime de segregação.
Essa capacidade de não se desvicular da realidade em que se insere para atender às necessidades humanas antes de ser sobrepujado reforça que o constitucionalismo é, precipuamente, um juízo de valor construído com base na racionalidade, que não obstante se apresente irrenunciável a uma coletividade à semelhança de um dogma metafísico é imprescindível à manutenção do precário equilíbrio entre a liberdade para o agir individual e a segurança a ser prestada pelo exercício da autoridade, com clarividentes aspectos político e juridico.
5 O NEOCONSTITUCIONALISMO SUL-AMERICANO E SEUS ASPECTOS POLÍTICO E JURÍDICO
5.1 O Aspecto Político do Neoconstitucionalismo
À semelhança dos argumentos teóricos redigidos por Sieyès, o aspecto político do “neoconstitucionalismo” usualmente indicado pelos textos doutrinários que o investigam relaciona-se a uma específica aspiração de mudança do status quo. Diz-se específica porque traz consigo algum traço de ineditismo, sobretudo por expressar uma concepção essencialmente idealizada, embora esse elemento inovador, por si só, não seja uma singularidade distinta do ímpeto característico ao constitucionalismo desde seus primórdios, que tal como discorrido, em fins do século XVIII, combateu as histórica e solidamente estabelecidas teses autocráticas relativas ao “direito divino dos reis”.
O percurso ambicionado pelo “neoconstitucionalismo”, por evidência, em conformidade às aspirações de seu paradigma dogmático de limitação do poder do Estado pelo reconhecimento de direitos fundamentais, combate a centralização da autoridade através de regras que estabeleçam critérios de representatividade para o exercício do poder. Compartilha, pois, do objetivo de promover alguma alteração da estrutura política das sociedades em que se manifesta. Sob essa perspectiva, deve ser percebido como um conceito detentor de alguma parcialidade, quiçá de tom panfletário, a assim torná-lo profundamente subjetivo. Afinal, enquanto comunhão de desígnios que ambicionam modificar o dogma político fundador do Estado, antes de ser uma verdade científica, reflete um processo de luta nos moldes descritos por Ihering. Descortinar seu aspecto político, deste modo, inclusive a adequação do prefixo “neo” utilizado para identificá-lo, é uma tarefa que apenas poderá ser plenamente realizada após a prévia compreensão dos problemas a que se propõe enfrentar, bem como dos objetivos que almeja atingir.
Nomeadamente na América Latina, o obstáculo que motiva a afirmação desse movimento de renovação constitucional sob o epíteto de “neoconstitucionalismo” foi indicado por muitos de seus teóricos como “herança colonial”. Essa classificação reporta-se a uma espécie de legado paulatinamente formado pelas ações de domínio das antigas potências colonizadoras em diversas searas essenciais para a vida cotidiana das sociedades locais, que a despeito de passados cerca de dois séculos desde a deflagração dos respectivos processos de independência, continuaram a ser organicamente reproduzidas por todos os Estados do continente nos âmbitos da cultura, religião, economia, política e Direito.
Como legado colonial, pode-se citar a impositiva incorporação de línguas européias para o trato de assuntos oficiais, com notória predominância do espanhol e português, ou mesmo a massiva difusão do cristianismo em detrimento de expressões de fé tradicionais aos povos originários no papel de diretriz espiritual. De todas as interferências, todavia, a mais grave indubitavelmente relaciona-se à duradoura adoção do modo de produção escravista para a exploração da terra, que a despeito de ser uma patente contradição aos fundamentos teóricos do movimento constitucionalista de matriz liberal, provocou uma profunda fratura estrutural na organização socioeconômica do continente.
Com efeito, após uma breve tentativa de se recorrer à submissão dos integrantes dos povos originários para formar um corpo de mão de obra forçada capaz de suportar as severas condições impostas para atender os objetivos de exploração de recursos naturais ambicionados pelas potências coloniais, esses esforços foram desviados para o leste do Atlântico. Por cerca de quatro séculos, entre os anos de 1500 e 1900, milhões de africanos foram coercitiva e indiscriminadamente separados de suas famílias, culturas e etnias para trabalhar como escravos nas Américas. A imposição desse violento processo de diáspora deixou marcas indeléveis na composição das diversas sociedades contemporâneas do continente, sobremaneira as latinas, que em sua maioria, findaram por se estratificar em três classes distintas, duas delas claramente marginalizadas pela atribuição de estigmas sociais derivados desse modelo exploratório.
Conquanto aos povos originários, comumente identificados sob a alcunha de indígenas, foram atribuídas características comportamentais de indolência e inaptidão para o trabalho, aos afrodescentes acometeu-se um gravame maior, relacionado à negativa da própria humanidade. Esse espectro cultural teve dimensões tão massivas que, em certos momentos, foi elencado como uma suposta inferioridade espiritual, quando não evolutiva, a justificar a exclusão do conceito de povo expresso na Constituição dos Estados Unidos exposto linhas atrás, um claro intento de legitimar a restrição da liberdade pela via normativa.
A terceira e última classe, em situação mais privilegiada, foi constituída pelos descendentes dos colonizadores, que se no período colonial chegaram a ocupar uma posição inferior na hierarquia social por questões derivadas do jus soli, ou mesmo critérios de depreciação cultural e racial ligados à miscigenação, senão ambos, com a independência, perceberam-se capazes de se aproveitar desse arranjo social mais favorável para ocupar os espaços de dominação deixados pelos antigos colonizadores, que até então, detinham privilégios para titularizar alguns cargos da administração pública e, por vezes, de exercer com exclusividade certos ofícios de natureza privada.
Não obstante alguma mobilidade entre essas três classes haja se tornardo possível na era pós-colonial, mormente pela ocasional adoção de programas econômicos desenvolvimentistas e alguma expansão da classe média durante o século XX, a natureza segregadora do status quo historicamente sofreu poucas alterações. De fato, com raras exceções, a rígida divisão tripartite de seu corpo social entre descendentes dos povos originários, de africanos e dos colonizadores europeus, antes referidos sob os epítetos de indígenas, escravizados e criollos, foi mantida com relativa estabilidade.
O cenário de ebulição política do fim da era colonial, permeado por disputas de grupos regionais, também acabou por frustrar a expectativa de união política favorecida pela expressiva homogeneidade cultural, que inclusive era defendida por Simón Bolívar, um dos principais patriarcas da independência dos Estados latino-americanos. Longe de representar a síntese de um percurso civilizatório espontâneo, a quase totalidade dos Estados ignorou os sentimentos de identidade intrínsecos aos povos originários da América pré-colombiana, que a seu tempo, já era um mosaico de distintos impérios, reinos e nações. As antigas regiões administrativas instituídas pelos colonizadores foram preservadas como as fronteiras desses novos Estados, que para encontrar um fundamento político suficiente para amparar sua existência, recorreram a uma variação das teorias liberais do contrato social quanto à presumida união espontânea dos indivíduos para a formação da nacionalidade, por vezes, com referência a uma narrativa histórica ufanista e pelo reconhecimento de heróis que lideraram a luta contra a opressão estrangeira[23].
A concentração de renda, contudo, permanecia uma barreira quase intransponível para materializar os anseios de liberdade e inclusão cultivados pela maioria dos cidadãos dos Estados latino-americanos, cujos antepassados, se outrora justificaram a independência pela incorporação de primados liberais, seus descendentes logo encontraram dificuldades para promover a continuidade de instituições contrárias a esse fundamento ideológico, como foi a escravidão no Brasil ou a questão indígena em outros Estados. De fato, os séculos XIX e XX revelaram-se turbulentos, caracterizados pela proliferação de golpes militares e movimentos revolucionários, a evidenciar o problema dos fatores reais de poder e a pouca resolutividade das mazelas locais unicamente pelo esforço de instituir elos fictícios de matriz política e, por vezes, religiosa, em textos constitucionais. Como critica Leonel Júnior:
O constitucionalismo estabelecido a partir de pequenos grupos que detinham o poder político e econômico, não conseguiu cumprir com a efetivação de aspectos realmente democráticos, tampouco constituir uma estrutura organizativa do Estado satisfatória com a realidade dos países[24].
A feição política do neoconstitucionalismo, deste modo, mais propriamente vincula-se a um processo de luta voltado à refundação do contrato social que fundamenta o poder do Estado pela afirmação de pretensões e interesses étnicos, mesmo quando socialmente difusos, mormente nos países andinos, que incorporaram a ideia de plurinacionalidade a conceitos universais como o pluralismo e o multiculturalismo, ao ponto de conceder juridicidade a valores éticos-sociais que ainda buscavam afirmação. Por todas essas razões, o neoconstitucionalismo é comumente associado a um processo decolonial, ocasionalmente passível de ser identificado com dupla face, pois para além de se voltar ao enfretamento interno das instituições herdeiras de práticas comuns às antigas autoridades coloniais, igualmente atuaria contra forças externas por si denunciadas como expressão de um poder imperialista tardio, que nada menos corresponderia à difusa manifestação contemporânea da política a ser mantida com Estados estrangeiros e conglomerados econômicos, ou de acordo com Gargarella, um “novo pacto colonial”[25].
5.1.1 O aspecto jurídico do neoconstitucionalismo e a criação do insituto da plurinacionalidade
Como já é possível aferir, sobretudo em relação ao método investigativo adotado, pertinente a um estudo de Direito Comparado, a acepção jurídica do neoconstitucionalismo condiz à aquisição de juridicidade constitucional pelas pautas políticas que o identificam. Corresponde, principalmente, ao ímpeto de mudança compartilhado pela maioria das sociedades latino-americanos, que conforme ressaltado nas linhas introdutórias, em fins do século XX, buscou alternativas à falência dos regimes instalados no poder, que se no início dos anos oitenta, não eram ditatoriais em essência, desgastaram-se ao preservar algumas práticas de índole autocrática. Deste modo, à semelhança das ameaças paradigmáticas pela ascensão das ideologias comunista e facista, que findaram por impulsionar o constitucionalismo liberal a incorporar novos preceitos para garantir a manutenção de seu dogma com a adaptação necessária para enfrentar as pressões sociais que sofria, na América Latina, conforme destaca Gargarella,
[...] é resultado da pressão e mobilização dos povos indígenas, [...], especialmente com em relação com o uso da terra e a exploração dos recursos naturais. Tais demandas resultaram em conflitos, que envolveram as comunidades indígenas com os Estados em questão, e ainda com empresas nacionais e internacionais[26].
Esse processo adaptativo de conferir força normativa aos anseios por maior expressão democrática pelo aperfeiçoamento do caráter identitário de coletividades, a com isso aproximar a ação do Estado aos anseios de sua população, findou por se desenvolver em três fases distintas.
A primeira delas relaciona-se à reaproximação dos preceitos de matriz liberal invocados à época dos movimentos de independência colonial, mas já com a assimilação dos preceitos consagrados pela subsequente dinâmica evolutiva dos direitos fundamentais, esses concernentes à social-democracia europeia e suas variações do pós-guerra. Sob esse aspecto, em um primeiro momento houve a reafirmação contemporânea do pluralismo político, que tal como resumido por Silva, a citar André Hauriou, corresponde à “[...] liberdade de reunião onde as opiniões não ortodoxas podem ser publicamente sustentadas”[27]. Trata-se do exercício do livre-arbítrio, em que se permite a cada membro da sociedade a liberdade de associação em organizações civis ou partidárias, a impelir o Estado a adotar uma postura negativa, que tanto pode ser materializada pela ausência de interferência quando as ações individuais não afrontarem os termos pactuados na alegoria do contrato social, ou mesmo de forma garantista, a agir ativamente para impedir condutas de terceiros contrárias ao exercício dessas liberdades. Nesta primeira fase, inserem-se as Constituições do Chile (1980), Hoduras (1982), Nicarágua (1987), Brasil (1988) e Argentina (1994), cujos textos constitucionais mencionam o pluralismo expressamente. Esse princípio ainda é previsto na Constituição de outros Estados que não participaram diretamente desse fenômeno renovatório, posto que de vigência anterior, a citar a Costa Rica (1949), Panamá (1972) e Uruguai (1967) e o Chile (1980), que o incorporam via reforma, além da Constituição da República Dominicana, que embora date de 2015, não aderiu às etapas posteriores, em que a multiculturalidade e a plurinacionalidade passaram a ser primados comuns aos demais textos constitucionais.
Em um segundo momento, especificamente a partir da década de noventa, do século XX, o multiculturalismo passa a ser admitido de forma expressa pelas Constituições vigentes, sendo mencionado pela primeira vez na Constituição da Colômbia, de 1991, seguido pelas Constituições do Paraguai (1992) e Peru (1993). Apesar de alguma semelhança ao que viria a ser compreendido como a plurinacionalidade, nomeadamente no que se reporta ao reconhecimento do direito de autoafirmação identitária a coletividades nacionais, a multiculturalidade, como assim é usualmente tratada pelos textos constitucionais, exige do Estado uma postura semelhante àquela assumida perante os direitos fundamentais de segunda geração, em que um agir positivo se fazia necessário. De fato, para além de autorizá-lo a adotar posturas materiais de proteção como a demarcação de terras e outras salvaguardas, a multiculturalidade associa-se ao reconhecimento da autonomia legislativa de cada povo originário, que poderá editar normas jurídicas com igual hierarquia àquelas formalmente derivadas dos trabalhos parlamentares de cunho nacional, cujos comandos devem ser reconhecidos e aplicados por todos os órgãos administrativos e judiciais do Estado, desde que pertinentes às relações jurídicas desses povos.
Em meio a esse fluxo, não tardaria para que a multiculturalidade assumisse dimensão ainda maior, a então deixar de ser um valor tutelado pelo Estado para, enfim, ser definitivamente incorporado em sua própria essência. Isso ocorreu com o advento da Constituição Venezuelana de 1999, que para além de reconhecer a multiculturalidade pelo exercício da jurisdição indígena nos termos de seu art. 260, em seu art. 186, determinou a presença obrigatória de três representantes indígenas na Assembleia Nacional, a serem eleitos via sufrágio. Pouco menos de uma década após, a nova Constituição do Equador, de 2008, apesar de não prever a obrigatoriedade da presença de representantes dos povos originários em seu parlamento, foi a primeira a explicitamente mencionar o instituto da plurinacionalidade. Seu art. 1, observada a interpretação autêntica conferida pelo posterior art. 4, não somente exigia a preservação da identidade dos povos indígenas como nações, mas, sobretudo, o respeito ao respectivo direito de autodeterminação cultural e de emanações normativas consuetudinárias, cujos preceitos galgariam força de lei em relação a seus específicos assuntos. Todavia, foi a Constituição da Bolívia, de 2009, a primeira a declarar um Estado como Plurinacional, o que se traduziu, segundo os termos de seu art. 2, no reconhecimento de trinta e seis nações em seu território, todas capazes de emanar e aplicar seus próprios preceitos de direito consuetudinário, que também serão de observância obrigatória pelos órgãos legislativos e judiciais desse novel Estado Plurinacional, que são a Assembleia Legislativa Plurinacional (art. 146, IV) e o Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 197). Estes dois últimos órgãos, ademais, igual e permanentemente, deverão contar com integrantes dos povos originários, a consolidar a ideia de que a fonte da autoridade do poder do Estado deve se fazer presente em seu exercício.
Destaca-se, por último, a Constituição do México, de 1917, que após reforma em seu art. 2, no ano de 2001, declarou o Estado mexicano “pluricultural”, um conceito similar à multiculturalidade. Com efeito, o art. 2, em seus incisos, prevê a reserva de vagas para a eleição de representantes às câmaras dos municípios em que estejam assentados, não obstante essa garantia de participação para o exercício do governo regional não se reproduza para as cenas estaduais e nacional da federação.
Deve-se ressaltar, contudo, que apesar do intuito inclusivo, não houve renúncia aos primados fundamentais do constitucionalismo clássico. Os Estados latino-americanos continuam a serem regidos por textos constitucionais que preservam as matrizes liberais inspiradas pelo movimento constitucionalista iniciado em fins do século XVIII, à época do Ilumismo, salvo Cuba, que se distancia desse modelo pela adoção de um sistema socialista, cuja principal característica é o não reconhecimento do direito de propriedade privada. Mesmo a Constituição Venezuelana, outra potencial ressalva, sobremaneira em razão de seu art. 1º condicionar o exercício dos valores fundamentais da República aos preceitos da doutrina concebida por Simón Bolívar, o Libertador, em manisfeto político de que se vale para se aautointitularuma república bolivariana (art. 1º), não renuncia a esse primado. Afinal, a despeito de essa orientação acarretar alguma restrição às ideias liberais, os principais elementos relativos às aspirações constitucionalistas primevas permanecem albergadas em seu texto, a exemplo do reconhecimento de uma origem popular do poder soberano e de seu correspondente exercício por diferentes funções, primados que, por sua vez, são condicionados ao respeito a direitos consagrados como fundamentais em benefício dos indivíduos, dentre eles a propriedade, ao contrário do que ocorre no texto cubano. Daí resulta a afirmação de Gargarella, para quem:
O que estas novas constituições fizeram foi, em suma, um esforço importante para incorporar demandas e integrar grupos sociais, até então basicamente postergados pelo constitucionalismo: desde os grupos indígenas aos grupos de consumidores, desde as demandas de gênero às demandas multiculturais. Não obstante, as novas Constituições permaneceram, em um aspecto importante, idênticas ao que já eram. Elas continuaram afirmando sua vocação democrática e inclusiva na seção relativa aos direitos, e sua vocação hierárquica e verticalizada no trato da organização do poder. Em resumo, já iniciado o século XXI pode afirmar-se que, depois de duzentos anos de história constitucional, o legado liberal-conservador do século XIX resultou modificado de um modo relevante, ao tempo que resultou preservado, também, de um modo relevante[28].
Mesmo autores que defendem a sobreposição do constitucionalismo clássico pelo movimento de renovação constitucional latino-americano identificado como “neoconstitucionalismo”, a mais uma vez recordar Leonel Júnior, reconhecem que, sob esse contexto, constituições cujos textos incorporaram institutos de vanguarda, tal como a boliviana, em verdade espelham a natureza de “[...] uma Constituição que transita entre o Estado Unitário, republicano assentado no neoliberalismo a um Estado Plurinacional”[29].
6 Considerações Finais
Do que se depreende da exposição, apesar da inserção de um instituto inovador identificado sob o signo de “plurinacionalidade”, o chamado “neoconstitucionalismo” latino-americano não renunciou aos elementos fundamentais intrínsecos ao movimento constitucionalista iniciado em fins do século XVIII. Esse epíteto, com efeito, mais se adequa à delimitação de um período evolutivo, em que, para além de se presevar a matriz de origem liberal e suas posteriores adequações impulsionadas pelo advento de novas eras de direitos fundamentais pertinentes ao bem estar social e ao exercício da democracia, reconheceu-se o status plurinacional a sociedades com história multicultural. Sob tal ótica, longe de se afastar da alegoria dogmática do contrato social, cuja lógica foi bem resumida por Lincoln em seu discurso de Gettysburg ao expressar a fórmula de um “Governo do povo, pelo povo e para o povo”, o instituto da plurinacionalidade exige que a fonte do poder do Estado sempre esteja representada no exercício de sua autoridade. Corresponde, em suma, à efetiva integração de membros dos povos originários com a perpetuação de sua representatividade nos órgãos de soberania, mormente o Legislativo e o Judiciário, assim como autonomia de governança para emanar e aplicar os próprios comandos normativos em assuntos afeitos a suas culturas.
Do ponto de vista da ontologia, o advento da plurinacionalidade abre caminho para ressignificar a essência do poder de autoridade do Estado, a revelar que o poder constituinte, se antes era usual e formalmente declarado pelos textos constitucionais como baseado na unicidade das figuras abstratas do povo ou da nação – o Terceiro Estado de Sieyès –, passou a ter origens múltiplas, em coletividades. Cuida, enfim, da formalização de um conceito pluralidade aberta, nos moldes defendidos por Häberle[30], na medida em que admite a potencial expansão das fontes do poder mediante a integração de novos grupos identitários que eventualmente se estabeleçam na dinâmica social, uma realidade comum a Estados de passado colonial[31] que eventualmente afirmaram suas soberanias perante a ordem internacional.
Indica, deste modo, o reconhecimento formal de que o poder constituinte, ao sustentar a soberania estadual, é passível de sofrer mutações, de modo que não mais seria estático tal como se manifestara no instante fundacional do Estado[32]. A constatação dessa aptidão, ademais, confere caráter científico à análise de um fenômeno contemporâneo, mas que de algum modo sempre esteve presente ao longo da história política da humanidade, de modo que o prefixo “neo”, utilizado para identificar a renovação constitucional em curso na América Latina, em verdade, não expressa uma sobreposição política, mas a manifestação da própria lógica constitucionalista, que desde sua concepção sobre preceitos liberais, intenta construir uma ética limitadora para o exercício do poder do Estado que melhor reflita a crença da origem espontânea do poder popular da soberania.
É imperioso ressaltar, por último, que a conclusão a que se chega não invalida o estudo de fenômenos como o transconstitucionalismo, em que atores à parte dos organismos oficiais de Governo influenciam a criação, interpretação e aplicação da norma constitucional, como exposto por Cruz[33] e aqui tratado como poderes potencialmente desconstituintes, ou mesmo da questão das interconstitucionalidades abordada por Canotilho[34], em que textos constitucionais de ordens soberanas diversas refletem limites uns para os outros. Ademais, é a outras ciências, como a antropologia e a sociologia, a que compete a tarefa de reconhecer identidade a uma coletividade que almeje a inserção normativa sob o status de compor uma plurinacionalidade.
7 Referências
ABBOUD, Georges [et al.]. Quod Omnes Tangit (O que respeita a Todos): Constituições Transnacionais sem Democracia?. In: Constitucionalismo Global. São Paulo: Ed. Contra Corrente, 2022.
BOBBIO, Noberto, O Positivismo Jurídico, Trad. de Márcio Pugliese, São Paulo, Ed. Ícone, 1999.
BODIN, Jean, On Sovereignty, 14. ed., Trad. de Julian H. Franklin, New York, Cambridge University Press, 2004.
BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, São Paulo, Ed. Malheiros, 2002.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed. (8.ª reimpressão), Coimbra, Ed. Almedina, 2003.
______. “Brancosos” e Interconstitucionalidade. Itinerários dos Discursos sobre a Historicidade Constitucional, 2. ed., Coimbra, Ed. Almedina, 2012.
______. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra, Coimbra Editora, 1994.
CRUZ, Paulo Márcio, “Política, Poder, Ideologia & Estado Contemporâneo”, 3. ed., Curitiba, Ed. Juruá, 2002.
GARGARELLA, Roberto, La Sala de Máquinas de la Constitución, 1. reimp., Buenos Aires, Ed. Conocimiento, 2015.
GOUVEIA, Jorge Bacelar, Manual de Direito Constitucional, 6. ed. rev. at. Coimbra, Ed. Almedina, 2016.
HÄBERLE, Peter, Pluralism y Constitución. Estudios de Teoria Constitucional de la Sociedad Abierta, Trad. de Emilio Mikunda-Franco, Madrid, Editorial Tecnos, 2013.
HARARI, Yuval Noah, Hoomo Deus. Uma breve história do amanhã, 8. reimp, São Paulo, Companhia das Letras, 2017.
HOBBES, Thomas, Leviatã, Trad. de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva, São Paulo, Ed. Nova Cultural, 2000.
IHERING, Rudolf von, A Luta pelo Direito, Trad. de Pietro Nassetti, São Paulo, Ed. Martin Claret, 2001.
KELSEN, Hans, Teoria Geral do Direito e do Estado, 5. ed, Trad. de Luís Carlos Borges, São Paulo, Ed. Martins Fontes, 2016.
LASSALLE, Ferdinand, O Que é uma Constituição?, 3. ed., Trad. de Ricardo Rodrigues Gama, Campinas, Russell Editores, 2009.
LEONEL JÚNIOR, Gladstone, O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, 3. ed., Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2023.
LOCKE, John, Dois Tratados sobre o Governo Civil, Trad. de Julio Fischer, São Paulo, Martins Fontes, 1998.
LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, Editorial Ariel, 2018.
OJEDA, Magdiel Gonzales, Derecho Constitucional General, Lima, Ed. Universitaria, 2013.
POPPER, Karl R., Conjecturas e Refutações, 3. ed., Trad. de Sérgio Bath, Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 1981.
ROUSSEAU, Jean-Jacques, O Contrato Social, São Paulo, Ed. Martins Fontes, 2001.
SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, Trad. de Francisco Ayala, Madrid, Alianza Editorial, 2015.
SIEYÈS, Emmanuel Joseph, O que é o Terceiro Estado? 6. ed., Trad. de Norma Azevedo, Rio de Janeiro, Freitas Bastos Editora, 2014.
SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 20. ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2002.
VICENTE, Dário Moura, Direito Comparado, Vol I, 4. ed., rev. Edição Brasileira, São Paulo, Ed. Almedina Brasil, 2018.
WILLIAMSON, Edwin, História da América Latina, Trad. de Patrícia Xavier, Coimbra, Ed. Almedina, 2016.
[1] André Ribeiro Leite é Doutor em Ciências Jurídicas Gerais pela Escola de Direito da Universidade do Minho, situada Campus de Gualtar 4710-057, Braga, Portugal, com endereço de e-mail andreribeiroleite@yahoo.com.br. https://orcid.org/0000-0001-8606-8943.
[2] Inicialmente, a expressiva maioria de 78,28% dos votantes, manifestou-se favoravelmente à instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte ao considerar necessário substituir a atual Constituição. Entretanto, 62% dos votantes do posterior plebiscito ratificador, realizado em 04 de setembro de 2022, foram contrários à proposta de renovação constitucional que lhes foi submetida. Ainda em dezembro daquele mesmo ano, o Parlamento chileno autorizou a instalação de um Conselho Constitucional munido de funções análogas à fracassada Assembleia. Desta feita, o projeto foi submetido à votação para fins de ratificação em 17 de Dezembro de 2023 e, como o anterior, foi rejeitado, desta vez por 55,76% dos votantes.
[3] A partir da década de oitenta, do século passado, à exceção do México, Costa Rica, Uruguai e Panamá, cujas constituições foram estabelecidas, respectivamente, nos anos de 1917, 1949, 1967 e 1972, assim como dos Estados que se organizaram conforme o modelo sistêmico do Common Law, a mencionar o Belize, na América Central, e os Estados caribenhos de Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Jamaica, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas e Trindade e Tobago, sem exclusão da Guiana e de Santa Lúcia, que adotam sistema misto, afere-se que a quase totalidade dos Estado americanos promulgaram novos textos constitucionais. O mais antigo inserido nesse movimento renovador curiosamente permanece o chileno, vigente desde 1980, que não obstante concebido sob a regência do regime ditatorial conduzido por Augusto Pinochet, sofreu diversas reformas para adquirir viés democrático. À Constituição chilena, seguiram-se as Constituições de Honduras (1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985, com expressiva reforma em 1993), Haiti (1987), Nicarágua (1987), Brasil (1988), Colômbia (1991), Paraguai (1992), Peru (1993), Argentina (1994), Venezuela (1999), Equador (2008), Bolívia (2009) e, por fim, República Dominicana (2015).
[4] Dentre os defensores da ideia de sobreposição, cita-se Leonel Júnior, para quem, “diante do contexto político, de surgimento do Novo Constitucionalismo Latino-Americano, é possível estabelecer características comuns aos processos constitucionais de determinados países, puxado por uma proposta de superação do constitucionalismo clássico em aspectos que essa não teria avançado” (LEONEL JÚNIOR, 2023, p. 79).
[5] LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, Editorial Ariel, 2018, pp. 23.
[6] LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Trad. de Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona, Editorial Ariel, 2018, pp. 23.
[7] O ápice dessa dinâmica, que em sentido amplo, representava a codificação do conhecimento, talvez haja sido atingido com as obras de Auguste Comte e Stuart Mill.
[8] BOBBIO, Noberto, O Positivismo Jurídico, Trad. de Márcio Pugliese, São Paulo, Ed. Ícone, 1999, pp. 135/136.
[9] POPPER, Karl R., Conjecturas e Refutações, 3.ª ed., Trad. de Sérgio Bath, Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 1981, pp. 287.
[10] VICENTE, Dário Moura, Direito Comparado, Vol I, 4.ª ed., rev. Edição Brasileira, São Paulo, Ed. Almedina Brasil, 2018, pp. 28.
[11] CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra, Coimbra Editora, 1994, pp. 165.
[12] POPPER, Karl R., Conjecturas e Refutações, 3.ª ed., Trad. de Sérgio Bath, Brasília, Ed. Universidade de Brasília, 1981, pp. 285.
[13] Consultar SIEYÈS, Emmanuel Joseph, O que é o Terceiro Estado?, 6.ª ed., Trad. de Norma Azevedo, Rio de Janeiro, Freitas Bastos Editora, 2014, pp. 03.
[14] BODIN, Jean, On Sovereignty, 14.ª ed., Trad. de Julian H. Franklin, New York, Cambridge University Press, 2004 , pp. 50.
[15] CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., 8.ª reimp., Coimbra, Ed. Almedina, 2003, pp. 74.
[16] Ibid, pp. 51.
[17] Ibid, pp. 73.
[18] GOUVEIA, Jorge Bacelar, Manual de Direito Constitucional, 6.ª ed. rev. at. Coimbra, Ed. Almedina, 2016, pp. 236.
[19] CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., 8.ª reimp., Coimbra, Ed. Almedina, 2003, pp. 73.
[20] IHERING, Rudolf von, A Luta pelo Direito, Trad. de Pietro Nassetti, São Paulo, Ed. Martin Claret, 2001, pp. 27.
[21] ABBOUD, Georges [et al.]. Quod Omnes Tangit (O que respeita a Todos): Constituições Transnacionais sem Democracia?. In: Constitucionalismo Global. São Paulo: Ed. Contra Corrente, 2022, pp. 84-85.
[22] HARARI, Yuval Noah, Hoomo Deus. Uma breve história do amanhã, 8.ª reimp, São Paulo, Companhia das Letras, 2017, pp. 272.
[23] Sobre o tema, consultar WILLIAMSON, Edwin, História da América Latina, Trad. de Patrícia Xavier, Coimbra, Ed. Almedina, 2016, pp. 252/253.
[24] LEONEL JÚNIOR, Gladstone, O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, 3.ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2023, pp. 78.
[25] GARGARELLA, Roberto, La Sala de Máquinas de la Constitución, 1.ª reimp., Buenos Aires, Ed. Conocimiento, 2015, pp. 163 [tradução nossa].
[26] Id. ibid, pp. 329 [tradução nossa].
[27] SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 20.ª ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2002, pp. 143.
[28] GARGARELLA, Roberto, La Sala de Máquinas de la Constitución, 1.ª reimp., Buenos Aires, Ed. Conocimiento, 2015, pp. 354 [tradução nossa].
[29] LEONEL JÚNIOR, Gladstone, O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, 3.ª ed., Rio de Janeiro, Ed. Lumen Juris, 2023, pp. 193.
[30] A plurinacionalidade reflete, de certa forma, a teoria constitucional da cidade aberta defendida por Häberle, para quem “[...] a partir da plataforma oferecida pela Constituição pluralista, só é apropriado falar do Estado de direito na medida em que ele fornece proteção adequada às minorias. Tal proteção começa com a realização de certos objetivos educacionais, como a "tolerância" e o respeito pela "dignidade do outro", concluindo-se com o estabelecimento de instituições como o "Ombusman das minorias" na "República Aberta" (HÄBERLE, 2014, p. 123, tradução nossa).
[31] A plurinacionalidade já encontra correlação na África, em que a ideia latino-americana de “povos originário” é tratada como “povos tradicionais”. Essa é a referência da Constituição de Angola, de 2010, ao tratar do poder tradicional em seu art. 223.º, 1 e 2, ou com menor amplitude, pela Constituição de Moçambique, em seu art. 118.º, que atribui caráter mais protetivo ao firmar que “O Estado reconhece e valoriza a autoridade tradicional legitimada pelas populações e segundo o direito consuetudinário”.
[32] Sobre o assunto, Ojeda afirma que o poder constituinte é um “[...] poder fundacional, cujo titular desse poder é o povo e se exerce através de representantes no marco de princípios determinados pela nação e que constituem o fundamento do Estado e todo o Poder Constituído”. (OJEDA, 2013, p. 174-175, tradução nossa).
[33] Consultar CRUZ, Paulo Márcio, “Política, Poder, Ideologia & Estado Contemporâneo”, 3.ª ed., Curitiba, Ed. Juruá, 2002.
[34] Consultar CANOTILHO, José Joaquim Gomes, “Brancosos” e Interconstitucionalidade. Itinerários dos Discursos sobre a Historicidade Constitucional, 2.ª ed., Coimbra, Ed. Almedina, 2012, pp. 266.